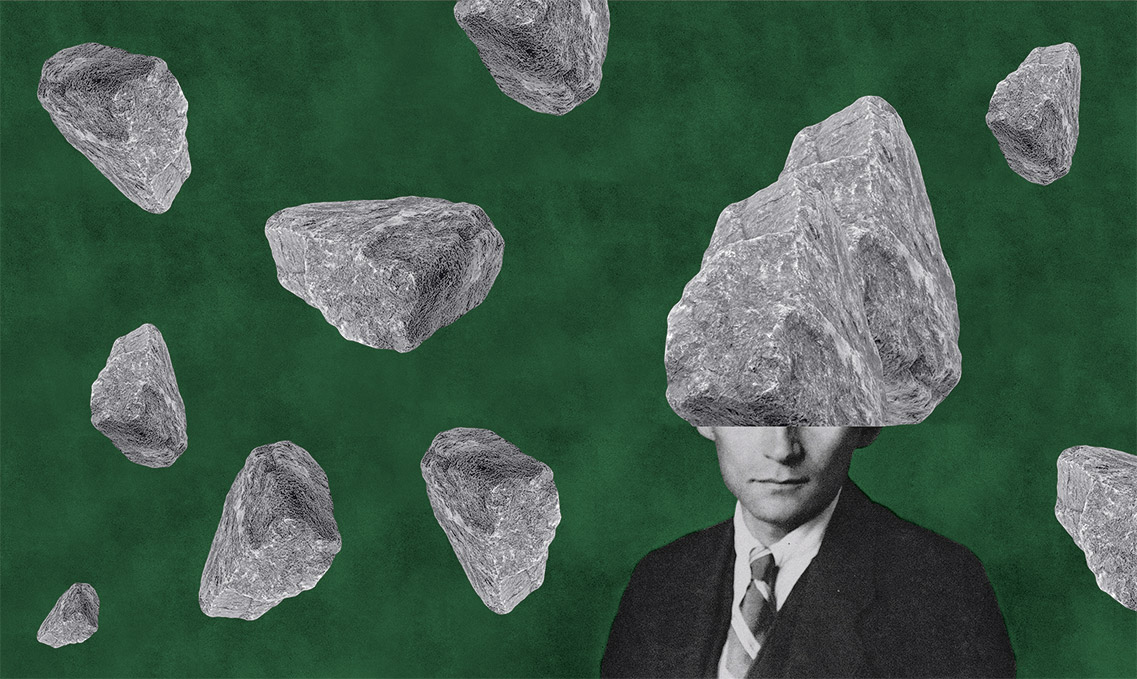
A busca por entender a condição humana na literatura é um caminho percorrido a passos incertos por qualquer pessoa que se aventure a ler um livro.
Imagine a cena. Você abre pela primeira vez O processo, de Kafka. Começa a ler e, nas primeiras páginas, chegam os estranhamentos — K é detido por um crime desconhecido por ele e pelos agentes da lei. O livro continua e a história segue ladeira abaixo. É um sujeito que vai sofrer as consequências de um erro jamais explicitado. Ao fechar o livro, as perguntas são inúmeras.
Algumas delas: em que medida a obra retrata um grande dilema do humano, que sofre (em maior ou menor grau) com a culpa que lhe é creditada pelos traumas da sociedade, da família, dos grupos aos quais pertence? Como isto se confunde com a história do autor? O drama de K dialoga com fatos históricos daquele tempo?
São questões que denunciam um esforço (completamente incipiente) em tentar falar sobre a condição humana que uma obra literária traz consigo. Naturalmente, não somos obrigados a percorrer essa senda, mas, se um livro nos toca (ou se é muito comentado), as chances de empreendermos essa busca é alta.
Existe uma forma de existir no mundo que é comum a todos ou, ao menos, a vários? Existiria uma condição humana? Esforços diversos para entendê-la foram realizados ao longo dos séculos e essa condição, antes largamente vista como transcendente e fixa — própria dos filósofos escolásticos, por exemplo — passou a ser entendida também como algo histórico e, portanto, mutável.
“A seu modo, todos os pesquisadores e pesquisadoras que procuraram reconhecer um conteúdo histórico nas obras de arte literárias — ou seja, que não as consideraram descoladas do mundo histórico, mas conectadas a ele, embora de modos variados — resvalam essa questão [as diferentes formas de condição humana na literatura]. Por isso, podem aprofundá-la ou não. As diversas tradições do marxismo, mais ou menos explícito conforme o caso, quase sempre seguiram essa trilha”, explica Leopoldo Waizbort, professor da pós-graduação em Sociologia da USP, em entrevista ao Pernambuco.
MIMESIS
O mais famoso esforço para mapear a condição humana na literatura foi engendrado por Erich Auerbach (1892-1957), filólogo alemão de origem judia. Na sua obra maior, Mimesis: a representação da realidade na literatura ocidental (1946), ele realiza um “passeio” por cerca de cinquenta obras europeias. Estas abrangem, no total, um arco temporal de aproximadamente três mil anos: o livro começa com a Odisseia (século 9-8 a.C.) e o Antigo Testamento (século 9 a.C. — 2 d.C.) e segue até Virgínia Woolf e Marcel Proust (ambos contemporâneos do autor).
O desejo de Auerbach era entender o modo como os (as) escritores (as) imaginavam e expunham uma imagem do humano na literatura. Para isso, desenvolve sua análise em, pelo menos, três dimensões: 1— como toma corpo uma forma expressiva (a linguagem); 2— como os humanos se enxergam (as mentalidades da época); 3— uma determinada situação histórico-social. Ele entendia que essas três esferas são uma totalidade, sem que uma tenha primazia sobre a outra.
Seu método consistia, grosso modo, em analisar trechos de duas ou mais obras à luz desses três critérios e, por meio de comparações entre os excertos, alcançar toda a época de produção do livro em questão e traçar as mudanças na condição humana ao longo da história.
As conclusões são interessantes. Por exemplo, no primeiro capítulo, que compara a Odisseia com o Antigo Testamento, ele mostra como, no texto grego, tudo ocorre de maneira clara, detalhada, sem exigir esforço interpretativo do leitor. Já o texto bíblico, por outro lado, as descrições são menos ricas, o desenvolvimento dos personagens ocorre com profundidade psicológica — o que demanda interpretação da parte de quem lê.
A análise caminha com base em trechos de figurões como Dante, Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Flaubert; de autores não tão conhecidos do grande público, como Apuleio e Calderón de La Barca; e de filósofos, tais quais Santo Agostinho, Montaigne e Saint-Simon. O intento de Auerbach era escrever História — a que versa sobre as mudanças da condição humana — e, portanto, sua noção de literatura era mais ampla, abrangendo obras filosóficas e religiosas.
O material, como se pode ver, é quase todo ocidental, salvo poucas exceções. A escolha tinha, segundo Leopoldo Waizbort, um caráter prático. “Auerbach só podia escrever sobre a literatura das línguas que dominava. Por isso, não pode inserir outras literaturas, como ele mesmo assinala em Mimesis sobre a não inclusão da literatura russa”, diz.
No último capítulo, em que o filólogo se debru- ça sobre Virginia Woolf, Proust e James Joyce, é indicada a homogeneidade que toma conta das diferenças da cultura ocidental. Existe uma forte tendência à padronização.
“O trabalho de Auerbach se destaca pela amplitude da sua análise e argumento, por um lado, e pela maestria nas análises singulares, por outro. Conjugou, assim, aspectos macro e micrológicos, em uma prosa muito límpida e, ao mesmo tempo, muito profundamente comprometida com um humanismo radical. É essa soma de fatores, por assim dizer, que marca a sua especificidade”, sintetiza Leopoldo Waizbort.
“Seus ensaios parecem estar sempre olhando para o texto que analisa e, se for para sair dele, essa fuga vai sempre na direção da literatura. Em Mimesis, por exemplo, as análises sempre variam do próprio texto para outros textos literários próximos dele. Qualquer ensaio de Auerbach parece respirar literatura e, mais ainda, os clássicos”, opina o escritor Ricardo Lísias.
HOJE
Lísias não faz cerimônia quando indagado sobre qual trecho da literatura contemporânea ele acha que traduz o presente. É Beckett, em Malone morre, que ele evoca:
Logo enfim vou estar bem morto apesar de tudo. Talvez mês que vem. Vai ser abril ou maio. O ano ainda é uma criança, mil sinaizinhos me dizem. Quem sabe esteja errado, quem sabe consigo chegar até o dia da festa de São João Batista ou até mesmo o quatorze de julho, festa da liberdade. Qual o quê, sou bem capaz de durar até a Transfiguração, me conheço bem, ou até a Assunção. Mas não acredito, não acho que estou errado em dizer que estas festas vão ter que passar sem mim, este ano.
Ricardo opina que, como convivemos com a indefinição da continuidade da vida no planeta graças aos problemas ambientais que ameaçam a vida humana, o excerto de Beckett traduz bem a condição desse “momento em que não sabemos mais se vamos durar tanto, mas que, enfim, continuamos”. O impasse só cresce com a indisposição das indústrias em rever seus processos e bases de produção, o que aproxima muito a existência humana de um limite — ao mesmo tempo em que movimentos sociais se esforçam para achar alguma solução.
Além da questão ambiental, também os refugiados lembram a ele o trecho de Beckett. “Se a gente pensar nos refugiados, outro drama muito contemporâneo, parece estar tudo lá: eles não sabem o que pode acontecer com o caminho que estão tentando criar, possivelmente intuem que não será fácil, mas também não podem ficar onde estão. Um refugiado é uma espécie de personificação do que forma a obra de Beckett”, completa Lísias.
Já a escritora Elvira Vigna prefere pensar a condição humana a partir do artista — que hoje vive em situação precária por seu trabalho receber pouca ou nenhuma remuneração. Esta realidade, na opinião dela, é benéfica por dois motivos: agora o artista vai estar mais apto a partilhar sua proposta com outros “autores”, o que acelera a transição para a consciência de que todos são potenciais criadores; e isso injeta vida na experiência de vida do artista, e, como consequência, esta mesma vida e a de sua comunidade serão propulsoras das suas propostas artísticas.
Ela escolheu dois trechos para representar essa condição humana do escritor. O primeiro é de seu Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, inédito:
Uma amarelinha em que fico, uma perna, eu também no ar à espera de uma completude prometida pelos vários episódios que crescem de tamanho, mas que nunca de fato acabam. E com uma autoria que fica cada vez mais para trás. Ou melhor, uma autoria que vai se espalhando por várias casas dessa amarelinha, eu mesma virando autora. Se não de uma Eneida, pelo menos das histórias de putas de um João que nunca termina de fato o que conta, e que vai ficando, ele também, cada vez mais para trás. Os detalhes, aqui, são na maioria meus.
O segundo é do Quarenta dias (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende:
Vai, piá, vai ver se a Baiana está aí, que ela é de lá de Fortaleza, é lá de Minas. Naquela hora não percebi, mas tinha acabado de descobrir outra coisa preciosa pra os meus dias de desgarramento que eu ainda nem sabia que já haviam começado. Estava momentaneamente esquecida de Norinha, do tabuleiro de xadrez, meio zonza com tudo o que ouvia e me prendia àquele instante e lugar.
A condição humana que Elvira propõe fica ainda mais evidente na dimensão espaço-tempo das obras literárias atuais. Para ela, não há um protagonismo, um “dono”, seja do espaço, da ação, ou que tenha a ilusão de controlar o tempo. “Na literatura que aqui cito, vários tipos de discurso (objetos achados e cita- ções, no caso da Valéria; letras de música e citações, no meu caso), juntos, apontam uma unidade que não o é, por ser justamente quase aleatória, inacabada e inacabável. Nada aponta para uma conclusão reconfortante, não há imposição de um sentido único”.
Os olhares de Auerbach, Elvira e Ricardo partem de um ponto comum: eles mesmos. Ainda que busquem os elementos em si que estão mais próximos da coletividade, a raiz de seus argumentos são os olhares que, baseados em suas experiências, lançam ao mundo. Se um livro nos toca — via intelecto ou sentimento —, é a partir deste afeto que o olharemos, mesmo que procuremos os meios mais assépticos e “neutros” para ler uma obra.
Um autor escreve algo de si para muitos. Nestes muitos, o que vai reverberar é o que está sendo dito com clareza pelas palavras, mas também algo incerto e sempre fora do controle de quem escreve. Esta dinâmica é o que permite a nós, leitores, uma busca pelo humano também nas estantes e prateleiras.
PÓS-ESCRITO
Ao contrário de Elvira Vigna, Ricardo Lísias e deste repórter, Leopoldo Waizbort não quis arriscar uma obra ou excerto de livro que trouxesse à tona a condição humana atual. “Não saberia dizer”, diz, para em seguida arriscar alguns nomes. “Pense, por exemplo, em um romance de Coetzee ou de Seebald. Pode-se perceber com facilidade que há, ali, uma concepção da condição humana, profundamente entranhada na história, e que ganha forma literária própria”, encerra.