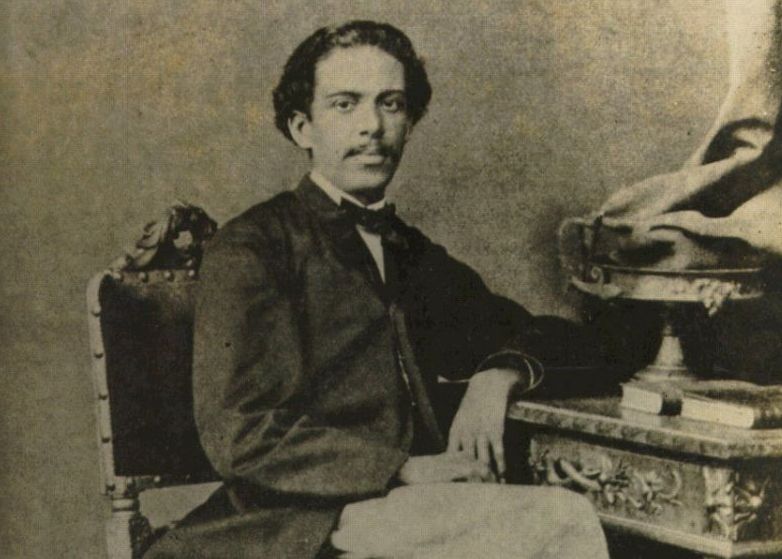
Durante uma pesquisa acadêmica, o professor Wilton Marques (UFSCar) se deparou com um poema desconhecido de Machado de Assis - “Grito do Ipiranga”, publicado em 1856 no Correio Mercantil. Para poder falar com mais embasamento sobre o poema, continuou a pesquisar a presença de escritores em jornais. Até achar referências a uma obra de Machado de Assis chamado Livro dos Vinte Anos - notas em jornais anunciavam sua publicação em breve.
O livro jamais foi publicado. O primeiro livro de Machado de Assis, Crisálidas, é de 1864, quando o autor estava com aproximadamente 25 anos. As referências ao Livro dos Vinte Anos datam de 1858 e 1860, no Correio Mercantil – portanto, quando o autor estava entre 18 e 21 anos.
De 1854 a 1860, Machado produzirá sobretudo poesia. E ainda marcado pelas visíveis influências de outros autores. Por isso, segundo Marques, é possível especular que Machado tinha uma autocrítica muito conscienciosa a ponto de recuar no projeto de se lançar ao “mundo das Letras”.
Mas a certeza é que conhecemos um livro de Machado de Assis que nunca foi publicado e sobre o qual, ao menos por enquanto, só é possível especular. Sobre essa descoberta, suas possíveis consequências e a faceta poética de Machado, conversamos com Wilton Marques.
***
Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, o senhor descarta a possibilidade de Machado de Assis ter publicado os poemas de Livro dos vinte anos em livros posteriores porque ele sempre colocava a datas de criação dos poemas (e nenhuma, pelo que entendi, remete à época do livro que o senhor descobriu). Em suma, Livro dos vinte anos é um fantasma dentro da obra de Machado. Gostaria que o senhor falasse sobre como podemos compreender o autor a partir dessa descoberta (e dessa ausência). Isso acrescenta algo ao que já entendíamos sobre ele (fora o fato dele ter anunciado um livro e, por algum motivo, recuado com a publicação)?
Tenho a impressão que a não publicação de o Livro dos vinte anos só vem a reforçar um traço peculiar do processo criativo de Machado de Assis, e que tal decisão pode ser creditada a sua precoce “consciência literária”. O autor, ainda jovem, já demonstrava traços de sua obsessiva busca pelo aperfeiçoamento estético, o que, por tabela e no caso da poesia, representou o abandono da concepção poética romântica. Naquele momento, Machado já estava interessado pelo teatro e, sobretudo, pela comédia realista francesa.
O senhor opina que uma autocrítica vigilante talvez tenha feito Machado de Assis desistir de publicar o livro (fora a dedicação dele a outros projetos, principalmente no teatro). E que, ao organizar Poesias completas, ele excluiu muitos poemas de outros títulos que ele já tinha publicado. É possível mapear os critérios de Machado ao olhar para sua obra por meio da inserção/exclusão desses poemas? É possível reconstituir o tom da autocrítica dele à época de Livro dos vinte anos por meio de obras publicadas no mesmo período (e seu tratamento posterior)?
A expressão “autocritica vigilante” é do crítico francês Jean-Michel Massa, explicando que, na escolha dos poemas de Crisálidas, Machado, a despeito de ter escrito muitos poemas entre 1854 e 1860, somente aproveitou o que é dedicado ao padre Monte Alverne. Esse dado pode ser encarado como mais um indício do abandono da concepção romântica que permeava os primeiros poemas.
No caso das exclusões dos poemas que entraram nas Poesias completas há ainda o traço distintivo, e talvez agravante, de que, para o autor, esta seria sua última obra poética. Ou seja, ao atingir a maturidade literária, qualquer escritor, mais dia menos dia, acabar por se ver frente a frente com a questão da possível ressonância literária que será deixada por sua obra. Nesse sentido, o que se pode dizer é que, regida por padrões estéticos e/ou subjetivos, a escolha de determinados textos em detrimento de outros é, no fundo, uma tentativa de interferir na posterior apreciação e valoração crítica dos mesmos.
Já no caso do Livro dos vinte anos, o único dado concreto que se tem é o de que os poemas seriam da juventude literária do Machado. Como não se encontrou o livro, não é possível conjecturar sobre quais poemas seriam publicados.
O senhor descobriu a existência de Livro dos vinte anos a partir de uma busca despertada por um poema até então desconhecido - “Grito do Ipiranga”. O poeta Machado de Assis é uma face mais desconhecida dele (ao menos do grande público). Quais os diálogos entre a prosa e a poesia do autor?
Um dos grandes problemas críticos em relação à obra de Machado de Assis é que normalmente se olha de traz para frente, ou seja, privilegia-se as obras da maturidade literária, assim o que foi produzido antes é quase sempre visto com desconfiança. O que proponho na minha pesquisa é justamente tentar entender o processo de formação do jovem Machado para entender como se dá o seu aperfeiçoamento literário a partir da leitura de seus primeiros textos. No poema “o Grito do Ipiranga”, por exemplo, Machado dialoga logo na primeira estrofe com Tito Lívio ao comparar a independência do Brasil à fundação do República Romana. Esse diálogo intertextual com os grandes autores é, como se sabe, um traço da literatura machadiana que permeará todas obras, inclusive, a prosa.
Livro dos vinte anos, pelo nome, lembra o livro de Álvares de Azevedo (Lira dos vinte anos) - fora a possibilidade de ser um livro de estética romântica, que seria mais uma semelhança entre ambos. Abre-se, portanto, uma possível janela de diálogo e intertextualidade entre as duas obras. Na poesia que conhecemos de Machado (a publicada), como se dá a intertextualidade? São releituras criativas (no sentido de bem elaboradas), cópias…? Quais os autores que ele dialoga?
Entre 1854 e 1860, Machado será sobretudo poeta. Nesse sentido, pela própria imaturidade literária, seus poemas apresentam várias e visíveis influências literárias. No caso da poesia, temos inicialmente o desconhecido poeta português Francisco Gonçalves Braga, depois Almeida Garrett e, quanto aos brasileiros, Gonçalves Dias e, sem dúvida, Álvares de Azevedo.
Ao que tudo indica, o nome do livro tem de fato uma relação direta com a Lira dos vinte anos. Inclusive, o jovem Machado tem vários poemas que dialogam com o poeta paulista, seja através de epigrafes, como é o caso do poema “O profeta”, cuja epígrafe foi retirada de “Ideias íntimas”; seja por exemplo, no poema “Amanhecer”, que dialoga, para não dizer que é uma espécie de plágio, com “Lembrança de morrer”; seja, por fim no poema dedicado a “Álvares de Azevedo”. Pode-se dizer que, em algum momento ao longo da década de 1850, Machado também foi um poeta ultrarromântico.
No poema “A missão do poeta” (in: Poesias dispersas), que é de 1858, Machado cria um diálogo entre o poeta e uma musa dentro de uma estética romântica. O poeta deve seguir a musa (a inspiração, talvez?), mesmo que para isso deva se submeter a infortúnios. A glória do poeta ocorreria na posteridade. Ao longo das obras, o que muda na ideia que Machado tem do que seria a poesia (pensando também na transição dele do romantismo ao realismo)?
É complicado, sobretudo com o próprio desenvolvimento de seu projeto literário, tentar filiar Machado de Assis a um determinado movimento literário. No caso da poesia, ele se apropriava de traços dos mais diversos momentos (clássico, romântico, etc.) sem, no entanto, explicitar uma suposta filiação literária. Há um famoso texto do José Veríssimo sobre a poesia machadiana, lançado conjuntamente com as Poesias completas (1901), em que o crítico, em conhecida passagem, observa que “como poeta, [Machado de Assis] não foi propriamente romântico, nem propriamente parnasiano, nem propriamente naturalista, e foi simultaneamente tudo isto junto”.
Em uma busca rápida na internet, publicações especializadas, não encontrei muitas referências ao trabalho poético de Machado de Assis. É possível dizer que, mesmo na Academia, trata-se de faceta pouco explorada? Em caso positivo, a que o senhor atribui esse interesse menor?
Há uma afirmação famosa de Manuel Bandeira que talvez explique o problema: “Machado de Assis poeta tornou-se uma vítima de Machado de Assis prosador”. A maior repercussão do projeto romanesco contribui para que os outros gêneros literários (poesia, teatro, crônica, contos, crítica literária, etc.) sejam relegados a um segundo plano, encarados, quando muito, como momentos de preparação para o “grande Machado” dos romances pós 1881. De todo forma, também acredito que já existe um grande movimento, sobretudo nas Universidades, que procura estudar as outras facetas da literatura machadiana. Talvez o que falte seja mesmo uma maior divulgação de tais estudos que, longe de desmerecer o “grande Machado”, evidenciarão que a obra da maturidade literária é, na verdade, o resultado de um longo e obsessivo trabalho intelectual.