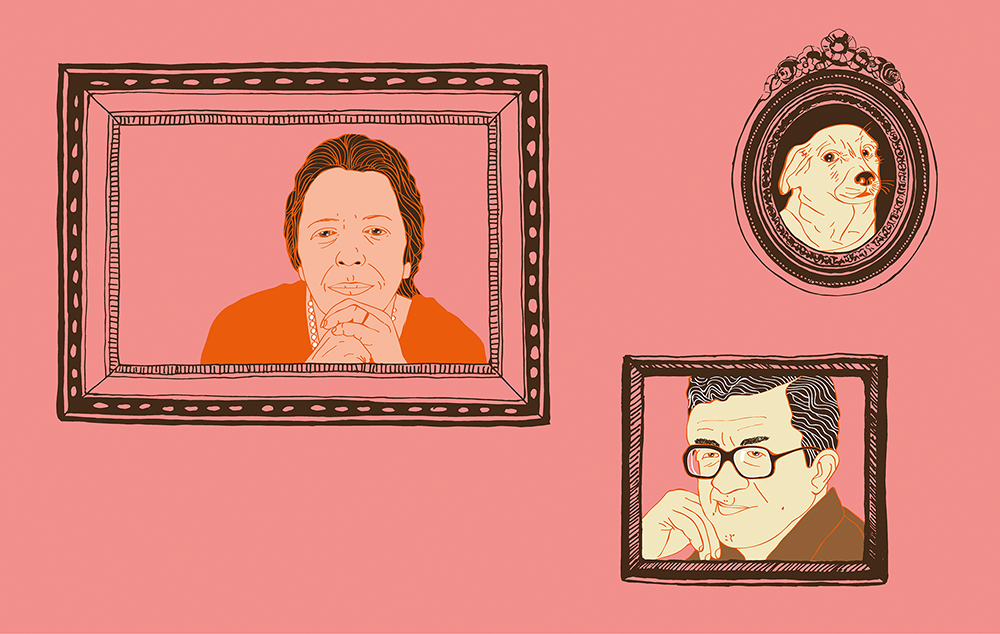
No dia 27 de março de 1986, Hilda Hilst anotou na agenda que utilizava como diário: “Carta do escritor Ricardo Guilherme Dicke. Livros. Lindíssima linguagem”. Em tinta esferográfica vermelha, a caligrafia difícil marca o primeiro contato da autora homenageada pela Flip 2018 com aquele que considerava um dos maiores escritores do Brasil.
Fato desconhecido por muitos, foi em um matogrossense que jamais pertenceu ao cânone da literatura brasileira que Hilst encontrou algumas de suas mais profundas afinidades literárias: “Seu texto é mais bonito que o de Guimarães Rosa”, declarou ao Jornal do Brasil em 1989.
Em Por que ler Hilda Hilst, Luisa Destri e Cristiano Diniz apontam que duas imagens bastam para ilustrar a mitologia criada em torno da autora: a “vovó da sacanagem” e “a escritora isolada e cercada por cães em seu sítio no interior de São Paulo”, ambas impulsionadas pela própria durante o período de lançamento de O caderno rosa de Lori Lamby, no início da década de 1990. Às duas, podemos acrescentar uma terceira, essa fomentada pela crítica e retomada agora por conta de sua homenagem na Flip: “a autora de múltiplas e sofisticadas influências literárias”.
Não por acaso, no anúncio de Hilst como homenageada da Festa Literária Internacional de Paraty, seu diretor-geral, Mauro Munhoz, disse que a escolha da autora se deu pelo fato de sua obra extrapolar fronteiras: “assim como outros poetas brasileiros, leu Drummond, Bandeira e Cabral, mas leu também Fernando Pessoa, o francês Saint-John Perse e o alemão Rainer Maria Rilke”.
O empenho em desvendar as influências hilstianas não vem de hoje. Em março de 1974, por ocasião do lançamento de Kadosh, Nelly Novaes Coelho defendeu que identificar convergências de ordem literária e existenciais forneceriam as “‘chaves’ para melhor penetração no insólito mundo romanesco de Hilda Hilst”. No artigo publicado em O Estado de S. Paulo, a professora da USP retomava o prefácio que Anatol Rosenfeld havia escrito para Fluxo-floema quatro anos antes. Nele, o crítico dizia que Hilst amava poetas como Hölderlin, John Donne, Eliot e René Char, cujos escritos “afinam, em maior ou menor grau, com as tendências místicas e metafísicas” de seu próprio trabalho. No entanto, a “experiência decisiva, não só de ordem literária e sim ‘existencial’”, dizem os professores, foi a leitura de Nikos Kazantzákis.
>> A literatura continua no centro da Flip - uma entrevista com Joselia Aguiar
>> Três livros que fizeram a cabeça de Hilda Hilst, por Joselia Aguiar
As mesmas razões que levaram Hilst ao escritor e filósofo grego podem tê-la levado também a Ricardo Guilherme Dicke. Se em Kazantzákis ela encontrou a “paixão em contraponto à impassibilidade contida”, no brasileiro descobriu, segundo identificou Hélio Pólvora em Grande e grandioso em todos os sentidos, um escritor “mais intuitivo que intelectual, cuja emoção que sente passa ao que escreve, inunda o texto”. Se em Carta a El Greco vislumbrou “a religiosidade apaixonada e herética”, em Madona dos Páramos deparou com personagens que seguem “invadindo fazendas, matando, aprisionando a mulher que haverá de se transfigurar para dar religiosidade à nossa dor instintiva”. E mais: se a ligação com Kazantzákis foi, segundo Rosenfeld, “fundamentalmente mística”, com Dicke ela se estendeu a afinidades biográficas, intelectuais e literárias.
Em Por que ler Hilda Hilst, Alcir Pécora diz que a obra da escritora, ao contrário de sua imagem, segue desconhecida. No caso de Dicke, segundo apontou Nelly Novaes Coelho em seu Escritores brasileiros do século XX, “apesar da grandeza de sua obra, o seu amplo reconhecimento pela crítica e pelo público tem sido escasso”.
O desdém de crítica e público pela obra de ambos têm raízes que perpassam posições pessoais e pontos centrais da literatura dos dois. Enquanto Hilst se refugiou, a partir de 1966, em um sítio no interior de São Paulo, Dicke, depois de uma temporada de uma década no Rio de Janeiro, onde escreveu seus três primeiros romances, decidiu voltar a Cuiabá, o que levou o jornal O Globo, em 2004, a publicar que “o autor que Hilda Hilst considerava um dos grandes do Brasil vive esquecido no Mato Grosso”.
Enquanto contra Hilst pesava, de acordo com Pécora, “a dificuldade de leitura de seus textos, dada a sua exigência de erudição literária, filosófica e até científica”, a prosa de Dicke, para Nelly Novaes Coelho, se apresentava como “pertencente à linhagem daqueles livros que só se revelam plenamente a partir da decifração de determinadas ‘chaves”.
Por fim, se uma particular concepção de erotismo pode se aplicar ao conjunto da obra de Hilst, “é também com o erotismo que Dicke procura contar para se arremeter contra a mesmice da literatura brasileira contemporânea”, segundo apontou Antonio Olinto no prefácio a seu primeiro romance, Deus de Caim.
Em 2 de agosto de 1991, na Casa do Sol, onde viveu com Hilst por quatro anos, Jurandy Valença anotou em seu diário: “Leio Ricardo Guilherme Dicke, que Hilda tanto me pede”. Ele diz que “Hilda sempre falava efusivamente de Dicke, que para ela estava no mesmo nível de Malcolm Lowry e Faulkner”.
Valença me disse em entrevista não ter dúvidas de que “a obra de Dicke inspirou e influenciou Hilda, um dos poucos autores que ela relia sempre, e a cada (re)leitura falava do deslumbramento que experimentava”.
Apresentada aos livros de Dicke pelo crítico Léo Gilson Ribeiro, o arrebatamento foi tanto, que fez com que ela escrevesse ao recém-conhecido escritor, algo digno de nota, “pois Hilda só se corres-pondia com poucos eleitos”, diz Valença. Passou a insistir com os amigos para que lessem Dicke. Lygia Fagundes Telles, Massao Ohno e Roswitha Kempf foram também apresentados à obra do escritor. Em maio de 1987, indicou ao Jornal do Brasil o nome de Dicke como “Intelectual do ano”.
Por meio de Caio Fernando Abreu, declarou publicamente seu encantamento. Em entrevista realizada em 1987, Hilst definiu sua própria literatura como “a procura do centro, uma espécie de tranquilidade, mas ao mesmo tempo esse passional que você tem dentro o tempo inteiro”, local onde nem Joyce, Kafka, Proust ou Virgínia Woolf teriam chegado. “Eles se aproximam, mas têm muita inquietação fora do centro. Eu tenho ojeriza pelo relato. Me interessam mais os estados emocionais”. E quem teria conseguido na literatura brasileira?, pergunta Caio, ao que Hilst responde certeira: “O Ricardo Guilherme Dicke, um homem impressionantemente prolixo, com uma linguagem que tem uma oleosidade fascinante. Numa novela chamada Madona dos Páramos, ele conseguiu o centro dele: esse centro prolixo, complexo, onde existe a volúpia da palavra”.
Leitora sofisticada, enquanto a crítica ainda não sabia bem como analisar a prosa dickiana – “Trata-se de obra concebida fora dos esquadros pelos quais se pauta a produção literária mais recente”, apontou o Jornal do Brasil em 1978 –, a escritora viu no excesso sua grande qualidade.
>> Sobre editar um livro de Hilda Hilst - entrevista com Alice Sant'Anna
>> Hilda Hilst como pensadora da literatura, por José Castello
Assim como Hilst, Ricardo Guilherme Dicke nunca se deixou enquadrar pela literatura de dicção naturalista, especialmente no que toca à questão do conteúdo “nacional” e à certa busca por apagar o caráter mediador da linguagem. De forte carga poética, sua prosa usa figuras de linguagem que remetem diretamente ao literário, como na abertura de Madona dos Páramos: “Martelo. Um som de martelo martelando ferradura em alguma ferraria próxima. Meio-dia de sol untando de quente. Martelo no meio-dia. Martelando, martelando. Meio-dia e martelo. Bigorna”.
Se algumas grandes obras, como a de Graciliano Ramos, foram escritas de maneira contida, seca, a de Dicke é o oposto, caudalosa como um rio, busca preencher até mesmo a ausência sonora: “A nervosia do martelo se acabara, agora só o som das patas do cavalo sobre sua sombra no chão, as cigarras, as seriemas, e som de tudo que é um som de silêncio, mais que ruído ou voz, que se distinga na solidão”.
Ainda que em seus três primeiros livros tenham tratado da dura vida dos homens simples em meio a natureza do Mato Grosso, passou ao largo de um realismo fundado sobre a observação das relações econômicas da região retratada, como preconizava o próprio Graciliano Ramos.
Filósofo formado pela UFRJ, com mestrado em Estética e especialização nas obras de Heidegger e Merleau-Ponty, se voltou às questões metafísicas, em especial à experiência do homem com o tempo. Diferentemente de Proust e Faulkner, no entanto, que localizaram no próprio tempo as reflexões sobre sua essência “real” ou “pura”, foi na natureza mato-grossense que Dicke buscou a transcendência do tempo além do relógio. Afinal, como diz no conto A noite, “As horas do lado de cá e as horas do lado de lá: cheiro de flor de laranjeira à meia-noite, tudo é profundo sob a Lua: o pensamento e a realidade”.
ENCONTRO
Apesar da admiração mútua, Hilst e Dicke estiveram juntos uma única vez. Em dezembro de 1992, o escritor encarou as 20 horas necessárias para vencer, de ônibus, os quase 1.500 km que separam Cuiabá de Campinas.
A grande timidez do escritor, no entanto, não permitiu que Dicke ficasse à vontade diante daquela que foi sua grande incentivadora. Tal qual Mário de Andrade, o escritor se abria em cartas, mas não sabia se confessar em corpo presente. “Depois que eles foram embora, lembro de Hilda comentar que ele personificava o outsider verdadeiro, aquele descrito por Colin Wilson em O outsider: o drama moderno da alienação e da criação, uma das obras principais do cânone literário de Hilda”, relembra Jurandy Valença.
Hilst e Dicke mantiveram a amizade e a admiração até o fim da vida da escritora. Em sua última entrevista, concedida em dezembro de 2003 ao jornal O Globo, perguntada sobre quem seriam os grandes escritores brasileiros, respondeu: “Sei que sou um deles. Guimarães Rosa, Machado de Assis. O Guilherme Dicke, que praticamente não é conhecido, também é um gigante”. O escritor mato-grossense guardou a entrevista até seu último dia. Faleceu em Cuiabá, em julho de 2008. Quis o destino que a homenagem da Flip à sua grande amiga e admiradora acontecesse exatos 10 anos após sua morte.
Em seu diário, no registro do primeiro contato, Hilst anotou também: “Escrevi um poema. ‘Vem apenas de mim, ó Cara Escura’”. O verso compõe a sexta estrofe de Sobre a tua grande face. Publicado naquele mesmo ano, o poema foi dedicado “a Ricardo Guilherme Dicke, por identificação no exercício da procura”.