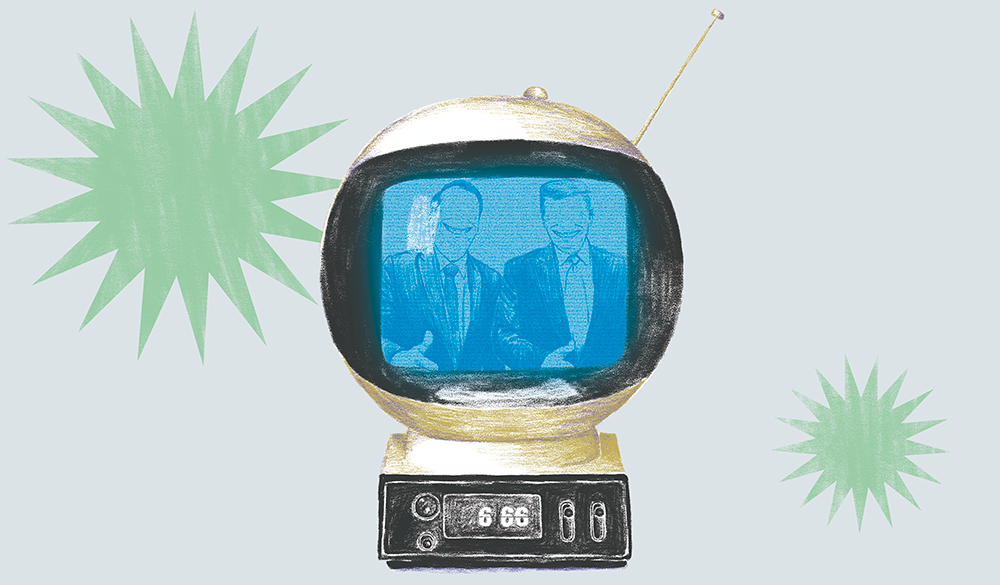
NûÈo ûˋ sû° o Brasil que estûÀ vivendo o caos de um retrocesso.
Recebemos diagnû°sticos e reflexûçes dos mais variados pontos, muitos deles englobados por uma mesma percepûÏûÈo de fundo: ûˋ cada vez mais difûÙcil imaginar um futuro.
Segundo as categorias do historiador Reinhart Koselleck, todo ãespaûÏo de experiûˆnciaã pressupûçe um ãhorizonte de expectativaã, ou seja, toda vida que se desenrola no presente precisa de um futuro hipotûˋtico no qual se projetar. Nosso presente, contudo, vive um curto-circuito na relaûÏûÈo entre experiûˆncia e expectativa. Vivemos em uma ûˋpoca na qual o horizonte nûÈo ûˋ mais sinûÇnimo de progresso ou progressûÈo, construûÏûÈo ou formaûÏûÈo, pelo contrûÀrio: as promessas para o futuro que escutamos envolvem sempre violûˆncia, intolerûÂncia, destruiûÏûÈo e ignorûÂncia.
O detalhe fascinante dessa dinûÂmica ûˋ que toda experiûˆncia do presente e toda projeûÏûÈo de futuro envolve, sempre, uma reconfiguraûÏûÈo do passado. O passado nûÈo cessa de passar, estûÀ sempre aberto e disponûÙvel. Trûˆs livros recentemente lanûÏados buscam dar conta desse detalhe, de formas radicalmente diversas e igualmente interessantes.
Franco Berardi, filû°sofo italiano, lanûÏou em 2009 seu livro Depois do futuro ã agora publicado no Brasil pela Ubu Editora com traduûÏûÈo de Regina Silva. No prefûÀcio, escrito 10 anos depois do lanûÏamento, Berardi aponta que sua intenûÏûÈo ãera comparar o Zeitgeist depressivo deste novo sûˋculo ao espûÙrito futurista que permeou profundamente a cultura do sûˋculo XX, marcado pela crenûÏa no futuroã. Seu livro se lanûÏa 100 anos no passado ã em direûÏûÈo ao primeiro manifesto do futurismo italiano, de 1909 ã para pensar as bases de nossa contemporaneidade ãdepressivaã. Entre um ponto e outro, entre 1909 e 2009, encontra uma sûˋrie de balizas e pontos de referûˆncia, sendo o principal o Maio de 1968: atûˋ aûÙ, escreve Berardi, ão futuro era imaginado de forma eufû°ricaã; depois, a percepûÏûÈo do futuro ûˋ de algo que ãameaûÏa o programa humanistaã.
Wolfram Eilenberger, por sua vez, tambûˋm filû°sofo e autor de Tempo de mûÀgicos, faz um movimento semelhante ao de Berardi, como indica o subtûÙtulo de seu livro: ãa grande dûˋcada da filosofia: 1919-1929ã (traduzido por Claudia Abeling e lanûÏado pela Todavia). Eilenberger resgata quatro grandes nomes da filosofia europeia, Walter Benjamin, Ludwig Wittgenstein, Martin Heidegger e Ernst Cassirer, costurando suas trajetû°rias umas û s outras e aos eventos histû°ricos do perûÙodo. A dûˋcada separada por Eilenberger, que se inicia com o imediato pû°s-Primeira Guerra Mundial e se encerra com a crise econûÇmica mundial de 1929, tambûˋm foi marcada pelo surgimento de obras que ressoam ainda hoje: o Tractatus Logico-Philosophicus, de Wittgenstein, Ser e tempo, de Heidegger, Origem do drama barroco alemûÈo, de Benjamin, e os trûˆs volumes da Filosofia das formas simbû°licas, de Cassirer.
Existe uma questûÈo de fundo que aproxima Eilenberger e Berardi: sûÈo dois filû°sofos contemporûÂneos empenhados em pensar o presente a partir da releitura das camadas complexas do passado. Esse movimento, contudo, ainda ûˋ feito a partir de um sentimento de hegemonia nacional ã Berardi, italiano, busca o futurismo italiano de 1909; Eilenberger, alemûÈo, busca a grande dûˋcada da filosofia alemûÈ, com autores que escreveram em alemûÈo. û inegûÀvel que uma sûˋrie de elementos suaviza essa ûˆnfase na hegemonia nacional ã Berardi comenta extensamente as vanguardas russas; Eilenberger comenta a influûˆncia do cenûÀrio francûˆs sobre Benjamin, ou do cenûÀrio britûÂnico sobre Wittgenstein ã, e ûˋ inegûÀvel tambûˋm que sûÈo trabalhos nascidos da especializaûÏûÈo de seus autores a determinados campos disciplinares.
O terceiro livro em questûÈo, contudo, ûˋ eloquente em sua fuga deliberada de uma sûˋrie de categorias que parecem limitar o pensamento hûÀ geraûÏûçes ã nacionalidade, autoria, disciplina etc. Trata-se de ContribuiûÏûÈo para a guerra em curso, escrito pelo coletivo Tiqqun e agora publicado no Brasil pela n-1 ediûÏûçes, com traduûÏûÈo de Vinicius Nicastro Honesko.
Tiqqun ûˋ o nome de um coletivo fundado em 1999 e encerrado em 2001, depois dos ataques û s Torres Gûˆmeas em 11 de setembro de 2001. Alûˋm disso, Tiqqun foi o nome dado pelo coletivo û revista que produziram, tambûˋm de vida curta, com apenas dois nû¤meros: o primeiro em 1999, com o tûÙtulo geral de ExercûÙcios de metafûÙsica crûÙtica; o segundo em 2001, com o tûÙtulo Zona de opacidade ofensiva. Por fim, Tiqqun ûˋ tambûˋm a denominaûÏûÈo de um conceito filosû°fico com origem no misticismo judaico: significa algo em torno de reparaûÏûÈo, restituiûÏûÈo e redenûÏûÈo. Nenhum dos artigos publicados nos dois nû¤meros lanûÏados de Tiqqun ûˋ assinado, nûÈo hûÀ qualquer indicaûÏûÈo especûÙfica de autoria ã ela ûˋ coletiva.
ContribuiûÏûÈo para a guerra em curso apresenta dois dos artigos: ãIntroduûÏûÈo û guerra civilã, dedicado a desenvolver a ideia de que vivemos sob permanente estado de exceûÏûÈo cuja lû°gica ûˋ a da guerra civil, e ãUma metafûÙsica crûÙtica poderia nascer como ciûˆncia dos dispositivosã, dedicado a aprofundar uma teoria da relaûÏûÈo entre dispositivo e subjetividade. A ediûÏûÈo brasileira conta ainda com um posfûÀcio de Giorgio Agamben, cuja obra ûˋ declaradamente um ponto de partida para o coletivo Tiqqun ã junto com a de outros autores como Michel Foucault, Gilles Deleuze, Fûˋlix Guattari e Guy Debord.
Berardi e Eilenberger revisitam momentos precisos do passado e incidentalmente refletem sobre a contemporaneidade ã de um lado, o ãtempo de mûÀgicosã nos faz melhor observar a pluralidade e multiplicidade de ideias circulando no presente; de outro lado, a retrospectiva do ãfuturismoã nos faz melhor observar (e desconfiar da) a tecnologia onipresente dos dias atuais. Os textos de Tiqqun, no entanto, ao tambûˋm revisitar nomes e textos do passado (Hobbes, Tocqueville, Hegel, Marx, Benveniste, Pierre ClastresãÎ) buscam incidir direta e criticamente sobre o presente, propondo aûÏûçes e movimentos de consciûˆncia: ãa necessûÀria solidariedade entre fichados e nûÈo fichados, entre aqueles que tûˆm documentos e os que nûÈo os tûˆm, sû° pode se fazer contra o princûÙpio do fichamento, contra o princûÙpio dos documentos. A luta presente quer, taticamente, que todo mundo tenha documentos, e, em seguida, de forma estratûˋgica, que estes sejam, enquanto tais, abolidosã.
A palavra-chave que permite costurar os trûˆs livros ûˋ, sem dû¤vida, ãdispositivoã. Recuando ao ponto mais distante desse breve panorama desenhado atûˋ aqui, encontramos o manifesto futurista italiano de 1909: Berardi enfatiza o fascûÙnio dos futuristas pela mûÀquina, pelo automû°vel, pela industrializaûÏûÈo, seus processos e resultados ã Deus veemente de uma raûÏa de aûÏo / Automû°vel embriagado de espaûÏo, escreve Marinetti. Duas dûˋcadas depois ã jûÀ nos domûÙnios do livro de Eilenberger ã, Benjamin e Heidegger jûÀ estûÈo inseridos em uma reflexûÈo sobre a tûˋcnica e a captura das subjetividades pelos artefatos desenvolvidos na industrializaûÏûÈo (nûÈo sû° fotografia e cinema, mas tambûˋm a impressûÈo, o rûÀdio, o sistema postal e, fundamentalmente, a linguagem): ãProgressoã, escreve Eilenberger, ãpalavra de ordem que, segundo Wittgenstein, mais ofusca e confunde nossa culturaã.
Em primeiro lugar, ãdispositivoã ûˋ um termo amplo que indica tanto prûÀticas quanto artefatos, fundando sua existûˆncia em um conjunto heterogûˆneo de articulaûÏûçes entre saberes e poderes. O dispositivo tem a capacidade de estimular respostas, verbais ou nûÈo verbais, determinando e controlando gestos, palavras, comportamentos, fazendo com que a subjetividade seja explorada pelo exterior, posta em pû¤blico, ao mesmo tempo em que garante que os estûÙmulos do exterior sejam devidamente introjetados. Na ûˋpoca moderna dos futuristas, escreve Berardi, ãa mûÀquina era mûÀquina externa que agia fora do corpo e da menteã. A mûÀquina de hoje, contudo, ûˋ radicalmente diversa: trata-se da ãmûÀquina interiorizada, mûÀquina biopolûÙtica: a mûÀquina psicofarmacolû°gica, a mûÀquina que age no interior do corpo graûÏas a potûˆncias de tipo quûÙmico, biotûˋcnicoã. Ou seja, ãos corpos nûÈo podem se relacionar nem a mente se expressar sem o suporte tûˋcnico da mûÀquina biopolûÙticaã.
Nessa perspectiva, a relevûÂncia de se informar acerca da dûˋcada de 1919-1929 ã a partir da anûÀlise de Eilenberger ou de livros como Em 1926, de Hans Ulrich Gumbrecht, por exemplo ã reside nûÈo apenas na constataûÏûÈo de que esse foi o perûÙodo de preparaûÏûÈo da grande dûˋcada fascista dos anos 1930. A abordagem de Eilenberger nos permite observar como seus quatro mûÀgicos fundaram pensamentos sobre a relaûÏûÈo entre tûˋcnica e pensamento, frisando sobretudo a fragilidade da subjetividade diante dos dispositivos. Quando Wittgenstein declara que os limites de minha linguagem sûÈo os limites de meu mundo, ûˋ possûÙvel reconhecer parte do horror que nos assola cotidianamente ã uma linguagem formada de ignorûÂncia e violûˆncia gera um mundo equivalente. O mesmo vale para as ideias de Cassirer sobre as ãformas simbû°licasã e o modo como a vida em sociedade se baseia em padrûçes arcaicos ã reconhecemos de imediato a tragûˋdia de uma concepûÏûÈo equivocada e doentia de ãmitoã.
A empolgaûÏûÈo futurista com a tecnologia se tornou nosso pûÈo de cada dia: redes sociais, plataformas, ferramentas de contato que tornam a vida cada vez mais mû¤ltipla na superfûÙcie e cada vez mais reduzida em sua efetividade, em sua autenticidade. Escreve Tiqqun: ãcada dispositivo possui uma pequena mû¤sica que ûˋ preciso desafinar ligeiramente, distorcer acidentalmente, fazer entrar em decadûˆncia, em perdiûÏûÈo, fazer sair de seu prumo. Aqueles que fluem no dispositivo nûÈo se dûÈo conta dessa mû¤sica, seus passos obedecem em demasia û cadûˆncia para escutûÀ-la em sua clarezaã. Algo dessa percepûÏûÈo pode ser resumido em uma frase recorrente nos û¤ltimos tempos, transformada por Bregtje van der Haak em documentûÀrio em 2016: Offline Is The New Luxury.
A guerra civil ûˋ permanente porque o controle ûˋ permanente, porque todo cidadûÈo ûˋ controlado, analisado e vigiado com o uso de tûˋcnicas concebidas inicialmente para criminosos. Berardi: ãA seguranûÏa nûÈo pode proteger ninguûˋm porque produz exatamente o contrûÀrio do que promete. A seguranûÏa ûˋ o pûÂnicoã. Tiqqun: ãAqui reside o carûÀter prû°prio e a pedra de toque do Estado moderno: ele sû° se mantûˋm por meio da prûÀtica daquilo que quer conjurar, pela atualizaûÏûÈo daquilo que reputa ausenteã. A subjetividade contemporûÂnea se declina sempre em uma posiûÏûÈo complementar: consumidor, usuûÀrio, cliente. NûÈo hûÀ dimensûÈo da vida ã diversûÈo, alimentaûÏûÈo, trabalho ã que nûÈo seja atravessada por dispositivos que oferecem a ilusûÈo de autenticidade enquanto mascaram a estrutura que padroniza gestos e afetos. Os robûÇs do Twitter, decisivos nas eleiûÏûçes de Trump e Bolsonaro, se parecem a cada dia menos com uma caricatura risûÙvel do comportamento humano e mais como o anû¤ncio daquilo que serûÀ a resposta comportamental padrûÈo do futuro. ãCreio que ûˋ preciso dizerã, escreve Agamben no posfûÀcio ao livro assinado pelo Tiqqun, ãnûÈo somos e jamais seremos terroristas, mas o que vocûˆs acreditam que talvez um terrorista seja, isto nû°s o somos!ã.