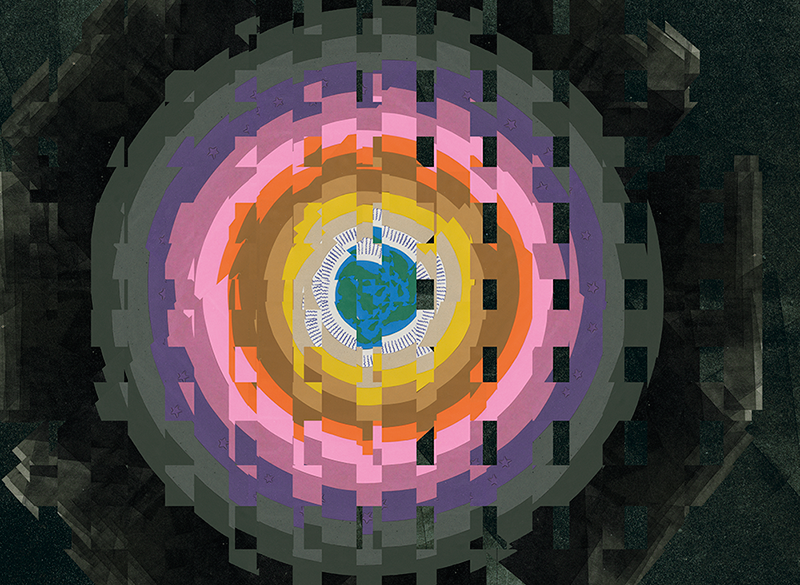
Da magnitude incompreensível da máquina do mundo ao colapso construído e programado. Pode não ser grande surpresa aos mais bem-informados, mas acontece que o mundo tal como o conhecemos – em sua amplitude que, a despeito do território coberto pelo Google Maps, ainda permanece, ao menos poeticamente, no campo do imensurável – está acabando. Ou melhor, estamos acabando com ele. O tom apocalítico que acredito que o momento pede não nos serve aqui para pensar no fim, mas para pensar na poesia. E na poesia em tempos de desastres ambientais, de um capitalismo predatório que esgota rapidamente todos os nossos recursos.
Os brilhantes versos que pensaram e repensaram a “máquina do mundo”, em Dante Alighieri, Camões, Drummond e Haroldo de Campos, contribuíram para a nossa visão cosmopoética do universo, mas podem não ser mais suficientes para explicar-nos o colapso atual. Diante da beleza de uma máquina do mundo girando e funcionando, como lidar poeticamente com o defeito, com a crise do todo que habitamos, com o espectro do fim a pisar nos melhores dos nossos sonhos? É, ainda, com Haroldo de Campos (1929-2003) que analisaremos essas hipóteses e esses silêncios.
UMA TRAJETÓRIA POÉTICA
A “máquina do mundo” se refere ao cosmos, ao funcionamento das leis que regem o universo como um todo: trata-se das engrenagens que fazem movimentar nosso sistema de mundo. O indivíduo que pudesse acessá-la teria, ao menos teoricamente, acesso também a todo conhecimento que ela traz consigo. Vemos a máquina aparecer na poesia, pela primeira vez, na Comédia de Dante. No Canto XXXIII do Paraíso, o poeta tem uma revelação mística, por intermédio de São Bernardo. Na “transcriação” de Haroldo de Campos (no livro Pedra e luz na poesia de Dante) dessa visão “cosmoteológica” da máquina do mundo, podemos destacar os versos:
E vi na profundeza que se interna
ligado com amor num só volume
o que pelo universo se escaderna.
Substância, acidente e seu costume,
unidos entre si de um modo tal
que o dito aqui não passa de um relume.
Creio que vi a forma universal
desse nó, e no júbilo me alargo,
pois dizê-lo e sentir é gozo igual.
A revelação a que Dante teve acesso, através da visão da máquina, se manifesta poeticamente por meio da completude da verdade de Deus, da perfeição e da força que regem a ordem no mundo. Na época, o modelo adotado para explicar cientificamente o mundo ainda era o de Ptolomeu, com suas órbitas (equivocadamente) espiraladas. Dante vê o mundo, portanto, de acordo essa concepção astronômica, para a qual a Terra estava no centro do Universo e, em torno dela, astros como o Sol e a Lua orbitavam. O maquinário responsável pelo movimento do mundo se apresenta, assim, por essa cosmologia tripartida entre inferno, purgatório e paraíso. A perfeição suprema, no entanto, não é capaz de se estender à linguagem e ao conhecimento humanos, e o funcionamento do todo universal é então explicado pela presença onipotente de um Deus criador.
Em Camões, a máquina do mundo aparece outra vez, agora para Vasco da Gama e seus companheiros, como um presente dos deuses para recompensá-los por seus feitos heroicos. Guiado pela deusa Tétis, Vasco da Gama vê a máquina, essa maquete perfeita do universo, que contém em si tudo o que existe. O mundo revela, dessa forma, seus segredos, seus mecanismos internos, embora a verdade de um Deus sublime continue inalcançável ao intelecto humano, podendo ser assimilada somente pela fé. Como afirma Haroldo de Campos, em seus Depoimentos de oficina, “tanto a posição de Dante, como a de Camões, perante o enigma do universo, é a de um crente, de um fiel seguidor da dogmática teológica do cristianismo, jamais posta em questão”. Até agora, portanto, as leis de Deus não foram questionadas, muito menos a existência de um ser supremo desafiada pela ciência. Tais leis foram, ao contrário, maneiras de compreender o enigma do mundo.
Para Dante e Camões, a máquina do mundo simboliza a descoberta e o fascínio com o universo, com o desconhecido, com as leis divinas. Já em Drummond, em seu poema A máquina do mundo, existem outros fatores que interrompem e bloqueiam essa curiosidade. Ao andar por uma estrada pedregosa em Minas, no fim da tarde, o poeta se depara com a máquina, entreaberta, e que aos poucos vai se abrindo, “majestosa e circunspecta”. Ela fala diretamente com ele, prometendo respostas e a “total explicação da vida”; ela oferece todo o conhecimento, inclusive sobre a gênese do mundo, sobre o “nexo primeiro e singular”.
Diante da possibilidade de obter todas as respostas, de esclarecer os enigmas do universo e acessar suas verdades íntimas, o poeta reluta em responder. Como se outro ser, não mais ele mesmo, comandasse agora suas vontades, e não tivesse a mesma curiosidade, o mesmo anseio pela compreensão do universo, ele simplesmente abaixa os olhos e recusa a oferta. Já era noite quando a máquina repelida se desfaz, enquanto o poeta segue caminhando, devagar, avaliando o que acabava de perder. No poema de Drummond, as inquietações com o divino vão dar lugar à falta de sentido, ao ceticismo, a uma indiferença que não permite verificar o que existe para além da limitada compreensão humana. A “incuriosidade” drummondiana se sobrepõe ao propósito da descoberta.
HAROLDO DE CAMPOS
O poema de Haroldo, A máquina do mundo repensada, foi lançado em 2000 e ocupa todo o livro homônimo. Explicita essa intertextualidade não só através do título, como ao longo de seus versos – estes, inclusive, organizados em terça-rima, como em Dante e que, além de tudo, correspondem, em sua estrutura triádica, à Trindade teológica. A terça-rima é formada por versos decassílabos com esquema rítmico ABA/BCB/CDC e assim por diante. Com isso, o poema tem uma continuidade da rima, criando expectativas para a estrofe seguinte, na qual uma das rimas será concluída e a outra iniciada.
O retorno a Dante compõe estruturalmente o poema, mas ultrapassa as questões da máquina do mundo que aparecem na Comédia. O poema de Haroldo é carregado do conhecimento cosmofísico disponível na virada do milênio, assim como reflete sobre as questões pessoais de seu autor, septuagenário, e suas dúvidas apontadas por um agnosticismo caminhando entre a fé e a ciência, com uma curiosidade incessante e uma sede pela busca, um desbravamento até chegar à origem do mundo, à revelação dos grandes mistérios.
Segundo Stephen Hawking (em Breves respostas para grandes questões), “a grande questão em cosmologia no início dos anos 1960 era saber se o universo teve um início. Muitos cientistas se opunham instintivamente a essa ideia, porque sentiam que o ponto de criação seria um lugar onde a ciência sofreria um colapso”. E qual seria, enfim, esse colapso? Seria o da religião ou mesmo o da figura paterna de um Deus criador? Ou seria o da ciência, atingindo a resposta máxima sobre a origem do universo? O que esse colapso nos diz sobre a nossa própria concepção de gênese?
Com as descobertas de Hawking na década de 1970 sobre os buracos negros, ficou claro que a relatividade geral não funcionava nas singularidades, como na colisão de dois buracos negros, por exemplo. O próximo passo então, para Hawking e outros depois dele, foi buscar uma maneira de conciliar a relatividade geral com a física quântica. Haroldo, no Canto II de seu poema, aborda essa questão do ponto de vista de um Einstein que se recusou a prosseguir com a própria teoria, com o monstro que ele mesmo criou, ao se deparar com as possibilidades da mecânica quântica e o que elas significam para o mundo.
A máquina do mundo repensada é dividida em três partes, assim como a Comédia. No Inferno, Dante se depara com três feras – a pantera, o leão e a loba, representando três tipos de pecado – que o impedem de subir a colina, obrigando-o a adentrar a mata escura. Na primeira parte da obra de Haroldo, as três feras dantescas também aparecem, obrigando o poeta a seguir o caminho mais penoso, o do sertão, “mais árduo que floresta”. É o início de sua caminhada, de sua jornada em busca da origem do universo e das leis de funcionamento do mundo. Ele traz, logo no primeiro verso, Dante a caminhar pelo inferno e, a partir da oitava estrofe, Camões, descrevendo como a máquina do mundo apareceu a Vasco da Gama, esse herói lusíada que pôde, através dela, acessar o “alto saber que aos seres todos rege” e “que excede na fábrica e no engenho a humana mente”. A máquina se expôs, assim, ao olho de um mortal e, a partir da 18ª estrofe, Haroldo traz Drummond, a quem a máquina também foi ofertada, abrindo-se à contemplação, mostrando o que “à glosa escapa e à não razão é dada”. Drummond, no entanto, como já se sabe, recusa a oferta e não acessa o saber dado pela máquina. O Canto I do poema de Haroldo termina com essa recusa, que marca o fim de uma era, o fim do ciclo ptolomaico.

Assim entramos no Canto II, no espaço de uma nova ciência, de uma cosmofísica moderna, que responde a muitos dos mistérios do universo por meio da razão humana. É dessa forma que o poeta se arrisca “a testar noutro sistema” sua agnose. Quem sabe assim, com as explicações científicas sobre a origem do mundo, “desenigme-se o dilema”. Quem sabe o poeta seja convencido a abandonar prévias crenças pela certeza da “explosão primeva”, do Big Bang. Vemos, poeticamente, uma evolução da cosmofísica, um panorama científico, em que aparecem nomes como Galileu (“aquele que heliocentra o sistema”), Einstein (“que encurva o espaçotempo”), Newton e sua maçã, Laplace e Maxwell, com seus respectivos demônios.
À famosa frase de Einstein – “Deus não joga dados” – Hawking rebate com ironia: “Considerando o que os buracos negros sugerem, Deus não só joga dados, Ele às vezes nos confunde jogando-os onde ninguém os pode ver”. Explica que, para que nós possamos compreender a origem do universo, “devemos incorporar o princípio da incerteza à teoria da relatividade geral de Einstein”. Deus lança os dados e não é possível, portanto, abolir o acaso e a imprevisibilidade da existência do mundo. Um poema também jamais abolirá o acaso. Ele pode, inclusive, evidenciá-lo, apesar do controle e da estrutura. Existem, no espaço do texto, elementos capazes de escapar ao próprio autor, que nem sempre pode prever todas as suas possibilidades ou os resultados de sua potência criativa. O Canto II se encerra, dessa forma, com a recusa de Einstein.
Esse ponto marca, também, o início do Canto III, quando o próprio Haroldo se lança, destemido e curioso, ao avanço científico que Einstein recusou e ao avanço poético que ele mesmo faz ao “descortinar” a gesta do cosmos – nessa “cosmopoética” que é A máquina do mundo repensada, na expressão do próprio Haroldo. Ele não recua diante das possibilidades incertas e imprevisíveis despertadas pelo jogo quântico de Einstein e se ergue ao mirante, como Dante no Paraíso, em busca da revelação fundamental e completa do cosmos.
BIG BANG/BIG CRUNCH: DESCAMINHOS POÉTICOS
O “descaminho” ou o “desrumo” de Haroldo, como ele mesmo os chama, o conduziram à busca constante. No Canto I, onde “quisera” ele “como Dante em via estreita / extraviar-se no meio da floresta”, ele passa pela árdua travessia do sertão, carregando consigo a “tormenta da dúvida” que tanto o angustia. A dúvida é em relação à máquina do mundo, ao seu funcionamento, às leis do universo, mas também é uma dúvida que se dirige a ele mesmo e ao texto. No Canto III ele retorna à via estreita, assinalando a própria sina-sentença: “perseguir a reflexão sem cura”. Haroldo, aos 70 anos, continua a buscar no poema (e por meio de sua linguagem) as respostas aos questionamentos essenciais da vida.
No fim do poema, ele pergunta: “Sigo o caminho? Busco-me na busca?” e é uma espécie de recolhimento interno que conduz o texto a terminar da forma que termina, com a coda: “O nexo o nexo o nexo o nexo o nex”. A busca pela origem do mundo se junta à busca pela origem de si, a ponto de transformarem-se, poeticamente, em uma só. O “recolher-se por dentro”, assim como o “remirar-se no espelho do perplexo” indicam um possível fim do caminho, nesse momento em que o poeta observa de perto os paradoxos que levantou através da história da cosmofísica e das aparições poéticas da máquina do mundo.
Da mesma forma que existe iconicamente um Big Bang dentro da obra, uma explosão poética inicial na qual ela nasce e se expande ao longo dos cantos, ambiciosa e desbravadora, existe também um Big Crunch, um Grande Colapso, que a contrai de tal maneira que, devido à atração gravitacional, ela colapsa sobre si mesma no fim. Volta ao zero, ao ponto ínfimo, ao quanta, ao subatômico, ao retorno de tudo, ao fininício, ao pranto final e primordial. É outro paradoxo que o impede de chegar à resposta definitiva do mundo. Dessa forma, podemos considerá-la uma obra circular, já que depois do colapso, é possível um renascimento e uma expansão que, em seu ciclo natural e poético, se contrairá até o fim.
Novamente recorremos a Hawking para considerações teóricas sobre algumas das mais fundamentais questões sobre o universo: “o Cosmo tem dois possíveis destinos. Pode continuar se expandindo sempre ou contrair-se de novo e terminar com o Big Crunch. Sou defensor da segunda tese. Tenho, sem dúvida, certas vantagens sobre outros profetas do fim do mundo. Aconteça o que acontecer, é pouco provável que dentro de mil milhões de anos eu esteja aqui para me dizerem que estava enganado”.
A respeito do verso final, o físico e poeta Roland Campos (em Arteciência: afluência de signos co-moventes) escreve que, através dele, temos “justamente o arremate que injeta o imprevisto, a surpresa, na regularidade anterior, desenhando uma ruptura imediata, resolutamente icônica: o artigo ‘o’ – agigantado no início do verso –, que assessora o percurso persistente do substantivo ‘nexo’ e evapora-se ao final. E este ‘o’ admite ser lido alternativamente como ‘zero’, ou visto ainda como um pequeno círculo, a sugerir um recomeço”. É uma possibilidade de recomeço constante, instigada novamente pela busca ao desconhecido, pelo destemor em relação ao novo, pela coragem de dar um passo rumo à incerteza e à imprevisibilidade. O fim e o começo andam entrelaçados, imersos num jogo de possibilidades e acasos que, talvez como Dante e Vasco da Gama, possamos até mesmo ver, mas ainda não somos capazes de compreendê-lo integralmente.
No fragmento intitulado o que mais vejo aqui neste papel, do livro Galáxias, Haroldo nos mostra o vazio do papel, os silêncios que percorrem as palavras e o nada que aparece nesse livro em que a viagem falha e o silêncio fala. A viagem de Haroldo não é a viagem turística. Não só. É o que acontece quando o turismo em seu script programado desaparece e dá espaço para o imprevisto da vida que se sobressai: a vida que está acima do roteiro, que encara suas falhas e que enxerga no movimento o silêncio e no caos a beleza. Afinal, a viagem faz-se também no espaço do vazio e do finir, no espaço do branco sobre o branco e do não escrever.
Em A máquina do mundo repensada, Haroldo rompe com a sintaxe tradicional e quebra com a expectativa poética do leitor, apresentando-lhe o que o autor chama de uma “sintaxe em abismo”. Haroldo usa no livro a terça-rima, como já vimos, mas o faz de uma maneira não convencional. Ele utiliza rimas propositalmente imprevisíveis, que surpreendem não apenas por quebrar com o fluxo esperado, mas por acrescentar “quase-rimas”, paronomásias e assonâncias que desafiam uma experiência linear de leitura. De acordo com o próprio poeta (ainda em Depoimentos de oficina), ele procurou perturbar, por meio dos hipérbatos e das torções sintagmáticas, “a fluência normal do decassílabo, conferindo-lhe uma ‘sintaxe em abismo’, que roça, às vezes, pelo ‘indecidível’”.
O jogo da “sintaxe em abismo” de Haroldo é capaz de gerar, por meio de sua imprevisibilidade, esse espaço do “entre”, que escapa das simples oposições semânticas. A máquina do mundo repensada habita no espaço indecidível da agnose, que em seu prefixo “a” indica uma negação ao conhecimento, mas que funciona também como uma negação a toda e qualquer certeza. Ela afirma, portanto, o caráter incerto e imprevisível do conhecimento, afirmando a negação e negando a afirmação. Entre uma e outra, ela existe na ruptura sintática do poema e na certeza final da dúvida, na curiosidade humana inesgotável e na “hermenêutica do enigma”.
O abismo é precisamente o lugar que não se conhece. Não se sabe o que existe em seu fundo e quão fundo ele mesmo é. Uma sintaxe em abismo se desdobra em múltiplos elementos que não acomodam a semântica tradicional, pois nos interrompem constantemente com seus traços imprevisíveis, com sua entropia (para retornar à física) desconcertante que joga com as palavras e torna o texto irreversível: não é mais possível, dentro de seu espaço-tempo, voltar a uma sintaxe tradicional. Não estamos diante da lógica clássica, mas, sim, numa busca analógica, junto ao poeta, pelas respostas aos mistérios do universo e isso é feito na linguagem de uma sintaxe em abismo, desafiadora e desbravadora. O caminho árduo tomado por Haroldo é compartilhado com o leitor, que se esquiva, como ele, das três feras e caminha junto à incerteza que o assombra e ao mesmo tempo o estimula. “Meu fácil me enfada. Meu difícil me guia”, já dizia Paul Valéry na tradução de Augusto de Campos.
Haroldo se define como um poeta brasileiro “de vocação ecumênica”, afirmando a convergência entre os dois termos, já que “existe uma dialética universal e nacional que diz respeito à própria natureza da literatura”. Esta é “uma cadeia transmissiva constante, é uma permanente sucessão de interpretantes”. A tentativa das Galáxias, por exemplo, de criar uma ruptura das fronteiras entre a prosa e a poesia se insere, segundo o autor, “nesse fluxo sígnico deflagrado pela literatura”.
A gesta galática aparece, n’A máquina do mundo repensada, no Canto III, na tentativa que o poeta faz de “descortinar” a gesta do cosmos. Como Dante, ergue-se ao mirante para ver a máquina do mundo, entender a origem de tudo o que existe e zerar o enigma. O Big Bang, o “abre-te, Sésamo desse proscênio” “explode o ovo cósmico” e ecoa, pela radiação cósmica de fundo, como um “fantasma em retrospecto” nos indicando o início de tudo, o “ejacular de estilhaços de fogo da primeva pulsão”. O eco do Big Bang nos assombra como espectro do enigma desvendado, como rastro da primeira radiação. Carlo Rovelli, nas Sete breves lições de física, diz que “o mundo é um pulular contínuo e irrequieto de coisas, um vir à luz e um desaparecer contínuo de efêmeras entidades. Um conjunto de vibrações. Um mundo de eventos, não de coisas”. Prever o futuro, assim como “prever” o passado, torna-se mais difícil por conta disso: estamos lidando com o dinamismo dos eventos, das singularidades, e não com a previsibilidade estática das coisas. A agnose que “tinge a razão de uma cor que entenebrece” põe em xeque a plena confiança no pensamento científico ao passo que duvida da aceitação total da religião.
Para terminar minhas palavras em um tom quiçá menos apocalíptico, posso dizer que em Haroldo, assim como em Guimarães Rosa, a vida continua a querer o mesmo de nós que ela sempre quis: coragem. A coragem de mudar a direção e o(s) sentido(s) em que caminhamos deve ser levada a sério tanto quanto a coragem de enxergar o que já perdemos. Todas as espécies extintas, toda a água poluída, todo sentido perdido: falta-nos reconhecê-los como tal em sua desesperançosa realidade, que é também a nossa e que é também passível de mudança. O poema nos lança nesse difícil território, no espaço da nossa própria sorte/azar (le hasard), apresentando-nos a máquina do mundo, com suas leis explicadas pela Física, todavia ainda incapazes de conter os danos do comportamento humano. Ao mesmo tempo, Haroldo olha adiante, contemplando, em seu desrumo, o porvir, ao afirmar a curiosidade e a coragem como engrenagens necessárias a essa complexa máquina que é o humano.