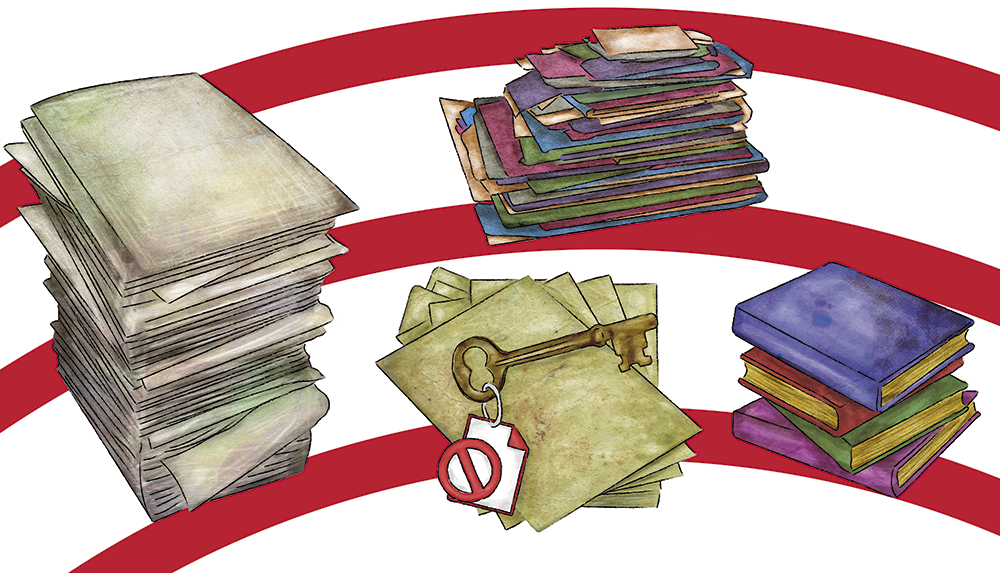
A discussão sobre acesso à bibliografia teórico-crítica em formatos digitais é um debate que, no Brasil, nos raros momentos em que vem à tona, fica estrangulada pelo enquadramento jurídico. A lógica comercial da indústria do livro deixa assim de ser confrontada com a necessidade de democratização do conhecimento e com as práticas reais do ensino universitário.
Pouco depois de me tornar professora de uma universidade federal, chamou-me a atenção a ausência de um debate mais consequente sobre a constante ameaça que pairava sobre a reprodução de livros e fragmentos de livros nos campi universitários. Essa ameaça de proibição recaía sobre os professores que, efetivamente, poderiam ser processados pelo uso de textos reproduzidos, fosse em xerox ou em formato digital. Não é incomum que, de tempos em tempos, o corpo docente das universidades brasileiras receba, através das reitorias, carta da Associação de Direitos Reprográficos explicitando sua disposição de buscar meios jurídicos para impedir e penalizar a reprodução de livros científicos e mesmo capítulos soltos, assim como a prática de constituição das célebres “pastas de professores” nos campi. O tema não é novo, se arrasta pelo menos desde os anos 1980, mas a caça à xerox vem sendo substituída pela caça ao PDF desautorizado. Ainda assim, os livros digitais ou digitalizados são elemento crucial para a difusão de conhecimento e para o desenvolvimento de pesquisas e debates qualificados em todo o mundo.
O diálogo de surdos sobre o tema envolve de um lado as corporações editoriais que se limitam a reafirmar as leis de direito autoral, sem sequer considerar que os cursos universitários trabalham muito mais com capítulos que com livros inteiros. Negligenciam assim o quanto haveria a ser feito nesse sentido em termos comerciais, com a venda de capítulos avulsos a preços módicos ou a venda de pacotes de passes de acesso a capítulos em separado por meio de chaves institucionais especialmente elaboradas para o uso de estudantes e professores.
Ocorre que as universidades públicas e os órgãos competentes ainda não desenharam ou implementaram, a nível nacional, uma política de aquisição de livros digitais ou digitalizados compatível com a demanda de professores, pesquisadores e estudantes. Isso torna urgente refletir sobre uma flexibilização de políticas editoriais que incorporasse uma agenda de acesso livre e a promoção de formatos digitais voltados para o ensino universitário.
Em todo o mundo, a indústria editorial vem sendo chamada a discutir esse problema, em conexão com o direito fundamental ao conhecimento e à livre circulação de informação científica. Crucial para esse debate é reconhecer o papel complementar, e não antagônico, do acesso livre ou aberto, o open access. A dificuldade de encarar o problema de frente, para além da violência jurídica que ameaça leitores e docentes, deixa claro o quanto, no Brasil, o conhecimento produzido na academia ainda é visto como um bem basicamente privado, uma commodity. Nesse sentido é que interessa perguntar: por que diversas universidades latino-americanas — e penso aqui mais especificamente no caso mexicano — instituíram mecanismos de proteção jurídica para a reprodução de livros no ambiente da universidade, coisa que no Brasil nunca ocorreu?
Olhar de frente para a questão significa, de um lado, discutir o direito ao conhecimento e seu papel para a construção de um mundo mais igualitário; de outro, entender como se dá o acesso efetivo e dinâmico à bibliografia no contexto de formação acadêmica. A pergunta básica a ser feita, então, seria: como lê o estudante universitário brasileiro? E a resposta, na maior parte dos casos, será que lê PDFs no telefone celular, no trajeto de ida e volta para casa. Hoje, a alternativa é comprar cópias xerox e gastar nisso R$ 250 a R$ 300 por semestre, opção insustentável para a maioria dos alunos de baixa renda.
Se as editoras que publicam a bibliografia fundamental ou mais relevante para os estudos universitários desejarem participar de fato desse debate, para além da postura meramente corporativista de censores morais dos hábitos de leitura e difusão, precisam antes encarar a realidade da vida do estudante e do professor. Quantos livros um professor precisa adquirir, usando seu salário, para se manter atualizado em sua área de pesquisa e ensino? A questão de timing envolvida é geralmente desconsiderada ou minimizada quando se fala da atualização dos acervos. O processo moroso de aquisição de livros solicitada pelos vários departamentos passa por diversas instâncias de deliberação e aprovação antes que o livro seja finalmente adquirido e acabe disponível para consulta ou empréstimo nas bibliotecas. Ainda assim, o número de exemplares será sempre menor que o necessário — inclusive pela falta de espaço físico nas estantes, outro problema que cresce exponencialmente ano a ano e mereceria maior atenção das editoras que resistem à publicação de versões digitais das obras de seu catálogo. É curioso também que muitas editoras comerciais não percebam que o professor que utiliza PDFs desautorizados é também o maior comprador dos livros teórico-críticos que elas editam. Criminalizar o cliente não me parece uma boa estratégia.
É preciso levar adiante o debate público sobre o open access, não enquadrado numa lógica filantrópica, mas porque o acesso livre contempla a importância dos princípios do right to know, o direito de saber, que cada vez vem sendo mais claramente delineado no âmbito jurídico internacional. Nesse sentido, importa observar que nos próximos anos a União Europeia tornará obrigatória a publicação, em sistema de acesso livre, de todos os livros e artigos derivados de pesquisas por ela financiadas. No Brasil, a biblioteca eletrônica científica online Scielo, originalmente um projeto da Fapesp e que hoje conta com apoio do CNPq, é o repositório de periódicos em acesso livre mais relevante no país, mas sua estrutura mereceria um questionamento à parte. Já está claro também que o open access por si só não será capaz de evitar a capitalização do conhecimento científico, exposto à captura e mercantilização pelos oligopólios editoriais que já estão ajustando seu modelo de negócios à era da publicação digital em acesso aberto.
Quando, em 2015, comecei a vislumbrar a criação de uma Pequena Biblioteca de Ensaios, em sistema de acesso aberto, dentro da Zazie Edições, pesquisei formatos digitais, suas especificidades, vantagens e desvantagens práticas. Editores de revistas online no início dos anos 2000 relataram experiências traumáticas de colapso de plataformas em que tudo se perdia, exceto os PDFs. Além de ser o formato mais difundido entre estudantes, o PDF (Portable Document Format, “formato de documento portátil”) é, digamos, a barata dos padrões de documentos informatizados, pois sobrevive até às grandes calamidades digitais. Foi criado no início dos anos 1990 com a intenção de reduzir o uso de papel dentro de empresas, escritórios e instituições, e por isso era necessário um formato “universal” passível de abertura em qualquer sistema operacional e em qualquer tipo de computador. Não tenho a menor dúvida de que o PDF seja o melhor formato digital para quem trabalha com a democratização do conhecimento, muito embora várias pessoas o considerem rígido demais, pois não se adapta ao formato de tela de cada dispositivo. Nos debates sobre o mercado editorial, por sua vez, o PDF sempre aparece sob uma luz maligna, equacionado com a pirataria imperdoável decidida a vitimar os direitos autorais.
O PDF interessa por sua estabilidade e por ser um dos chamados “formatos abertos”. Não faltam tentativas de criar formatos capazes de competir e talvez desbancá-lo, mas nenhum deles vingou até agora. As editoras brasileiras, mesmo as que publicam livros acadêmicos, ainda resistem ao PDF, o que já não ocorre na Europa, onde são muitas as plataformas que o adotam sem preconceito, tanto em sistemas gratuitos quanto nos que cobram pelo acesso.
Na mesma época em que o PDF estava sendo elaborado, o físico norte-americano Paul Ginsparg lançava as bases para o que mais tarde ficaria conhecido como o sistema de open access. A ideia inicial era suprir a demanda de material bibliográfico para a educação. Cientistas da computação já vinham armazenando anonimamente, desde os anos 1970, arquivos de textos através do protocolo de transferência de arquivos FTP, enquanto físicos faziam o arquivamento de seus materiais na plataforma arXiv. Stevan Harnad, pesquisador de ciências cognitivas, apresentou sua Subversive proposal, ou proposta subversiva, durante uma conferência em Londres: nela, convocava os autores a arquivarem seus próprios artigos para permitir o acesso gratuito por seus pares, na forma de arquivos FTP anônimos. Em 2002, a conferência da Budapest Open Access Initiative (BOAI) gerou um documento contendo importantes diretrizes para as políticas de acesso livre e aberto, além de formular a definição de open access que vigora ainda hoje. Este foi um resumo simplório de uma história fascinante e complexa que diz respeito a todos nós que trabalhamos com produção e difusão de conhecimento e que nos entendemos como parte de uma comunidade científica.
Até pouco tempo atrás, a Capes usava 15% do seu orçamento total só para comprar o acesso aos periódicos internacionais que disponibiliza em seu Portal de Periódicos. Esse valor, cerca de R$ 400 milhões ao ano, é uma verba pública assim capturada para o financiamento de empresas estrangeiras que dominam o mercado editorial científico, muitas vezes a preços extorsivos. O pesquisador brasileiro ainda enfrenta a barreira linguística para circular no ambiente acadêmico internacional — o país carece, por exemplo, de políticas de financiamento de tradução de artigos e livros científicos produzidos em nossas universidades, muitas delas vistas como centros de excelência. Uma política de acesso em mão dupla implica portanto o fomento à tradução, levando em conta que o português é uma língua periférica no universo acadêmico. Hoje em dia, sobretudo na área de humanidades, muitas vezes é o próprio professor pesquisador que arca com esse custo para ter seu trabalho publicado em revistas estrangeiras.
Uma nova economia editorial está se desenhando, e nas próximas décadas tendem a ser mais intensos os confrontos entre a perspectiva puramente comercial, que trata o conhecimento como produto, e a defesa do direito ao saber, promovido pelas comunidades cientificas em escala global. O leitor, antes reduzido a mero consumidor de livros, começa a ser visto em outros termos, cidadão de um mundo onde a distribuição do conhecimento também é muito desigual.
O papel complementar, e não antagônico, do open access na difusão bibliográfica é decisivo para a interlocução intelectual, o desenvolvimento da pesquisa e a consolidação do ensino público gratuito e de qualidade. O leitor, sobretudo os jovens universitários, vem adensando a luta pelo acesso igualitário à informação científica. A dificuldade de abordar de frente o problema do acesso real e efetivo aos livros evidencia que, no Brasil, conhecimento e informação acadêmicos ainda são vistos predominantemente como bens privados. Não por acaso, muitos alunos de pós-graduação do mundo todo incluem em seus agradecimentos o nome de Alexandra Elbakyan, a estudante de neurociências e computação, programadora e ciberativista cazaque que, opondo-se aos valores extorsivos cobrados pelas revistas cientificas de sua área, criou o site Sci-Hub, no qual a bibliografia teórico-crítica e científica pode ser baixada gratuitamente em PDFs. Em 2016, a revista Nature indicou seu nome entre os das dez pessoas mais relevantes para a ciência em todo o mundo. Quem nunca usou em aula um PDF não autorizado atire a primeira pedra.