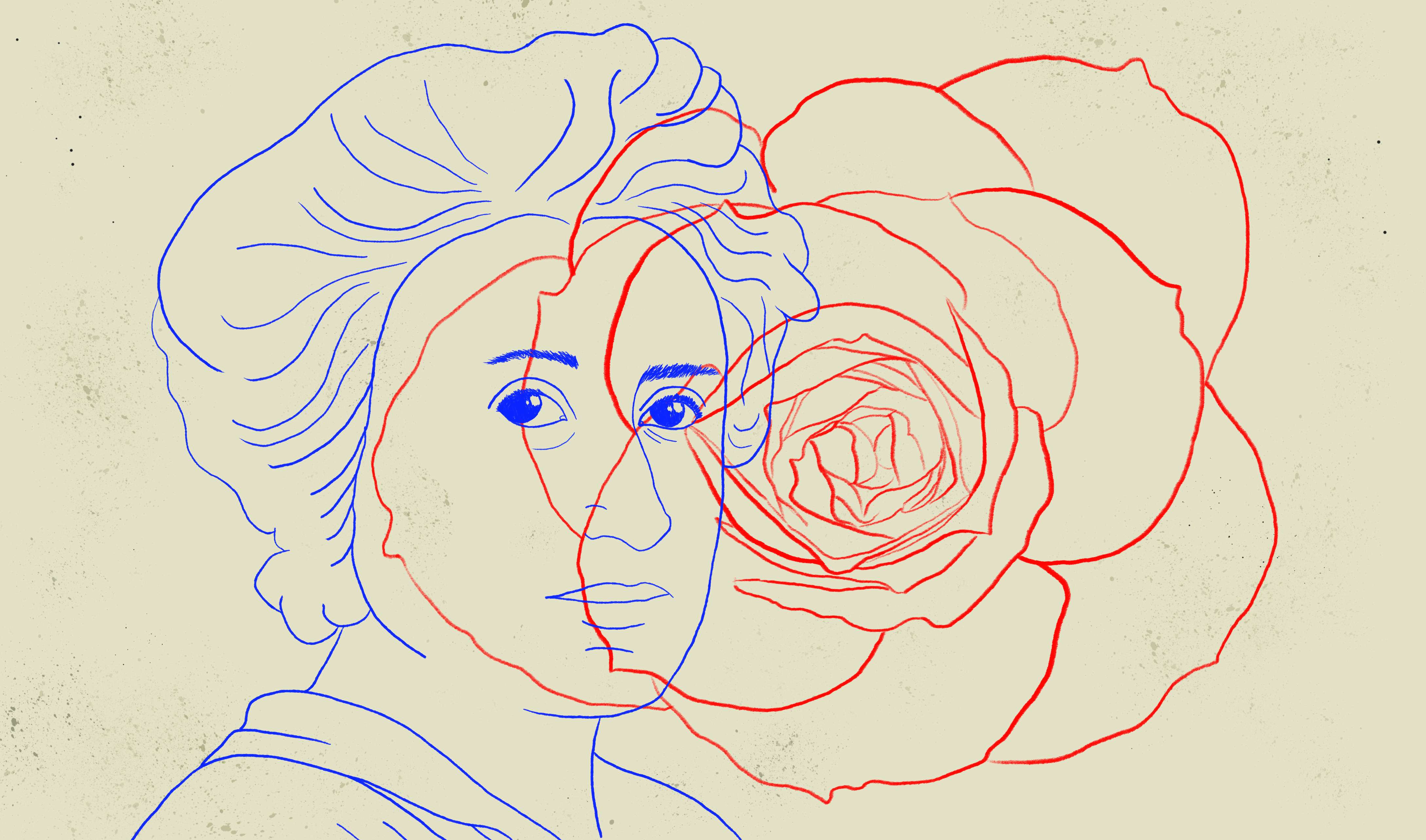
A seguir, um enxerto de Rosa Luxemburgo: pensamento e ação, de Paul Frölich, uma biografia da revolucionária alemã que a Boitempo Editorial lança neste mês. A tradução é de Nélio Schneider e Erica Ziegler.
***
A ESCOLA DO PARTIDO
No ano de 1906, a social-democracia alemã criou em Berlim uma escola do partido. Até a irrupção da guerra, a cada inverno, cerca de 30 companheiros eleitos pelas organizações distritais e pelos sindicatos se formaram em ciências sociais e nas disciplinas práticas da agitação. A escola foi a expressão do poder organizacional do movimento dos trabalhadores. Era necessária para assegurar uma nova geração qualificada de redatores, agitadores e outros agentes ligados ao movimento. (…) Parece que Rosa Luxemburgo foi vista desde sempre como docente. Do primeiro curso, no entanto, ela não participou, ou porque se recusou, ou porque os sindicatos fizeram objeção. A polícia prussiana interveio no quadro docente e ameaçou extraditar o austríaco Hilferding, caso continuasse a lecionar e, assim, a partir de 1907, Rosa assumiu o curso de economia política, isto é, a introdução às teorias econômicas de Karl Marx.
Rosa Luxemburgo foi uma professora destacada, e não só pelo domínio absoluto de seu campo. Ela era um talento pedagógico de primeira grandeza. Como autora e oradora, esse talento foi responsável por parte de seu êxito e agora podia se desenvolver plenamente. A tarefa não era fácil. O capital, de Marx, constituía a base do curso, mas não era um livro didático popular; e a compreensão correta de suas teorias pressupunha sólidos conhecimentos no campo econômico e social. Porém, os alunos eram uma miscelânea de meios muitos diferentes (…) a maioria havia sido preparada apenas por escritos de agitação, eram raros os que estavam habituados ao pensamento científico. Na primeira aula, a professora estabelecia contato com os alunos. Não ensinava nem apresentava resultados prontos. Ela obrigava os alunos a elaborar os conhecimentos por si mesmos.
Primeiro, ela tratava das diferentes formas econômicas, suas características, mutações e causas. Em conexão com elas, examinava as teorias econômicas mais importantes antes e depois de Marx. Depois de elaborar durante semanas um quadro geral do desenvolvimento factual das relações de produção e troca e seu espelhamento na ciência burguesa, trabalhava as teorias de Marx com o auxílio de O capital. Durante todo o curso, restringia ao mínimo necessário o material que ela própria tinha de ensinar. Buscava dentro da cabeça dos alunos o que eles tinham de conhecimentos e concepções e submetia-os a uma verificação minuciosa com intervenções e perguntas sempre novas, até o quadro real da vida tomar forma. O processo cognitivo propriamente dito era tarefa dos próprios alunos. Nessa atividade, ela se ocupava dos mais talentosos. Sempre mantinha todos atentos. E, se algum sonhador lhe escapava, ela infalivelmente o despertava com uma pergunta bem direcionada, contornava seu embaraço com uma observação espirituosa e restabelecia o contato. (…)
A grande arte do relacionamento humano, própria de Rosa Luxemburgo, efetivou-se nesse curso. Por mais que fosse superior aos alunos em termos de saber, força do pensamento, personalidade, isso passava para o segundo plano no trabalho comum, de modo que ninguém se sentia pressionado, nem sequer se dava conta disso, até que o curso terminava e o encanto se quebrava. Ela incutiu profundamente em seus alunos o desprezo ao diletantismo científico e à covardia de pensamento, ensinando-os a respeitar e entusiasmar-se com qualquer ato científico. O trabalho em conjunto proporcionou aos alunos um ganho não só intelectual, mas também moral. (...)
INTRODUÇÃO À ECONOMIA POLÍTICA
A atividade docente na escola do partido deu origem a duas obras de Rosa Luxemburgo: Introdução à economia política e A acumulação do capital. Do primeiro trabalho, infelizmente, restaram apenas alguns fragmentos. Por uma carta ao editor J. H. W. Dietz, escrita na prisão militar feminina de Berlim, no dia 28 de julho de 1916, conhecemos a estrutura integral da obra, que abrangia os seguintes tópicos:
1). O que é economia política?; 2) O trabalho social; 3) História da economia: sociedade protocomunista; 4) História da economia: sistema econômico feudal; 5) História da economia: a cidade medieval e as corporações de ofício; 6) A produção de mercadorias; 7) Trabalho assalariado; 8) O lucro do capital; 9) A crise; 10) As tendências do desenvolvimento capitalista.
No verão de 1916, os dois primeiros capítulos estavam prontos para impressão e já havia uma primeira redação dos demais. Contudo, no espólio luxemburguiano, foram encontrados apenas os capítulos 1, 3, 6, 7 e 10. Paul Levi os publicou em 1925, infelizmente com muitos erros, alterações arbitrárias e omissão de notas importantes. Se a íntegra do livro estivesse disponível, teríamos diante de nós o material completo dos cursos. (…)
Pela estrutura e pelo tema dos capítulos é possível ver que o livro faz uma exposição condensada das teorias econômicas de Karl Marx. Porém, ao contrário dos divulgadores de Marx, Rosa Luxemburgo não parte das categorias econômicas elementares. Ela esboça as grandes etapas da história social e econômica da humanidade e as entretece com a crítica das teorias sociais, que são reflexo dessa história. E, decididamente, não procede “sem ira e zelo”. Enquanto na escola do partido chegava à solução dos problemas malhando com os alunos os erros e as meias verdades, no livro ela se vale dos equívocos, das bobagens e das evasivas interesseiras dos grandes luminares da ciência. Era o ensejo sempre bem-vindo para tirar das cabeças as teias de aranha com vigorosas espanadas. Com a mesma alegria com que Lassalle esfolou Julian Schmidt, ela esfolou os corifeus e mostrou que afirmações aparentemente profundas não passavam de fraseologia oca.
Farejou por trás da insuficiência científica a debilidade moral do adversário de classe e bateu nele com vontade. Porém, os duros golpes no corpo científico não são firulas para animar a exposição ou simples excessos polêmicos. Eles estão estreitamente ligados ao tema. Se, por um lado, visam mostrar como os conhecimentos dos mestres das ciências sociais são influenciados e inibidos pelos interesses históricos de sua classe, por outro, pretendem mostrar que a ciência econômica sempre foi um instrumento de luta na luta de classes. Rosa Luxemburgo prova que a economia política se tornou necessária quando, em razão da economia anárquica do capitalismo, as relações econômicas se tornaram opacas e, graças à concorrência e à economia do dinheiro, apareciam como em um espelho deformador. Além disso, prova que a ciência econômica surgiu como uma arma da burguesia contra o feudalismo e, nessa condição, realizou façanhas, mas com o despontar do movimento dos trabalhadores converteu-se em cega defensora do status quo e seus representantes liquidaram pouco a pouco conquistas intelectuais decisivas até se converterem eles próprios – à medida que procuravam soluções teóricas universais – à mística econômica ou à bufonaria pseudocientífica (como Sombart). Por fim, prova que, em Marx, a “crítica da economia política” é a arma do proletariado na luta de classes e que uma economia socialista planejada não precisa da economia política como ciência. Partindo do protocomunismo, o leitor assiste ao surgimento, desenvolvimento, função e dissolução da ordem econômica e social até o capitalismo, do qual se evidencia o mecanismo interno e se mostra a inevitabilidade do colapso por suas contradições internas. Em estreita conexão com a história e a investigação dos problemas teóricos da economia, Rosa Luxemburgo apresenta ao mesmo tempo uma história das teorias sociais burguesas e socialistas à luz do materialismo histórico, um empreendimento que aqui foi tentado pela primeira vez de modo abrangente.
A ACUMULAÇÃO DO CAPITAL
Rosa Luxemburgo trabalhou vários anos em sua “economia política”. A atividade docente na escola do partido, a agitação a favor da social-democracia alemã, as controvérsias táticas com oponentes no partido e trabalhos abrangentes para os movimentos polonês e russo foram postergando a conclusão da obra. Quando, no início de 1912, ela quis concluir o trabalho pelo menos em suas linhas básicas, deparou-se com uma dificuldade inesperada:
“Eu não estava conseguindo expor com clareza suficiente o processo global da produção capitalista em suas relações concretas nem seu limite histórico objetivo. Examinando melhor, cheguei à conclusão de que não se trata apenas de uma questão expositiva, mas também existe um problema que está teoricamente em conexão com o conteúdo do volume II de O capital de Marx e, ao mesmo tempo, interfere na práxis da atual política imperialista, assim como de suas raízes econômicas”.
Assim, Rosa Luxemburgo descreve como redigiu sua principal obra, A acumulação do capital. O problema teórico com que se deparou exige um conhecimento muito preciso da teoria marxiana e não há como expô-lo em poucas palavras. Aqui só podemos tentar compreendê-lo de maneira aproximada. (…) A partir de 1929, a economia mundial foi abalada por uma crise muito profunda, sem precedentes no capitalismo. Irrompeu logo após os prejuízos da Grande Guerra terem sido sanados, quando os fios rompidos do mercado mundial haviam sido reatados e um crescimento breve e forte despertara um novo otimismo. No entanto, já o período de crescimento de 1924 a 1928 teve traços preocupantes, que o diferenciou das conjunturas da época anterior à guerra. Em primeiro lugar, os países capitalistas mais importantes (EUA, Grã-Bretanha, Alemanha e outros) apresentavam no ponto mais alto da prosperidade um nível de desemprego muitas vezes maior do que antes da guerra, no ponto mais baixo da crise, e a capacidade de produção dos parques industriais não era plenamente utilizada. A crise de 1929 durou em anos o que as crises anteriores duraram em meses. Gerou um desemprego de 10 a 20 vezes maior que o período anterior à guerra. Deixou segmentos inteiros quase totalmente improdutivos. (…) É certo que, depois de anos de estragos terríveis causados pela crise, houve uma retomada temporária da produção, mas ela não atingiu a totalidade do mercado mundial e foi causada sobretudo por uma produção fantástica de armamentos pelos governos fascistas. Nesse processo, os Estados se isolaram cada vez mais e começaram guerras de conquista com um ímpeto cada vez maior. O destino inevitável era a ameaça de uma nova guerra mundial.
Esse desenvolvimento catastrófico é casual, deve-se a erros dos capitalistas ou dos governos que poderiam ter sido evitados? Ou se realiza nele uma legalidade inerente à mecânica do capitalismo?
Rosa Luxemburgo, em companhia de muitos outros marxistas, estava convencida de que a Primeira Guerra Mundial e todas as guerras se originam da essência da ordem social capitalista. Além disso, ela descobriu que as mesmas causas que geram as guerras modernas também destroem as condições de existência da economia capitalista. E previu que o colapso do capitalismo ocorreria exatamente nessas crises econômicas e políticas de que somos testemunhas. Porém, ela não conseguia demonstrar essa legalidade histórica numa “economia política” baseada em O capital, de Marx. Sua convicção era errônea ou o que Marx ensinava não era suficiente? Essa era a pergunta; e, para a concepção global de Rosa, a resposta a essa pergunta era extremamente importante. Toda a sua atuação política se baseava nesse conhecimento científico. Tinha raízes profundas nela a ideia de que o socialismo só seria uma certeza se fosse comprovado cientificamente que o capitalismo seria destruído pelas contradições imanentes a ele.
A dificuldade era resultado da pergunta: a economia capitalista, que se distingue dos demais sistemas econômicos por sua dinâmica crescente prodigiosa, poderá se desenvolver de modo constante e sem entraves? A ciência não contesta que essa possibilidade de desenvolvimento é a condição da existência do capitalismo. Em toda economia anterior, a produção era para uso imediato e o produto era consumido pelo senhor e pelo servo. Quebras de colheita, guerras e epidemias podiam provocar catástrofes. Porém, crises advindas da legalidade inerente à ordem econômica, crises causadas pela superprodução, massas com fome apesar dos celeiros cheios, destruição de produtos úteis para recuperar as condições “normais” de produção – esses fenômenos da nossa economia eram impensáveis. É certo que, na economia capitalista, a demanda social tem de ser bem ou mal-atendida, mas o motivo que impulsiona a produção não é esse, e, sim, o lucro. O lucro provém do mais-trabalho que o trabalhador realiza além do trabalho necessário para satisfazer sua demanda vital – visando à reprodução constante da força de trabalho. Porém, o lucro só é “realizado” quando há compradores suficientes para as mercadorias produzidas. O capitalista que consegue produzir mais barato terá as melhores perspectivas de vender suas mercadorias, de realizar seu lucro. Portanto, a concorrência o impele a melhorar seus meios de produção, e ele naufraga se ficar para trás. Com cada progresso técnico crescem as forças produtivas e a massa de mercadorias, mas diminui proporcionalmente o número de trabalhadores e, desse modo, o de clientes capazes de pagar. Quanto mais poderosas as forças produtivas, tanto maior o número de mãos supérfluas. Surgirá necessariamente um exército de desempregados que crescerá constantemente e pressionará os salários para baixo, dificultando ainda mais a venda. Sob o flagelo da concorrência, portanto, a economia capitalista exige que se produza cada vez mais, que ocorram crises periódicas nas quais sejam extintos métodos de produção incapazes de fazer frente à concorrência, que sejam destruídos valores capitais. Feito isso, a dança recomeça com uma maior desproporção entre as forças produtivas e a força de trabalho empregada, ou seja, o risco é maior do que antes.
Foi assim que Marx expôs o curso da economia capitalista; mais exatamente, apesar de algumas oscilações, o exército de trabalhadores cresce cada vez mais, os salários são pressionados para baixo até o simples mínimo para a subsistência, as crises se sucedem cada vez mais rápido e se tornam cada vez mais devastadoras. Todavia, esse conhecimento teórico contradizia a realidade. A partir da década de 1860, os salários dos trabalhadores europeus cresceram quase ininterruptamente. O exército de reserva diminuiu. As crises, esses acidentes vasculares cerebrais que fazem a economia capitalista ter consciência de seu fim, eram cada vez mais fracas e a prosperidade capitalista parecia crescer constantemente. Os marxistas começaram a atribuir às afirmações de Marx sobre a miserabilização progressiva da classe dos trabalhadores, a intensificação das contradições sociais e o iminente colapso da economia capitalista um sentido que elas evidentemente não tinham. Apesar desses fenômenos, Rosa Luxemburgo se ateve à teoria marxiana. Contra Bernstein, afirmou que as crises a que Marx se referia só se iniciariam mais tarde, o crescimento atual era apenas um fenômeno transitório – que, de qualquer modo, estava durando mais de meio século. Ela estava convencida de que o capitalismo toparia com um limite ao seu desenvolvimento e se despedaçaria.
Então, ela encontrou no Livro II de O capital, de Marx, uma demonstração que, se fosse concludente, jogaria sua concepção no lixo. Tratava-se da possibilidade de uma acumulação permanentemente progressiva de capital, um aumento ilimitado da produção. Aparentemente, a acumulação do capital é uma questão bastante simples. O capitalista emprega uma parte do mais-valor que ele não consome pessoalmente para comprar máquinas, matérias-primas, força de trabalho adicional, e um novo capital é incorporado à economia. Se analisarmos a economia capitalista como unidade, trata-se de um processo complexo que escapa ao arbítrio dos capitalistas individuais. Em determinado momento da produção, é preciso produzir mercadorias múltiplas que sirvam ao consumo da população, à renovação dos meios de produção ultrapassados e à sua reimplantação. Ao mesmo tempo, é preciso que haja determinada relação de valor entre as diferentes categorias de mercadorias e demanda capaz de pagá-las. Assim, os produtores de máquinas, matérias-primas etc. deverão produzir mercadorias que eles e os produtores de bens de consumo usarão no novo período de produção. Contudo, os produtores de bens de consumo precisam vender suas mercadorias para poder comprar os meios de produção e pagar a mão de obra que empregarão no novo período. Na sociedade capitalista, anárquica e sem planejamento, essas e outras relações necessárias são produzidas por meio de novos capitais em determinadas indústrias ou por queda de preços, desvalorização de capital, falência e crises.
Ora, Marx ilustrou com esquemas muito perspicazes as relações de valor em seus múltiplos cruzamentos, nas quais ocorre a expansão da produção capitalista, a acumulação de capital. Para isso, partiu de uma abstração que está na base de todas as suas investigações econômicas, a saber, uma sociedade que produz de modo puramente capitalista, não tem relação com nenhum tipo de sistema pré-capitalista e consiste somente de capitalistas (e uma comitiva que os ajuda a consumir o mais-valor) e trabalhadores. Segundo esses esquemas, cada mercadoria encontra seu comprador e a acumulação funciona nesse capitalismo puro em perpetuum mobile, sem qualquer impedimento ou limitação. Isso torna incompreensível a profecia marxiana de intensificação das crises. Parecia justificar-se a opinião de Bernstein de que os trustes poderiam superar as crises pela regulação da produção. Desde 1815, os grandes economistas políticos entraram em acirradas controvérsias sobre a possibilidade do desenvolvimento irrestrito do capitalismo, sobretudo se seria possível encontrar demanda para mercadorias em número sempre crescente. No último round do debate sobre essa questão antes da intervenção de Rosa Luxemburgo, os que tinham uma visão otimista do desenvolvimento capitalista venceram justamente com o auxílio dos esquemas de Marx. A controvérsia era se, na Rússia, o capitalismo seria inevitável e capaz de sobreviver.
Esses esquemas marxianos também foram o rochedo com que Rosa Luxemburgo se chocou quando quis provar o colapso inevitável do capitalismo. Até então todos os teóricos os aceitavam sem examinar. Mas Rosa descobriu que: 1) Marx não concluíra sua investigação sobre o problema da acumulação, interrompendo-a no meio da frase; 2) ele não levara em conta nos esquemas uma condição imprescindível. Ele fez o valor da mão de obra e, portanto, a soma de salários, crescer na mesma proporção do valor dos bens de produção. Acontece que a expansão da produção não ocorre de tal modo que, em cada novo período de produção, sejam empregadas instalações e máquinas do tipo usado no período anterior, mas instalações e máquinas tecnicamente melhores. Ela é constantemente racionalizada. Desse modo, porém, o valor dos meios de produção cresce num ritmo progressivamente mais veloz que o valor da mão de obra empregada. Em seu esquema, Marx não levou em conta essa defasagem constante do valor. Quando ela é aplicada, o resultado é um grande dilema para os produtores de bens de consumo: ou eles renunciam cada vez mais à acumulação de seu mais-valor e o consomem pessoalmente, excetuando uma parcela cada vez menor – o que inverteria todo o sentido do modo de produção capitalista, paralisaria a expansão da produção e atolaria a economia – ou uma parte crescente dos bens de consumo produzidos não encontraria mais compradores capazes de pagar por eles. Uma quantidade sempre crescente de bens de consumo invendáveis associada a um exército crescente de desempregados: essa seria a causa permanentemente intensificada das crises econômicas.
Até a Primeira Guerra Mundial, os capitalistas encontraram uma solução para a contradição entre a força produtiva crescente e o poder de compra proporcionalmente decrescente: eles vendiam massas cada vez maiores de mercadorias para estratos sociais que não produziam ao modo capitalista (camponeses, artesãos) ou regiões de modos de produção atrasados (colônias). E, quanto mais intensamente os capitalistas invadiam esse “espaço não capitalista”, tanto mais reforçavam o processo de acumulação. Por essa via, explicam-se também os fenômenos sociais que não se coadunavam com as teorias de Marx, especialmente o abrandamento temporário das crises e a diminuição do exército industrial de reserva.
Rosa Luxemburgo encontrou nessa penetração capitalista do espaço não capitalista a solução para o problema da acumulação. Ela provou que o capitalismo não é capaz de sobreviver se não dispuser dessa possibilidade de expansão. Ao fazer isso, pôde recorrer a Marx, apesar dos esquemas. É certo que, em O capital, ele analisou todas as questões da mecânica capitalista em uma sociedade puramente capitalista para elaborar as leis da produção capitalista da maneira mais pura possível, a exemplo da lei da gravidade, que só pode ser demonstrada no vácuo. Porém, Marx também afirmou enfaticamente que um dos meios mais efetivos para a superação das crises é o avanço sobre o espaço não capitalista, e que o capitalismo deverá naufragar quando a expansão do mercado capitalista não for mais possível.
Rosa Luxemburgo vinculou essa ideia ao problema da acumulação, e esse foi o grande feito de sua obra principal. É verdade que, ao fazer isso, ela cometeu uma série de erros de demonstração que, depois de sua morte, foram apontados por Bukharin. Ele não refutou a ideia básica, embora acreditasse ter feito isso. Em seguida, Fritz Sternberg corrigiu alguns pontos da teoria da acumulação de Rosa Luxemburgo e a aplicou com êxito a outras questões econômicas.