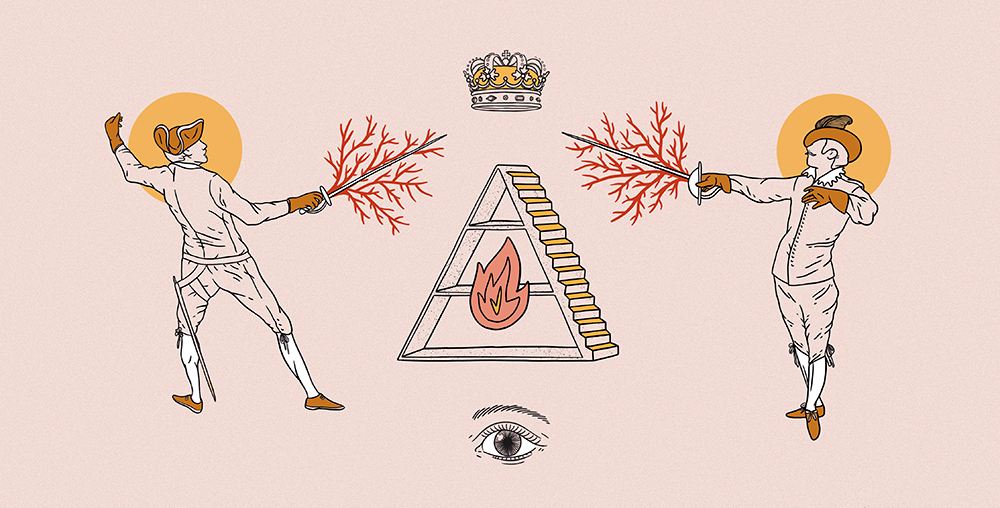
O texto abaixo é um excerto do livro A violência das letras: Amizade e inimizade na literatura brasileira (EdUERJ), lançado neste mês pelo pesquisador César Braga-Pinto. O trecho pertence à seção “Literatura francesa e a Rua do Ouvidor”, do primeiro capítulo do livro. Interessou-nos o apanhado histórico feito por Braga-Pinto por tocar em uma nuance importante para compreensão das masculinidades no Ocidente: a honra. O título que consta foi atribuído pelos editores do Pernambuco.
***
Relativo a contextos pré-modernos e europeus, o conceito de honra tem sido definido entre os historiadores como essencialmente hierárquico, ou seja, como um ideal ou sentimento exclusivo de indivíduos pertencentes a um grupo específico e privilegiado. Norman Hampson explica sucintamente como, segundo Montesquieu, durante o Ancien Régime o “sentido de honra sobre o qual se apoiavam as monarquias era um sentimento natural de indivíduos das classes altas, confirmado pela educação, que os impelia a procurar status para si mesmos e suas famílias, ou a reafirmar o status de que já desfrutavam dentro de uma sociedade hierárquica”. Fundada menos em qualquer sentido de responsabilidade, cidadania, altruísmo ou patriotismo (entendido como subordinação ao Estado-nação ou à vontade geral), a honra se caracterizava por autonomia, interesse pessoal e serviço voluntário ao rei. Assim, explica Hampson,“homens de honra formavam parte de uma sociedade internacional, tão vasta como o mundo civilizado, e que viviam sob as mesmas regras” (Hampson, 1973, p. 203, tradução nossa).
Ainda no século XIX, a honra continuaria a representar uma forma valorativa e hierarquizante que classificava os indivíduos socialmente – segundo a sua conduta e em relação a um tipo ideal – entre, de um lado, aqueles que são dotados e, de outro, aqueles que são desprovidos de honra (Peristiany, 1966). Ao mesmo tempo, segundo a definição do antropólogo Julian Pitt-Rivers, a honra se define conforme “o valor de uma pessoa aos próprios olhos, mas também aos olhos de sua sociedade” (Peristiany, 1966, p. 21, tradução nossa). Assim, a honra é sempre uma condição instável e, mesmo quando herdada ou determinada pela posição social, deve ser reafirmada e conquistada segundo o poder regulador da opinião pública. Portanto, pode-se dizer que a honra tem aspecto performativo, em que os ideais de um grupo devem ser reatualizados e reproduzidos em atos ou condutas individuais, de modo que se valide ou se reconheça o direito (ou seja, o mérito) que alguém se atribui de se dizer honrado. [...]
Na Europa, com a ascendência dos valores republicanos, a virtude, a cidadania, a igualdade e o patriotismo passam a ocupar o lugar de antigas concepções de honra. Distinções sociais começam a ser entendidas como o resultado do mérito pessoal, da dignidade, da coragem, da probidade ou dos princípios – em vez de estirpe, status, privilégio ou convenção. No entanto, alguns códigos de honra e precedência social antigos seriam apropriados e, com frequência, confundidos com valores burgueses modernos. Assim, a noção de honra individual não deixará de ter também um caráter moderno e competitivo, em que as rivalidades contam tanto quanto as alianças. Ou seja, essa noção deriva do poder de um homem sobre outros homens em sua qualidade de homem de honra. Ao mesmo tempo, não deixa de ser algo que se sente e se demonstra, mas que também precisa ser confirmado pela opinião pública, que participa da construção ou da destruição de reputações. [...]
No caso de uma sociedade de herança colonial e altamente estratificada, como era a brasileira até o último quartel do século XIX, o fundamento para as distinções reivindicadas pela elite política e econômica (em especial, a classe senhorial) era, pelo menos aos olhos desta, autoevidentes. A desigualdade baseada na raça era naturalizada, enquanto outras reivindicações de distinção social (propriedade, parentesco, linhagem, títulos, educação, abstinência do trabalho manual etc.) excluíam boa parte da sociedade, considerada desprovida de honra. Mas, a partir da década de 1870, a nação independente se confrontou com transformações profundas – que incluíram secularização da imprensa, profissionalização das forças armadas, imigração majoritariamente europeia, crescimento significativo da classe média urbana, assim como emergência dos movimentos abolicionistas e do republicanismo. Enquanto em outras regiões da América Latina pós-independência parece ter havido relativa dissociação entre honra e as antigas marcas de hierarquia social, no Brasil foi apenas com o gradual declínio da escravidão e o enfraquecimento do apoio ao regime monárquico que noções modernas de honra se tornaram preocupação entre as camadas médias da sociedade. Desde então, pelo menos em tese, reivindicações de precedência social se tornaram cada vez mais dissociadas de propriedade e estirpe (mas não necessariamente de raça), e a classe emergente começou a competir entre si por novas formas de distinção social.
Da mesma forma, as ocasionais ocorrências, assim como os debates em torno do duelo no Brasil, ainda partilhavam de muitas das características do modelo original francês, mesmo não havendo uma verdadeira tradição desses rituais. Historiadores têm notado que, depois de 1870, os franceses testemunharam o renascimento do duelo, mas agora de uma forma menos violenta e mais ritualizada que sua versão aristocrática. Em seu trabalho mais recente, François Guillet (2008) explica como o duelo, no final do século XIX francês, atraiu a maioria dos jornalistas e políticos que estavam ocupados com o restabelecimento do que o autor chama de “capital d’honneur”, ou seja, um valor sempre suscetível aos efeitos da opinião pública e, especificamente, da difamação (Guillet, 2008, p. 18).
Amplamente associado à crescente democratização da imprensa, na maioria das vezes o duelo era visto como um mecanismo de restauração da honra de ambos os combatentes e, além disso, como um meio de evitar a escalada de proporção do conflito verbal ou físico. Tinha, portanto, uma função civilizatória que não apenas demonstrava, como também exercitava o “sangue-frio” (sang froid) e a “etiqueta” (savoir vivre) dos combatentes. De fato, o conhecimento das regras do duelo se tornara um sinal de reconhecimento e refinamento social, e era mais importante desafiar o oponente para um duelo do que propriamente combater no campo de honra. Ao se tornar cada vez mais ritualizado, e à medida que o risco de morte ia ficando cada vez menor, o duelo começou a operar como uma espécie de rito de civilidade, em um processo envolvendo o que Guillet (2008) chama de “eufemização da violência” (p. 81). Assim, uma parte da burguesia se apropriou de um ritual que pertencia à aristocracia e o reinventou, a fim de convertê-lo em seu próprio instrumento de distinção social (Guillet, p. 208). Tais ritos de sociabilidade masculina, que caracterizam a nova classe dominante, expressam o desejo de prestígio por parte de seus membros e, logo, a preocupação com a própria reputação.
Em resumo, o duelo se transforma em um instrumento de civilização que serve para distinguir aqueles que reivindicam uma educação refinada, do populacho, caracterizado pela força bruta, pelo combate desregrado ou pela falta de maneiras, tanto na linguagem como nas ações: “Recorrer às mãos nuas evocava um estado animalesco do qual o homem das massas nunca está distante, exatamente como o inimigo inglês”(Guillet, p. 218, tradução nossa). [...]
Trazido relativamente tarde para o Brasil, o duelo nunca conseguiu atingir o mesmo patamar de prestígio e moda que teve na Europa e nos Estados Unidos, ou mesmo em certas regiões da América Hispânica. Entretanto, alcançou características distintas, específicas ao contexto brasileiro, e mobilizou a atenção da imprensa e, sobretudo, dos legisladores. Foi somente no final da década de 1880 que os jornais e a elite intelectual que circulavam pela Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, começaram a debater o problema de reparação da honra; mas, na virada do século, o duelo estava já um tanto fora de moda, pelo menos ao que consta nas páginas dos jornais. Entretanto, tal como na França e em outras nações, o duelo no Brasil desempenhou importante papel, já que sublinhava a diferença entre as leis modernas, impessoais, e os modos mais tradicionais de resolução de conflitos, característicos tanto das classes desprivilegiadas como da aristocracia rural. Além disso, ele entrou no crescente debate relacionado à identidade nacional e ao futuro da nação brasileira.
A abolição da escravatura (1888) e a proclamação da República (1889) geraram inúmeras mudanças e tensões na vida social, política e cultural, com implicações significativas para a elite letrada no processo de definição do papel que esta se atribuía. Embora preocupada em erigir uma nação moderna (ou civilizada), esses homens letrados se esforçavam para encontrar seu espaço em meio à evolução de vários outros acontecimentos: uma população crescente de ex-escravos na capital da nação e suas reivindicações de cidadania, a popularização dos ideais liberais e republicanos, a crescente democratização da imprensa, a relevância da assim chamada opinião pública e a relativa independência dos partidos políticos. A imprensa e, logo, a opinião pública ocuparam um espaço novo, que estava para além do controle do governo monárquico e da aristocracia rural; foi aí que os intelectuais e os jornalistas em particular encenaram suas aspirações e ansiedades, construindo novas identidades que os distinguissem tanto da velha aristocracia como das pessoas comuns. Foi nesse espaço de disputas que os jornalistas cariocas começaram a se imaginar como os novos cavalheiros e a fazer da honra um sinal de distinção.
No momento de sua introdução no Brasil, o duelo foi recebido, de forma geral, como nada mais do que uma importação europeia, frequentemente comparada à estima excessiva da elite brasileira pela cultura francesa. Já no início da década de 1840, os jornais brasileiros noticiavam duelos na Europa e nos Estados Unidos. E, na segunda metade do século XIX, antes de qualquer matéria noticiar os desafios locais, a imprensa dava extensa cobertura aos duelos europeus. Em 1877, noticiava-se um duelo que acontecera em Portugal entre Gonçalves Crespo e um jornalista espanhol d’A Nação. Houve também notícias de duelos na América Hispânica, particularmente na Argentina; a maioria envolvia membros das forças militares, embora políticos e jornalistas também fossem mencionados. Nenhum desses casos, no entanto, recebeu tanta atenção da imprensa quanto os espetaculares duelos que se deram na França, tal como a altamente discutida batalha entre o ministro da guerra Charles T. Floquet (1828-96) e o general Georges Boulanger (1837-91), em 13 de julho de 1888. O interesse da elite brasileira pelos duelos foi alimentado, em parte, pelo consumo de romances e peças de teatro franceses. [nota 1]
Na década de 1880, muitas novelas francesas em que figuravam desafios à honra, incluindo Les Amours de Province (1884), de Xavier de Montepin (1823-1902), e L’Immortel (1888), de Alphonse Daudet (1840-97), foram rapidamente traduzidas e publicadas no Brasil em forma de folhetins. As peças populares e amplamente divulgadas de Alexandre Dumas (filho), como Le Demi-Monde (1855) e Denise (1885), que foram encenadas no Rio de Janeiro em setembro de 1884 e maio de 1885, respectivamente, também representavam conflitos envolvendo cenas de duelo. Mas a altamente popular obra de Alexandre Dumas (pai) Les Trois Mousquetaires, originalmente publicada em 1844 e serializada na Gazeta de Notícias a partir de novembro de 1885, fez mais do que qualquer outro romance para estabelecer o prestígio do duelo no Brasil.
REFERÊNCIAS
GUILLET, François. La mort en face: Histoire du duel de la révolution à nos jours. Paris: Aubier, 2008.
HAMPSON, Norman. “The French Revolution and the Nationalization of Honour”. In FOOT, M. R. D. War and society: Historical essays in honour and memory of J.R. Western 1928-1971. S.l.: Barnes and Noble Books: 1973, pp. 199-212.
PERISTIANY, Jean G. (org.). Honour and shame: The values of mediterranean society. Chicago: University of Chicago Press, 1966.
NOTAS
[nota 1] Guillet (2008, p. 57) destaca que, enquanto, até o século XIX, os duelos foram frequentemente tema de obras literárias, mais tarde é a literatura que serve de inspiração a eles.