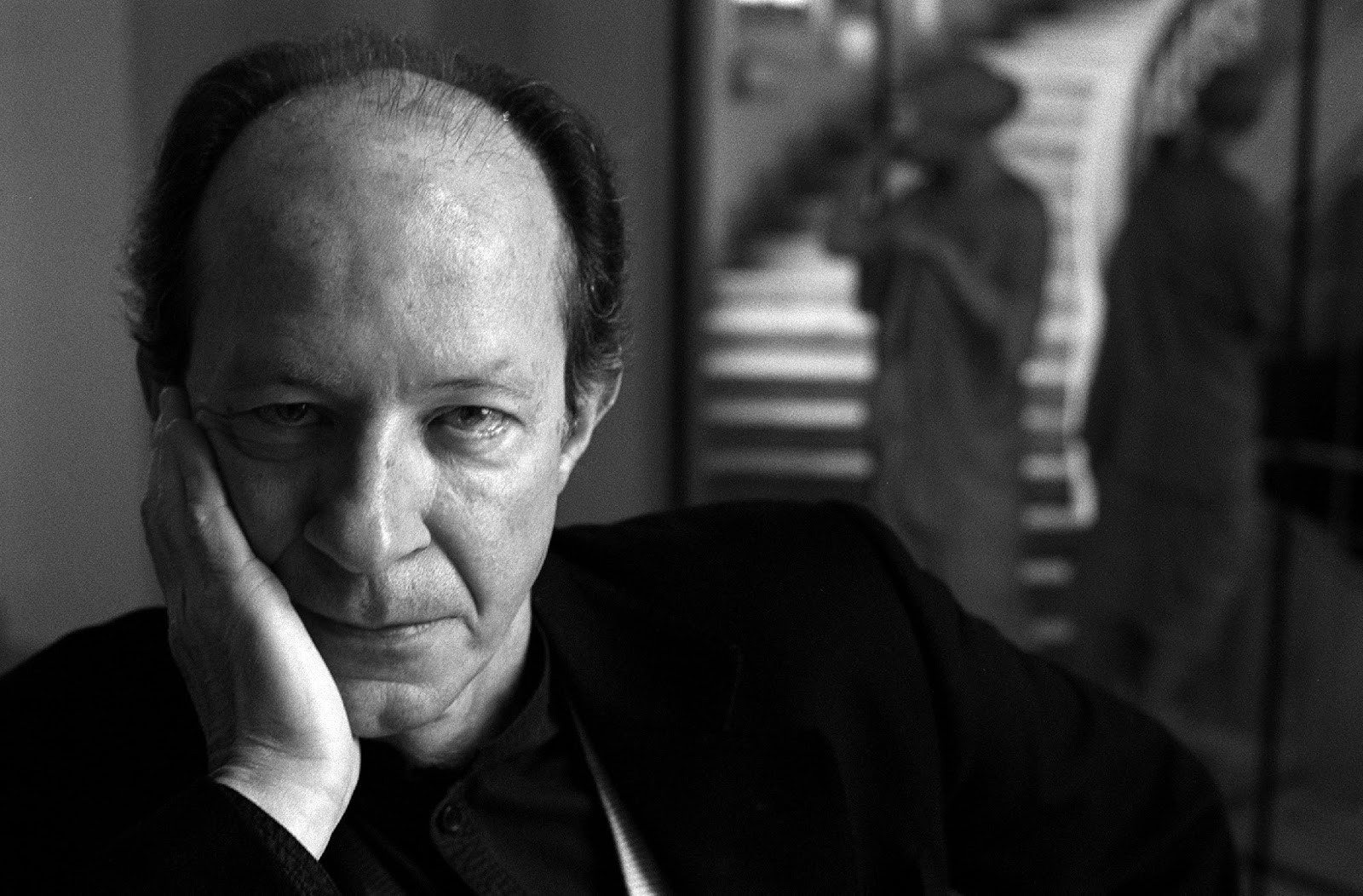
O filósofo italiano Giorgio Agamben (foto) se tornou nome corrente entre as pesquisas no campo das ciências humanas dessas últimas décadas. Conhecido por lidar com questões do contemporâneo e de estar sempre atualizando pensadores como Walter Benjamin e Michel Foucault, o autor tem agora mais um livro publicado no Brasil: Signatura rerum, com edição da Boitempo Editorial. O livro funciona como uma introdução ao seu pensamento. Com exclusividade, o Pernambuco traz um trecho desse novo trabalho traduzido para o português, feita por Andrea Santurbano e Patricia Peterle.
***
7. O termo “arqueologia” está ligado às pesquisas de Michel Foucault. Ele aparece de forma discreta – mas decisiva – já no prefácio de Le mots et le choses. Aqui, a arqueologia, diferentemente da história “no sentido tradicional do termo”, se apresenta como a busca de uma dimensão ao mesmo tempo paradigmática e transcendental, uma espécie de “a priori histórico”, em que os saberes e os conhecimentos encontram sua condição de possibilidade. Tal dimensão é a episteme, o “campo epistemológico em que os conhecimentos, considerados fora de qualquer critério que se refira a seu valor racional ou a suas formas objetivas, arraigam sua positividade e manifestam, assim, uma história que não é a do progressivo aperfeiçoamento, mas aquela de suas condições de possibilidade” [nota 1]. Não se trata tanto, especifica Foucault, de uma história das ideias ou das ciências, mas sim de uma pesquisa que, retomando contracorrente a história das formações discursivas, dos saberes e das práticas, se esforça em descobrir
a partir do que foram possíveis as teorias e os conhecimentos; segundo qual espaço de ordem se constituiu o saber; na base de qual a priori histórico e no contexto de qual positividade as ideias puderam aparecer, as ciências se constituir, as experiências espelhar-se nas filosofias, as racionalidades tomar forma para depois, talvez, se desvanecer e desaparecer. [nota 2]
Paremos no oximoro “a priori histórico”. Ele pretende ressaltar que, como no ensaio de 1971, também aqui não se trata de uma origem meta-histórica, uma espécie de doação originária que funda e determina os saberes. Como a Archéologie du savoir esclarecerá três anos depois, a episteme é ela mesma uma prática histórica, um conjunto de relações que “numa dada época é possível descobrir entre as ciências quando são analisadas no âmbito de sua regularidade discursiva” [nota 3]. O a priori, que condiciona a possibilidade dos conhecimentos, é a sua própria história, colhida num nível particular. Esse nível é o ontológico de sua simples existência, o “fato bruto” de seu manifestar-se num dado tempo e num certo modo; ou, para usar a terminologia do ensaio sobre Nietzsche, de seu “ponto de insurgência” (nos termos de Overbeck, de sua “pré-história”). Mas como pode um a priori manifestar-se e existir historicamente? E de que modo é possível ter acesso a ele?
Com toda probabilidade, mais do que da arqueologia filosófica kantiana, a ideia de um “a priori histórico” deriva de Marcel Mauss, que, a propósito da noção de mana, escreve na sua Esquisse d’une théorie générale de la magie [Esboço de uma teoria geral da magia] (1902-1903) que ela é “a própria condição da experimentação mágica” e que “ela é dada a priori, preliminarmente a toda experiência. Não se trata propriamente de uma representação da magia, como a simpatia, os demônios ou as propriedades mágicas. Ela governa as representações mágicas, é a sua condição, a sua forma necessária. Funciona como uma categoria, que torna possíveis as ideias mágicas, assim como as categorias tornam possíveis as ideias humanas” [nota 4]. Com um desenvolvimento significativo, Mauss define esse histórico transcendental como “uma categoria inconsciente do intelecto” [nota 5], sugerindo implicitamente nesse modo que o modelo epistemológico que tal conhecimento requer não pode ser totalmente homogêneo ao do saber histórico consciente. E todavia, tal como para Foucault, também para Mauss fica claro que o a priori, mesmo condicionando a experiência histórica, se inscreve ele mesmo em determinada constelação histórica. Ou seja, ele concretiza o paradoxo de uma condição a priori inscrita numa história que só pode se constituir a posteriori em relação a ela e em que a pesquisa – no caso de Foucault, a arqueologia – deve descobri-la.
8. Foucault não se questionou sobre a estrutura temporal específica que a noção de um a priori histórico parece implicar. No entanto, o passado que está em questão aqui é, tal como a pré-história de Overbeck e a “franja de ultra-história” em Dumézil, um passado de tipo especial, que não antecede cronologicamente o presente como uma origem, nem lhe é simplesmente exterior (nesse sentido, nas palavras de Overbeck, ele não contém “nada ou quase nada de passado”). No ensaio sobre o déjà-vu, Henri Bergson apresentara a tese de que a recordação não vem depois da percepção, mas lhe é contemporânea e, portanto, tão logo a atenção da consciência afrouxar, pode gerar aquele “falso reconhecimento” que ele define, com uma expressão só aparentemente paradoxal, uma “recordação do presente”. Ele escreve que tal recordação “pertence ao passado com relação à forma, e ao presente com relação à matéria” [nota 6]. Ademais: se a percepção corresponde ao atual e a imagem da recordação ao virtual, então, de acordo com Bergson, o virtual também será necessariamente contemporâneo ao real.
No mesmo sentido, a condição de possibilidade que está em questão no a priori histórico, que a arqueologia se esforça para alcançar, não só é contemporânea ao real e ao presente, mas é e permanece imanente a eles. Com um gesto singular, o arqueólogo que persegue tal a priori retrocede, por assim dizer, na direção do presente. É como se, considerado do ponto de vista da arqueologia ou de seu ponto de insurgência, todo fenômeno histórico se cindisse conforme a falha que nele separa um antes e um depois, uma pré-história e uma história, uma história das fontes e uma tradição histórica que, por coincidirem por um instante no ponto de insurgência, são na verdade contemporâneas. E é algo desse tipo que Benjamin devia ter em mente quando, na esteira de Overbeck, escrevia que na estrutura monadológica do objeto histórico estão contidas tanto a pré-história quanto a sua “pós-história” (Vor- und Nachgeschichte), ou quando sugeria que todo o passado deve ser introduzido no presente numa “apocatástase histórica” [nota 7]. (A apocatástase é a restituição na origem que, segundo Orígenes, realiza-se no fim dos tempos. Qualificando como “histórica” uma realidade escatológica, Benjamin recorre a uma imagem bastante parecida com o “a priori histórico” foucaultiano.)
9. Deve-se a Enzo Melandri a apreensão precoce da relevância filosófica da arqueologia foucaultiana e a tentativa de desenvolver e esclarecer sua estrutura. Ele observa que, ao passo que a explicitação dos códigos e das matrizes básicas de uma cultura geralmente se faz recorrendo a outro código de ordem superior, ao qual se atribui uma espécie de poder explicativo misterioso (é o modelo da “origem”), com Foucault “a pesquisa arqueológica se propõe, ao contrário, reverter o procedimento, ou melhor, tornar a explicação do fenômeno imanente à sua descrição” [nota 8]. Isso implica uma decidida recusa da metalinguagem e o recurso a uma “matriz paradigmática, ao mesmo tempo concreta e transcendental, que tem a função de dar forma, regra e norma a um conteúdo” [nota 9] (é o modelo do “a priori histórico”). É essa matriz imanente que Melandri procura analisar, colocando-a em relação com a oposição freudiana de consciente e inconsciente. Ricoeur já aludira a uma “arqueologia do sujeito”, a propósito da primazia que, no pensamento de Freud, cabe ao passado e ao arcaico. A análise freudiana mostra que o processo secundário da consciência está sempre atrasado em relação ao processo primário do desejo e do inconsciente. A realização do desejo, que o sonho almeja, é necessariamente regressiva, por estar modelada no “desejo indestrutível” de uma cena infantil, da qual assume o lugar. Por isso, escreve Ricoeur,
a regressão, de que o sonho é testemunho e modelo, atesta a impotência do homem de operar definitiva e integralmente essa substituição, a não ser na forma inadequada do recalque. O recalque é o regime normal de um psiquismo fadado ao atraso e sempre à mercê do indestrutível e do infantil. [nota 10]
Ao lado dessa arqueologia em sentido estrito, segundo Ricoeur, há nos escritos metapsicológicos de Freud também uma “arqueologia generalizada”, que concerne à interpretação psicanalítica da cultura:
O gênio do freudismo é ter desmascarado a estratégia do princípio do prazer, forma arcaica do humano, sob suas racionalizações, idealizações e sublimações. A função da análise é a de reduzir a aparente novidade à ressurgência do antigo: satisfação por substituição, restauração do objeto arcaico perdido, reaparecimento do fantasma inicial – cada um desses nomes designa a restauração do antigo sob os traços do novo. [nota 11]
Totalmente diferente é a concepção melandriana da arqueologia. Assim como para Foucault, o ponto de partida está em Nietzsche, em particular no conceito de “história crítica” da segunda Extemporânea, isto é, naquela história que critica e destrói o passado, para tornar a vida possível. Melandri generaliza esse conceito, aliando-o, com um extraordinário tour de force, ao conceito freudiano de regressão:
Esta (a história crítica) precisa repercorrer na contramão a genealogia real dos eventos de que se ocupa. A divisão que veio a se estabelecer entre historiografia (historia rerum gestarum) e história real (res gestae) é muito parecida com aquela que desde sempre subsiste entre consciente e inconsciente segundo Freud. Portanto, a história crítica tem a função de uma terapia destinada à recuperação do inconsciente entendido como “recalque” histórico. Ricoeur e Foucault, como já dito, chamam de arqueológico” esse procedimento. Ele consiste em remontar na genealogia até chegar à origem da bifurcação em consciente e inconsciente do fenômeno em questão. Só no caso de se conseguir alcançar esse ponto, a síndrome patológica revela seu significado real. Trata-se, então, de uma regressão: mas não para o inconsciente como tal, e sim para aquilo que o tornou inconsciente – no sentido dinâmico de recalque. [nota 12]
Se a relação entre arqueologia e regressão já estava em Ricoeur, Melandri, nessa passagem muito densa, inverte drasticamente seu signo. A visão pessimista da regressão, incapaz de superar a cena infantil originária, cede lugar aqui a uma visão quase soteriológica da arqueologia, capaz de remontar regressivamente à origem da cisão entre consciente e inconsciente. Mas como entender essa singular “regressão arqueológica”, que não busca alcançar no passado o inconsciente e o esquecido, mas remontar até o ponto em que se produziu a dicotomia entre consciente e inconsciente, historiografia e história (e, mais em geral, entre todas as oposições binárias que definem a lógica da nossa cultura)? Não se trata simplesmente, segundo a vulgata do modelo analítico, de trazer à consciência o que foi recalcado e que volta a aflorar em forma de sintoma. Tampouco, segundo um difundido e enfadonho paradigma de história das classes subalternas, de escrever uma história dos excluídos e vencidos, perfeitamente homogênea à dos vencedores. Melandri especifica mais de uma vez que a arqueologia, ao invés disso, deve ser entendida precisamente como uma regressão e que, enquanto tal, ela é o contrário de uma racionalização:
Para a arqueologia é essencial o conceito de regressão e, ainda, que a operação regressiva seja o recíproco exato da racionalização. Racionalização e regressão são operações inversas, assim como diferencial e integral [...]. Para recuperar uma arquifamosa, mas em boa medida ainda incompreendida expressão de Nietzsche (se é verdade o que estamos dizendo, também é verdade, infelizmente, que não poderá jamais ser entendida inteiramente), podemos dizer, a este ponto, que a arqueologia pede uma regressão “dionisíaca”. Como observa Valéry, nous entrons dans l’avenir à reculons [...] para entender o passado deveríamos igualmente repercorrê-lo à reculons. [nota 13]
10. A imagem de uma procissão no tempo, de costas viradas para a meta, encontra-se também, como se sabe, em Walter Benjamin, ao qual devia ser familiar a citação de Valéry. Na IX tese, o anjo da história, cujas asas se enredaram na tempestade do progresso, avança rumo ao futuro à reculons. A regressão “dionisíaca” de Melandri é a imagem inversa e complementar do anjo benjaminiano. Se este avança rumo ao futuro fitando o passado, o anjo de Melandri regride no passado olhando para o futuro. Ambos procedem em direção a algo que não podem ver nem conhecer. Essa meta invisível das duas imagens do processo histórico é o presente. Ele aparece no ponto em que os olhares deles se encontram, quando um futuro alcançado no passado e um passado alcançado no futuro coincidem por um instante.
O que acontece, pois, quando a regressão arqueológica alcança o ponto em que se produziu a cisão entre consciente e inconsciente, historiografia e história, que define a condição em que nos encontramos? Como já deve ter ficado óbvio, nossa maneira de nos representarmos o antes de uma cisão é governado pela própria cisão. Imaginar um “antes” assim significa, de fato, seguindo a lógica inerente à cisão, pressupor-lhe uma condição originária, que em determinado momento se separou. Nesse caso, isso se manifesta na tendência a nos representarmos o aquém ou o além da dicotomia como uma condição feliz, uma espécie de época áurea isenta de recalques, perfeitamente consciente e dona de si. Ou seja, como em Freud e Ricœur, como a infinita repetição da cena infantil, a aparição indestrutível do fantasma do desejo. De modo oposto, aquém ou além da cisão, vindo a faltarem as categorias que governavam sua representação, não há outra coisa senão o súbito e obcecante descerrar-se do ponto de insurgência, o revelar-se do presente como aquilo que não podemos nem viver, nem pensar.
NOTAS
[nota 1] Michel Foucault, Les Mots et les choses: Une archéologie des sciences humaines (Paris, Gallimard, 1966), p. 13 [ed. bras.: As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas, 10. ed., trad. Salma Tannus Muchail, São Paulo, Martins Fontes, 2016]
[nota 2] Idem.
[nota 3] Michel Foucault, L’Archéologie du savoir (Paris, Gallimard, 1969), p. 250 [ed. bras.: A arqueologia do saber, 8. ed., trad. Luiz Felipe B. Neves, Rio de Janeiro, Forense Universitária, 2012].
[nota 4] Marcel Mauss, Sociologie et anthropologie (Paris, PUF, 1950), p. III [ed. bras.: Sociologia e antropologia, 2. ed., trad. Paulo Neves, São Paulo, Cosac & Naify,
2015].
[nota 5] Idem.
[nota 6] Henri Bergson, “Le Souvenir du présent et la fausse reconnaissance”, em L’Énergie spirituelle (Paris, PUF, 1949 [1919]), p. 137 [ed. bras.: “A lembrança do presente e o falso reconhecimento”, trad. Jonas G. Coelho, em Trans/Form/Ação, Marília, v. 29, n. 1, 2006].
[nota 7] Walter Benjamin, Das Passagenwerk, em Gesammelte Schriften (org. Rolf Tiedemann e Hermann Schweppenhäuser, Frankfurt a. M., Suhrkamp, 1982), V, I, p. 573 [ed. bras.: Passagens, trad. Irene Aron e Cleonice Paes B. Mourão, Belo Horizonte, Editora UFMG, 2006].
[nota 8] Enzo Melandri, “Michel Foucault: l’epistemologia delle scienze umane”, Lingua e Stile, Bolonha, il Mulino, n. 2, v. 1, 1967, p. 78.
[nota 9] Ibidem, p. 96.
[nota 10] Paul Ricœur, De l’interprétation. Essai sur Freud (Paris, Éditions du Seuil, 1965), p. 431 [ed. bras.: Da interpretação: ensaio sobre Freud, trad. Hilton Japiassu, Rio de Janeiro, Imago, 1977].
[nota 11] Ibidem, p. 432.
[nota 12] Enzo Melandri, La linea e il circolo. Studio logico-filosofico sull’analogia (Macerata, Quodlibet, 2004 [1968]), p. 65-6.
[nota 13] Ibidem, p. 67.