
Abaixo, um trecho de Os olhos de Diadorim, de Wander Melo Miranda (UFMG), o próximo do livro do nosso selo literário. Nele, Miranda – um dos críticos literários mais importantes do país – investiga como obras de Silviano Santiago, Diego Vecchio, Roberto Bolaño, Nuno Ramos (foto) e outros autores operam com uma heterogeneidade de vozes e lugares, e de como isso desemboca naquela que é uma questão central nas literaturas da América Latina: o que pode a literatura?
Os olhos de Diadorim será lançado em 19 de outubro na Quixote Livraria, em Belo Horizonte. Você pode reservar seu exemplar do livro neste link.
***
O diálogo acentuado da literatura com outras artes e linguagens na atualidade, responsável pela emergência atual de textos híbridos em sua configuração e heterogêneos quanto a seu lugar na ordem dos discursos, pode levar a que sejam lidos a partir da ideia de “campo ampliado” que Rosalind Krauss usa para analisar as instalações de artes visuais. Nesse sentido, textos de escritores como Silviano Santiago, Roberto Bolaño e Mario Bellatin apresentam-se como textos-instalação, o que dá à comunidade de leitores/visitantes novas possibilidades de constituir seu papel e definir as regras às quais deve se submeter, abrindo espaço para o que está fora do texto. O sentido político desse procedimento amplia o horizonte de expectativa da mais instigante literatura atual.
Para dar conta desses textos, é necessário aprofundar a reflexão sobre as relações entre literatura e política, a partir de noções como “pós-autonomia” e “biopolítica”, entre outras, em razão da vigência de uma modalidade textual em que processos de simulação e dissimulação do narrador biográfico atuam como operadores de constituição de um corpus político, cultural e artístico que se propõe como ficção da vida. A natureza espectral da escrita como bios possibilita ver, entre outras tantas imagens, a transformação do indivíduo em sujeito, no sentido de uma forma que subjuga e submete. Segundo Roberto Esposito, “não coincidindo nem com a pessoa nem com a coisa, o corpo humano abre um ângulo de visão externo que projeta uma sobre a outra”, abrindo-se, por sua vez, a possibilidades insuspeitadas de relação entre corpo e escrita.
A narrativa contemporânea tem se dedicado à paradoxal tarefa de tratar desses corpos significantes, ao escrever aquilo que se aparta da escrita e é estranho a ela, efeito de uma inscrição original – origem e mais além da linguagem ficcional. Se a política é o que desloca um corpo do lugar ou que muda o destino de um lugar, ela faz então ver “o que não tinha razão para ser visto, faz escutar um discurso onde só o ruído tinha lugar”.Cabe então perguntar de que forma se constitui literariamente esse discurso, como se configura, nesses termos, a relação entre público e privado, como o objeto verbal ou visual lhe dá forma significante na atualidade e, enfim, como se manifesta uma política da escrita no âmbito da literatura contemporânea.
A meditação exacerbada e a vertigem da linguagem levam a momentos epifânicos em livros como Ó, de Nuno Ramos, em que conhecimento e criação poética se confundem na revelação do “patrimônio selvagem do sujeito”. E como “todo conhecimento vem do corpo”, dele irradiam as redes de sentido que dão massa e volume ao texto – corpus erótico – em que a palavra se abisma. Para o escritor, a deformidade que constitui o saber contemporâneo parece ser fruto desse enfrentamento das palavras e das coisas, levado ao extremo da tagarelice ou do silêncio – forma literária de uma política da escrita. Ou, no dizer de Roberto Esposito: “o corpo que experimenta de maneira sempre mais intensa a indistinção entre política e vida não é mais o do indivíduo, nem o corpo, soberano, das nações, mas o corpo, ao mesmo tempo lacerado e unificado, do mundo.”
Por isso a ficção atual pode assumir a forma de uma pergunta sobre o que é escrever, por meio de imagens que podem ser consideradas como operadores temporais de sobrevivência. Não é outra a condição de Os detetives selvagens (1998), de Roberto Bolaño, espaço alegórico “onde se joga um outro por-vir”. Se tomarmos esse jogo como uma determinante de certos textos contemporâneos – como As visitas que hoje estamos (2012), de Antônio Geraldo Figueiredo Ferreira, ou Micróbios (2006), de Diego Vecchio – pode-se pensar numa comunidade de escritores e leitores, entendida como o “compartilhamento de uma separação dada pela singularidade”. A separação dos corpos (textuais) é uma forma de resistência à sujeição da totalidade, pensada esta última como fusão da identidade do sujeito (escritor) consigo mesmo. Nessa separação, é como se a “função-autor”, nos termos de Michel Foucault, revelasse em toda extensão seu lugar vazio, enquanto primeiro passo para a dessubjetivação do sujeito, livrando-o assim do jugo a que o biopoder lhe impõe. Trata-se de restaurar uma forma de impessoalidade que restitui o lugar do leitor como alteridade incontornável, fazendo revelar o “scriptor” não como quem antecede o texto, mas como quem nasce com ele.
No trabalho “Mocambos (para Goeldi 3)”, de 2003, Nuno Ramos realiza a sobreposição entre desenhos e gravuras de Goeldi e fotografias que tirou de lugares similares àqueles retratados pelo gravurista. Diz o artista: “Durante alguns meses, saí com uma câmera e um livro de Goeldi, procurando coincidências (fachadas, janelas, postes, uma chaminé, a torre de uma igreja). Depois, em Photoshop, as imagens foram sobrepostas.” O resultado dessa operação de dupla autoria, em que na verdade o autor de certo modo desaparece, é uma narrativa híbrida de ruínas num tempo estendido da história dos fantasmas da nossa modernidade.
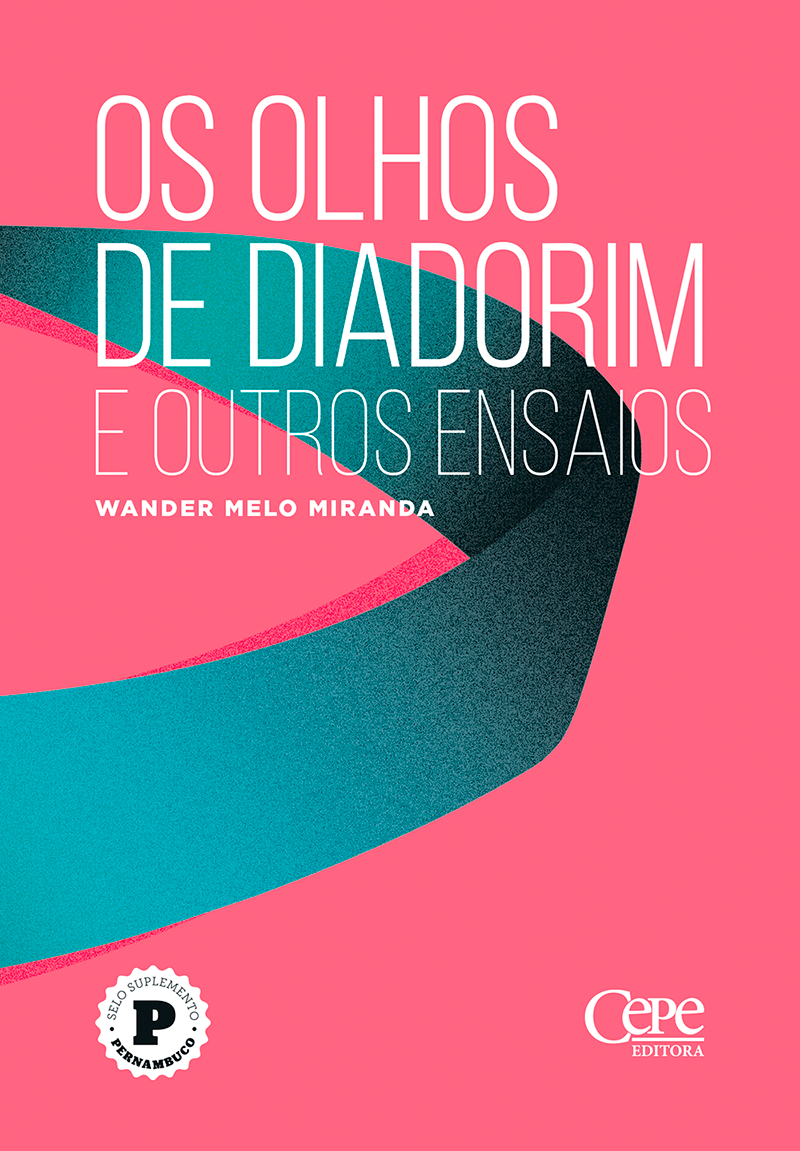
Capa de Os olhos de Diadorim. Arte: Hana Luzia
A interlocução com Goeldi – por imagens ou palavras – retoma na forma de uma sobreposição fantasmática de temas e suportes uma discussão cara ao pensamento social brasileiro, que a palavra “mocambo” sugere, transformando escritor e artista em “pesquisador da noite moral sob a noite física”, nas palavras de Drummond. Posteriormente, na instalação “Bandeira branca”, apresentada em 2010 na 29ª Bienal de São Paulo, a referência a Goeldi retorna nos urubus vivos mantidos encerrados no ambiente que compõe a obra, retomando uma figura cara ao gravurista e acrescentando novos dados ao trânsito entre palavra e imagem.
De certo modo, pode-se dizer que o que está em jogo em Goeldi e Nuno Ramos é uma forma de figuração que se poderia chamar de íntimo exterior, que rompe as barreiras entre esses dois polos e faz dessa ruptura o espaço bioficcional de uma outra realidadeficção.
De forma semelhante, a questão é retomada por Mil rosas roubadas (2014), de Silviano Santiago, a partir da visão do corpo em coma do amigo querido, a que o relato opta por dar vida na biografia impossível que o narrador, um velho professor de História, tenta ironicamente levar adiante, quando afirma logo de início, como uma senha do que virá pela frente: “Perco meu biógrafo. Ninguém me conheceu melhor que ele.” O estado do corpo meio morto, meio vivo – ligado a sondas e aparelhos –, traduz a compulsão biopolítica de fazer viver a todo custo. Mas a reversão de expectativas provocada pela perda do possível biógrafo, que se torna biografado, rasura a identificação dos corpos e, com isso, deixa entrever uma abdicação do sujeito (narrador) para instaurar uma experiência compartilhada do sensível, matéria do livro.
Em As visitas que hoje estamos, por sua vez, a estratégia textual consiste em multiplicar as vozes narrativas, tornando o texto um corpo coral em que a voz do “autor” se intromete de modo a desconstruir, paradoxal e humoristicamente, a propriedade literária, numa forma de cisão entre escritor real e locutor fictício, de reafirmação da oralidade e eroticidade da letra que circula por meio da inspiração boca a boca. Por ela, a tradição literária brasileira é interpelada enquanto corpo indecidível do texto (morto/vivo) que torna visíveis os órfãos da modernidade – multidão de vozes periféricas que lutam por se fazer ouvir, corpos-fantasmas que circulam pelo rumor da língua. Essa maneira ficcional de inventar uma comunidade heterogênea é resultado da transposição de fronteiras da literatura e do sujeito, mostrando como elas se tornaram há muito porosas, como o biopoder já não tem mais limites na sociedade de controle.
Em Micróbios, do argentino Diego Vecchio, os diversos contos que compõem o livro se apropriam do discurso médico-científico ou o vampirizam pela via do humor como forma de desconstrução da saúde dos corpos em processo de consumação e consumo pela tecnologia/indústria farmacêutica. O narrador incorpora diversos papéis de escritor(a) por meio do contágio de formas de saber que instrumentalizam o sujeito como um produtor interminável de linguagem, que se mostra através dos lugares-comuns que conformam o mundo-escrita: “O mundo […] é uma frase interminável que contém milhões de frases.”
A técnica da sujeição ou a tecnologia da subjetivação colhe e recolhe dados por meio dos quais calcula de antemão a margem de flutuação do rastro que o inscreve na rede textual que dá unidade às obras referidas, mesmo fragmentando-as. A transformação em sujeito ficcional implica uma forma de subjetivação e com ela a sujeição a um determinado formato visível, de certo modo controlável: o rastro como signo presente de uma coisa ausente. Se nesse entre-lugar “literário” a biopolítica pode ser observada com rigor, é porque o corpo (textual) se tornou uma “reserva inexaurível de força e resistência”, não passível de regulamentação e controle, embora seus traços possam ser percebidos de maneira sensível como “outra relação das palavras com as coisas que designam e com os temas que transportam”, o que possibilita uma nova “história comun(itária) de objetos e imagens”.
Essas considerações permitem pensar a tradição literária que ao longo dos séculos foi se constituindo na América Latina como um inventário de formas e valores que acaba desembocando na questão “literária” talvez mais crucial desse início do século XXI: “o que pode a literatura?” (Diana Klinger) O encaminhamento da questão se abre à potencialidade da prática escritural como uma “dialética suspendida” (Jean-Luc Nancy) que une indivíduo e comunidade de modo a tornar essa relação uma virtualidade já operante em territórios heterogêneos, disparatados, comunicáveis.