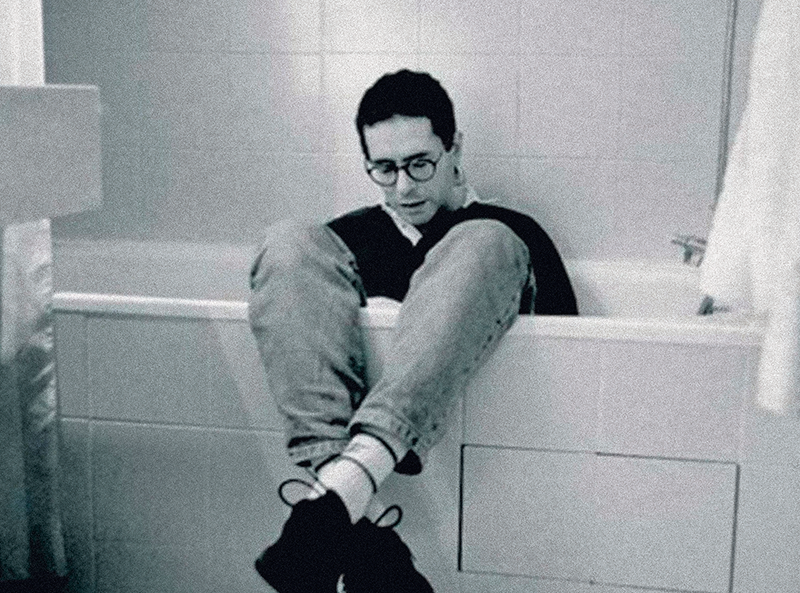
Trecho do ensaio Relato e sobrevivência, de Sandra Contreras, que faz parte de O congresso de literatura: ensaios sobre César Aira, livro que a Zazie Edições lança para download gratuito no dia 10 de janeiro pelo seu site (http://www.zazie.com.br/).
***
Eu estava em um delírio constante, me sobrava tempo para elaborar as histórias mais barrocas... Suponho que teria altos e baixos, mas se sucediam em uma intensidade única de invenção. C. Aira, Cómo me hice monja
O que “a menina César Aira” [nota 1] diz, com a exasperação do estilo que obtém de sua memória exacerbada, cristaliza, com potência e nitidez de imagem, o mecanismo que funda o universo airiano: um ritmo febril de invenção. A publicação de pouco mais de 35 relatos em um ritmo quase ininterrupto durante as últimas duas décadas do século XX (muito especialmente desde 1990, quando, com Los fantasmas, inicia a publicação “periódica” de seus romances inéditos, com dois, três ou quatro por ano) converteu-se quase em um lugar-comum quando se começa a falar da sua literatura, destacando o frenesi inventivo que lhe dá impulso, essa capacidade inusitada e inaudita de contar histórias. E, com efeito, é disso que trata, antes de tudo, a literatura de César Aira: de invenção, a mais pura e absoluta, na forma de uma história sempre nova e única. De tal maneira que a volta ao relato poderia definir, quase imediatamente, o traço mais marcante do lugar próprio que vem se configurando no contexto da narrativa argentina contemporânea: há nela uma volta ao relato, a recuperação para o relato de uma potência narrativa, mas também a volta do relato, sua insistência periódica, sua proliferação. Duplo impulso em que se cifra a invenção de uma forma inédita de resolver a interrogação que articula a narrativa argentina desde os anos 1970 – como narrar? –, mas também um gesto que afeta a própria definição do relato, de sua natureza e de sua função.
Uma volta ao relato depois de quê? Se o contexto é o da literatura argentina contemporânea, tudo indica, claramente, que se trata de uma volta depois da crise da forma clássica do relato que a narrativa argentina, desde meados dos anos 1960, expressou na reiteração de uma pergunta fundamental: como seguir contando? Uma volta ao relato depois da fragmentação e da descontinuidade narrativas que assinalaram de modo evidente as experimentações formais da vanguarda dos anos 1960 e 1970: isto é, depois do “antirromance”, depois da resistência – estética e política – a essa forma clássica e orgânica de representação que foi, por exemplo, para a vanguarda de Literal [nota 2], o gênero do romance enquanto forma “realista” e “populista”. É claramente a volta ao relato depois de, por exemplo, El camino de los hiperbóreos (Libertella, 1968), depois de El frasquito (Gusmán, 1973), depois de Sebregondi retrocede (Lamborghini, 1973). Também uma volta ao relato depois da forma interrogativa e conjectural como o romance dos anos 1980 soube refutar a mimese como única forma de representação e cifrou, obliquamente, a resistência crítica à homogeneidade dos discursos e à violência do presente. É a volta ao relato depois de Nadie nada nunca (Saer, 1980) e depois de Respiración artificial (Piglia, 1980).
Apenas se, por um momento, esta recuperação do impulso narrativo puder nos induzir a pensar na literatura de César Aira como em um avatar do tópico pós-modernista da “volta à narração”, devemos nos apressar em observar, desde o começo, o abismo que as separa. Em virtude de uma questão fundamental: enquanto recuperação do “prazer do relato” e de sua “amenidade”, a volta pós-modernista à narração – volta à intriga e aos gêneros, também volta ao passado e à tradição – quer-se uma tentativa de ir além do silêncio no qual desembocaram as experimentações vanguardistas. “Chega o momento”, diz Umberto Eco, para remetermos a uma das expressões emblemáticas do pós-modernismo literário dos anos 1980 “em que a vanguarda (o moderno) não pode ir mais além, porque já produziu uma metalinguagem que fala de seus textos impossíveis. A resposta pós-moderna ao moderno consiste em reconhecer que, posto que o passado não pode se destruir – sua destruição conduz ao silêncio –, o que se pode fazer é voltar a visitá-lo; com ironia, sem ingenuidade”. Mesmo quando esteja inevitavelmente atravessada pela lição da autorreflexão aprendida nas vanguardas, e isto determine sua dupla orientação simultânea – em relação com os mecanismos próprios da sedução narrativa: um jogo ambíguo de apropriação e distanciamento irônico ao mesmo tempo –, mesmo assim, na volta pós-modernista à narração trata-se, em última instância, de uma volta depois das vanguardas.
E ocorre, no entanto, que a experimentação com o relato na narrativa de César Aira não apenas não deve definir-se no sentido de uma mera recuperação da amenidade da intriga, mas também não é possível de entender se não é atravessada por um ponto de vista mais classicamente vanguardista, isto é, especificamente o das vanguardas históricas do começo do século XX: Surrealismo, Duchamp, e mais atrás ainda, na gênese mesmo da vanguarda, a literatura e a experiência artística de Raymond Roussel. A poética de Aira quer-se, decididamente, uma poética de vanguarda. Não só resulta de suas intervenções ensaísticas que a vanguarda é para Aira a chave de interpretação na leitura – Aira sempre lê e pensa do ponto de vista da vanguarda: Arlt e a estética expressionista (Arlt), Alejandra Pizarnik e o surrealismo (Alejandra Pizarnik), Kafka e Duchamp (Kafka, Duchamp), o exotismo e o ready-made e a invenção de Roussel (Exotismo) – mas também os procedimentos vanguardistas se revelam procedimentos construtivos do relato: da lógica do acaso que articula El vestido rosa (1982) até a experimentação limite com o delírio imaginativo de Dante y Reina (1996), por exemplo, poderia ser traçada uma linha de variação surrealista na narração. E estes procedimentos marcam, inclusive, pontos de inflexão em sua produção narrativa: assim, o desdobramento rousseliano e o perspectivismo de Duchamp que cristalizam em La liebre por volta de 1987 ou a falha perceptiva expressionista que mais ou menos em 1989 cristaliza em Cómo me hice monja.
Por um lado, e para dizer de modo muito amplo, se isso nos permitiria situar a literatura de Aira não em sua afinidade com o pós-modernismo do fim do século XX mas antes no contexto das poéticas de vanguarda que coexistem no campo literário argentino desde meados dos anos 1960, por outro lado nos obriga, ao mesmo tempo, a indicar algumas divergências: porque a vanguarda de Aira não é nem a de Manuel Puig, nem a vanguarda estética e política dos anos 1970, nem a das “estéticas da negatividade” da primeira metade dos anos 1980. Nem a experimentação pop com os gêneros menores e as formas de mau gosto, nem a estética da transgressão impregnada dos sabores psicanalíticos, teórico-literários e teórico-políticos dos anos 1970 (Freud, Bataille, Marx, Artaud, Tel Quel [nota 3]), nem a ficção macedoniana [nota 4] de Ricardo Piglia, nem a negatividade adorniana de Juan José Saer, mas sim: Surrealismo, Duchamp, Roussel. Donde se poderia afirmar, como uma primeira ou imediata comprovação: uma vez que impulsiona uma volta ao relato, a literatura de Aira opera uma mudança na biblioteca vanguardista do romance argentino contemporâneo: uma singular volta às vanguardas históricas no fim do século XX.
E o que poderia significar, hoje, remontar às vanguardas históricas do começo do século XX? E o que isso poderia significar no contexto dessa sensibilidade pós-moderna que, tal como se cristaliza nos anos 1970 e 1980, se define precisamente por uma rápida dissolução da retórica vanguardista? Porque nesse sentido devemos advertir que se, como toda tentativa neovanguardista, a volta de Aira não pode ser concebida como tentativa de continuar “a tradição da vanguarda” (Burger), o gesto implícito nela não é o de reatualização dos anos 1960. Não se trata aqui da reatualização do ataque iconoclasta à instituição artística que marcou a cultura sessentista do confronto. Nem do revival pop de Duchamp como precursor genealógico da dissolução das noções de estilo individual, obra-prima, autonomia artística. Tampouco, para nos situar em “nossos anos 1960”, desse éthos participativo com o qual a vanguarda estética e política reafirmava o nexo entre vanguarda e revolução (“a transgressão literária como revolução e a revolução política como transgressão”). Nem, para nos situar em um contexto mais próximo, dessa exigência (adorniana) de negatividade com a qual a vanguarda de Saer, desde os anos 1970 até o fim do século XX, insiste em uma forma de resistência na expressão.
Em outro sentido, e como se introduzisse uma fissura na própria matéria da tradição – o tempo –, a volta de Aira às vanguardas se realiza à maneira de uma reinterpretação de seu impulso sob a forma de uma singular ficção histórica. O surrealismo, diz Aira (...), segue sendo em larga medida a “nosso graduação”; a época da vanguarda, e está se referindo, em 1998, a sua origem histórica nos anos 1920, é “nossa época”. Poderíamos dizer que Aira fala como se fosse um vanguardista, situa-se historicamente como se fosse um vanguardista nas origens da vanguarda, no exato momento de seu surgimento ou enquanto dura seu impulso original. E é neste sentido que antes de estabelecer quais são os procedimentos vanguardistas específicos que podem ser reconhecidos em seus romances – dos quais, de resto, há mais de um exemplo – devemos começar perguntando qual é o sentido ou o efeito histórico deste gesto: o de adoção da perspectiva de vanguarda como ficção.
La nueva escritura (1998), seu ensaio mais orgânico, em que realiza a postulação de uma poética de vanguarda (o objeto é, especificamente, o procedimento musical de John Cage), pode nos dar um indício. Aira diz ali que o grande valor das vanguardas históricas foi o de reativar o processo da arte do zero quando esse processo estava fechado com a sua autonomização, isto é, quando os artistas haviam se profissionalizado, quando os procedimentos tradicionais se apresentaram como concluídos e a arte havia se tornado mera produção de obras a cargo de quem sabia e podia produzi-las: “Quando a arte já estava inventada e só restava a ela seguir fazendo obras, o mito da vanguarda veio repor a possibilidade de fazer o caminho desde a origem (…) e o modo de fazê-lo foi repondo o processo ali onde o resultado já estava entronado”.
A intervenção vanguardista é para Aira, antes de tudo, a estratégia por meio da qual foi possível para a arte começar de novo; a ferramenta para isso, a invenção de procedimentos que permitiram seguir fazendo arte com a mesma facilidade de fatura de suas origens e independentemente da realização das obras: “Os grandes artistas do século XX”, prossegue Aira “não são os que fizeram obras, mas aqueles que inventaram procedimentos para que as obras pudessem se fazer sozinhas, ou não se fazer”.
Na poética de Aira, de acordo com a leitura do conjunto de seus ensaios e segundo mostra aqui esta singular interpretação das vanguardas, a categoria de procedimento é central: sempre se trata de captar e interpretar o procedimento ou o “processo em si” que define uma obra, um gênero, um movimento literário. No entanto, se, em virtude desta centralidade conferida à categoria do procedimento, o remontar às vanguardas históricas de Aira pudesse ser entendido – de acordo com a teoria clássica de Burger – como um remontar a esse momento de autocrítica da arte na qual pela primeira vez o procedimento é percebido, por sua generalidade, como procedimento, é necessário advertir que não se trata, aqui, estritamente da percepção do procedimento nem do procedimento como desautomatização da percepção, na medida em que não se trata, na poética de Aira, da vanguarda entendida como autocrítica da “instituição arte”, mas sim da vanguarda entendida, primordialmente, como reinvenção do processo artístico. Operando uma singular transmutação da negatividade em afirmação, ou melhor, elevando o impulso de negatividade propriamente vanguardista para além de si mesmo, até um poder de afirmar, a poética de Aira concebe a intervenção vanguardista segundo uma imediata potência de afirmação: a de devolver à arte aquilo que é propriamente artístico, a de captar e recuperar, para a arte, aquilo que lhe é inerente e essencial: o artístico da arte, isto é, não a produção de arte (a consequência dos resultados) mas o processo de pura invenção. Trata-se, como se pode notar, de uma questão de ênfase: de colocar todo o acento não na dessacralização ou na autocrítica da instituição artística, mas no reencontro da arte com aquilo que a definiu – que a impulsionou – antes de sua institucionalização. Daí o caráter mítico que a perspectiva de Aira o faz lembrar da operação histórica das vanguardas: a operação se concebe como um retorno às origens (a recuperação do impulso artístico primogênito que é pura potência de invenção) do qual a arte – não a arte como instituição, e sim a arte em seu primordial, ou imediato, sentido de fazer artístico – extrai seu renovado impulso de insistência, de repetição.
NOTAS
Todas as notas são de responsabilidade do Pernambuco.
1. Referência à epigrafe. Em Como me hice monja, o personagem César Aira muda de gênero.
2. Publicada nos anos 1970, a revista Literal reunia, entre outros, os autores citados logo a seguir no texto de Contreras: Luis Gusmán, Osvaldo Lamborghini, Germán Garcia.
3. Tel Quel foi uma revista literária de vanguarda francesa publicada dos anos 1960 aos 1980. Agregou importantes debates sobre pós-estruturalismo e influenciou a ficção e a crítica latinoamericanas. Entre seus colaboradores estiveram Barthes, Foucault, Derrida, Francis Ponge e Julia Kristeva.
4. Referência a Macedonio Fernández (1874-1952), importante autor na história literária argentina, dono de obra inventiva e original que influenciou gerações posteriores. Foi uma espécie de mentor para Jorge Luis Borges (1899-1986).