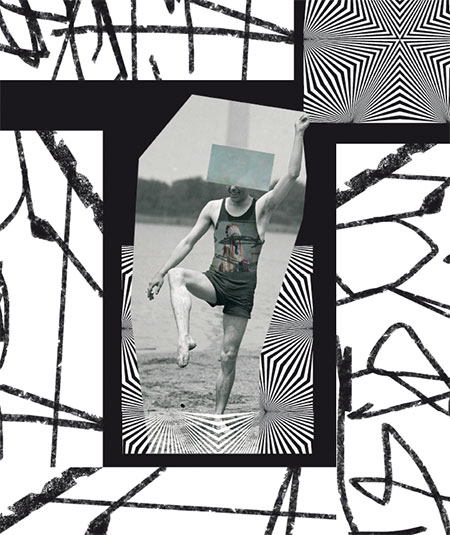
A autoficção tem sido exaltada como tendência dominante na literatura brasileira contemporânea. Escritos do eu transbordam os limites do autobiográfico e invadem a ficção, numa certa promiscuidade entre gêneros que inquieta teóricos. É certo que há melhores e piores autoficções, mas um bom exemplar desse gênero híbrido é, sem dúvida, a autoficção-limite, isto é, romances que se desdobram de situações-limite vividas por seus autores.
Nesse sentido, o binômio autoficção-loucura é recorrente. Vários escritores converteram em fina literatura as suas experiências extremas em hospitais psiquiátricos: Lima Barreto em O cemitério dos vivos, Carlos Sussekind em Armadilha para Lamartine, Rodrigo de Souza Leão em Todos os cachorros são azuis e Renato Pompeu em Quatro-olhos. Mas é esse último que aqui importa, pois ainda é tempo de se prestar justo tributo a esse jornalista e escritor paulista, morto em fevereiro desse ano.
A originalidade de Quatro-olhos tornou-o ao longo das décadas um livro cult, não propriamente pop. Trata-se de uma discreta obra-prima da literatura brasileira que, além da inquestionável qualidade estética, permitiu ao autor (na época de seu lançamento, em 1976, ele era redator do jornal Folha de S. Paulo) uma espécie de reconstituição de si após o contato íntimo com a loucura — a própria e a dos outros.
No romance o narrador-protagonista criado por Pompeu tem um pálido dia a dia de sujeito aparentemente comum, entediado no ofício de funcionário público, até que se vê internado no hospício. Há descrições magistrais dos bastidores da loucura, desde seus discretos, insuspeitos, espasmos na rotina do personagem, até seu salto radical na experiência psiquiátrica após prisão por motivos políticos durante a ditadura no Brasil.
Pompeu ficcionaliza alguns fatos de sua vida, já que foi, ele próprio, internado em 1974-75. Mais tarde ele escreveria o ensaio Memórias da loucura para descrever essa experiência e seus delírios de menino. Aos sete anos, achava-se vítima de uma “conspiração de mulheres”. Aos 12, tinha alucinações frequentes que o faziam “rir à toa”.
A certa altura Pompeu notou que seus pensamentos pouco se afinavam com o que se convinha chamar realidade e, em meio à dissonância íntima, concluiu: “Comecei a perceber que havia coisas que não mudavam nunca e coisas que mudavam pouco, que podiam me dar segurança. Uma coisa que, por exemplo, não mudava nunca era o texto, qualquer texto, de livro ou jornal. Por mais que você lesse, estava sempre escrito a mesma coisa. Agarrei-me, portanto, ao texto escrito (...).”
Não se trata aqui de explicar um bom autor pela sua loucura, afinal muitos gênios da história da arte jamais receberam um diagnóstico psiquiátrico e grande parte dos pacientes de manicômios nunca apresentaram uma produção artística ou literária, muito menos genial. No entanto, a julgar pela arte e pela escrita de nomes como Arthur Bispo do Rosario, Antonin Artaud, Lima Barreto e Renato Pompeu, é nítida a percepção de uma permeabilidade entre mundos, de um ir-e-vir, intenso, por vezes sofrido, entre cotidiano e delírio. São obras marcadas por esse vaivém, em geral autorreferentes, autobiográficas, em que a imaginação parece expandida pela alucinação.
Foi o próprio Pompeu quem melhor teorizou o tema ao falar de seus livros: “Todas essas criações minhas que chamaram a atenção de algumas pessoas são, na verdade, produtos do tratamento da minha loucura. (...) A arte é um modo de expressar de forma adequada e socialmente aceitável e útil o que a loucura expressa de forma inadequada e nociva — as fantasias do inconsciente. Ora, se o louco passar a se expressar artisticamente, ele estará neste momento não sendo louco. Estará sendo artista.”
A etimologia da esquizofrenia contém toda a complexidade dessa questão, afinal o termo (do grego) significa alma fendida. Sim, em alguns casos, a arte é uma ferramenta útil na recuperação de uma existência cindida, de um pensamento partido (a psiquiatra dra. Nise da Silveira bem o provou com seus pacientes-artistas do Museu de Imagens do Inconsciente). Ao se exprimir, o autor compila fragmentos do eu numa tentativa de reconstrução de si.
Não por acaso Pompeu lançou Quatro-olhos um ano depois da saída da clínica, inventando na ficção um personagem que apresenta tantas semelhanças com ele mesmo, preso várias vezes pela polícia política entre 1961 e 1970, não por ser militante, mas por conhecer militantes e escrever textos que não necessariamente agradavam aos militares.
Segundo Pompeu, a experiência na prisão legou uma mania de perseguição, e o término de um namoro na mesma época acabou por reavivar delírios de infância, detonando a sua loucura, que ele assumia como doença (era contra a ideia valorizada por Michel Foucault sobre a loucura como conspiração da psiquiatria e da sociedade). Um dia, acometido por alucinações em que colegas de redação agiam como feras aterrorizantes, achou por bem se internar. E somente ao final da internação escreveu Quatro-olhos que, em vez de se configurar um diário íntimo, um relato cru e factual da vivência psiquiátrica, é uma ficção sofisticada e bem-humorada, uma mistura de política e loucura, lançada ainda em plena ditadura. Um romance que passa ao largo do panfleto contra o regime militar e ainda assim se vislumbra, ao longo das páginas, toda a loucura do autoritarismo.
Quatro-olhos é dividido em partes. “Dentro” é o título do primeiro capítulo da vida do protagonista, um sem-nome acomodado no vaivém entre cafezinhos e despachos de repartição, casado com uma mulher inquieta e desconfortável em meio à repressão política. Professora universitária, ela reúne companheiros militantes em casa, sem atenção ou engajamento do marido. Ele parece viver em suspensão, em algum lugar entre a realidade e a ficção — nesse caso, uma ficção real, escrita por ele no primeiro capítulo, entremeada aos fatos do cotidiano.
Parte da autenticidade do romance está na obsessão do protagonista por um livro, um tal, escrito em algum lapso da monotonia e perdido, que ele procura obsessivamente encontrar ou rescrever. Assim, Quatro-olhos é um livro onde se rescreve um livro, sendo as narrativas do que é real (o dia a dia do personagem) e do que é fictício (as histórias contadas sobre personagens inventados do tal livro) confundidas, a ponto de nem sempre se ter ideia precisa do que as divide.
Personagens concretos e imaginários passeiam com liberdade pela obra, e de início cai-se na tentação de distinguir uns e outros. A certa altura, contudo, o óbvio se impõe: sendo um livro a priori de ficção, não há porque insistir na diferenciação. Tudo é real, ou tudo é fictício. Para o narrador, a questão tem pouca importância:
Talvez fosse eu, talvez um personagem do livro, quem sabe o homem morto, mesmo o dono das casas ou o moço que trabalhava na firma. Mas havia alguém, um casal, dançando abraçado, e eram jovens, mas enquanto se dançava abraçado e muito feliz o moço foi reparando que a moça foi envelhecendo.
No início do romance, o personagem sinaliza sua inadaptação à realidade, dedicado a um esforço extraordinário para manter a fachada normal, enquanto sua mulher o acusa “de não pisar no chão, de viver em regiões etéreas (...).” No entanto, há poucos elementos que indiquem o epílogo Apenas um episódio mais radical é descrito, com humor impecável:
Comecei a falar em voz alta:
— Eu sou índio, eu sou índio.
E minha mulher a exigir que eu tivesse preocupações mais concretas; eu a andar nu pela casa a tomar pinga, na falta de cauim; e minha mulher não se escandalizava (como escandalizar uma grã-fina?), apenas me impedia de assim receber visitas. Comecei a notar que me casara com ela para melhor me proteger do mundo dos brancos, que ela trazia colado à pele, cheia de razões e esquemas, filha da indústria e do comércio (...).
Estava eu muito satisfeito com a nova identidade. (...) Passei a suportar melhor o trabalho e fui até promovido; chegado em casa, tirava toda a roupa e ficava junto aos vasos de planta, imerso em profundas libações. Comecei a lidar com o livro como se fosse um relatório que tivesse de mandar à minha tribo sobre aquela gente curiosa. (...)
Eu escrevia essas histórias completamente nu. Durou pouco, porém, minha condição de índio; cansei-me do brinquedo e comecei a dar ouvidos a minha mulher, que falava em afastamento do mundo e loucura. Ela passava por mim como sombra; deixamos de receber os amigos. Cada vez mais, eu existia só quando escrevia o livro.
Essa relação visceral do personagem com a palavra é exacerbada na segunda parte do romance (“Fora”), quando ele é preso pela polícia — que, na verdade, arromba o apartamento em busca de sua mulher (esta já havia fugido) — e acaba no manicômio onde é apelidado Quatro-olhos.
A passagem entre prisão e hospício não se explicita, mas o tal livro, a escrita, continua, obsessivamente, sobretudo porque, sabe-se a certa altura, os manuscritos anteriores se perderam, e ele tenta recompô-los, assim como na primeira parte tentava recuperar um livro escrito anos antes. E, ao tentar recordá-lo, empenha-se em rescrevê-lo, o que se torna outro livro.
Não são fundamentais os destinos dos personagens, a trama em si, afinal vários livros perfazem o livro em si. O que importa em Pompeu é essa autoderrisão, o distanciamento de si, a excelência da ficção imposta à experiência autobiográfica. É um mestre na manipulação das fronteiras entre narrativas reais e fictícias, por isso as transgride sem juízo.
Essa permissividade entre vida e obra, que por vezes incomoda a teoria da literatura, alcança o ápice estético em Renato Pompeu. E se a loucura, além de tema, é ou não influência, cabe ao próprio autor a última palavra sobre o assunto:
Delírios continuo tendo, praticamente diários. Mas aprendi, com os médicos, os outros psicoterapeutas e particularmente com os outros loucos, a utilizar meus delírios de forma produtiva. Simplesmente aproveito meus delírios escrevendo livros, argumentos de filmes etc. Aprendi que as pessoas se chocam com os delírios verbais e não suportam conversar com um delirante, mas adoram ler delírios escritos, ver cenas delirantes nos filmes ou na TV, ver peças de teatro delirantes. Para falar a verdade, reconheço na obra de outros escritores e artistas em geral delírios iguais aos meus. Assim, Homero, Virgílio, Dante Alighieri, Cervantes, Machado de Assis, Proust, Lima Barreto (...) — todos esses me encantam porque me parecem tão delirantes quanto eu.