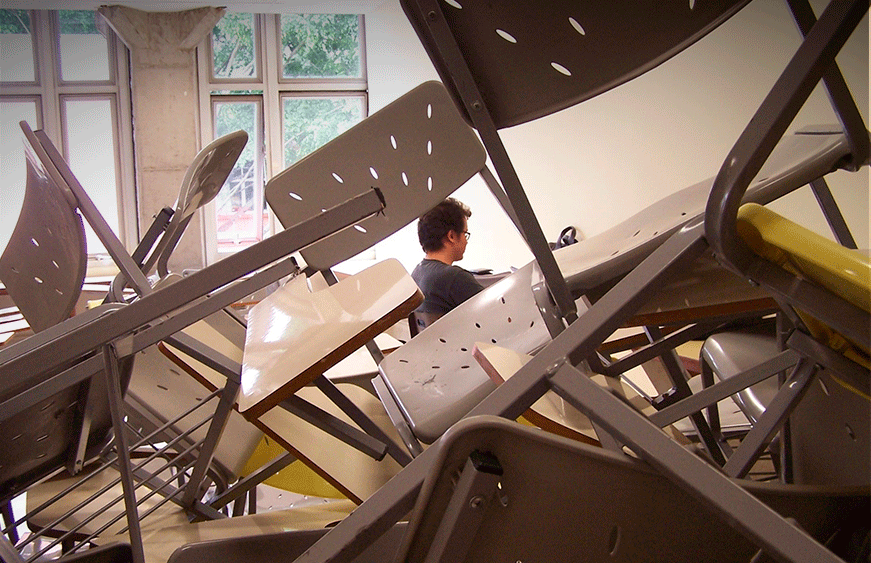
A pressão pela adoção do ensino pago nas universidades públicas é tão velha quanto o argumento que a sustenta: estaríamos diante de uma profunda injustiça, tendo em vista que esse sistema beneficiaria os mais ricos, mais bem formados – oriundos em geral de escolas privadas –, enquanto aos pobres restaria arcar com o ônus das mensalidades em instituições particulares, muitas delas de baixo nível.
No dia 24 de julho o jornal O Globo voltou à carga, num editorial que tentava atualizar o tema a partir de considerações sobre o que classificava como “a maior crise fiscal de que se tem notícia na história republicana do país”. Arroubos superlativos de diagnósticos catastróficos devem ser sempre postos em dúvida, sobretudo considerando de onde partem. Mas, a rigor, o editorial não deveria ser tomado a sério, pelos erros e omissões que exibe, além do indisfarçável cinismo: O Globo, quem diria, defende os mais pobres...
O erro elementar está em relacionar a Unifesp ao lado da USP e da Unicamp como o “conjunto dos estabelecimentos de ensino superior público do estado de São Paulo”. Das duas, uma: ou o editorialista ignora instituições como as federais de São Carlos e do ABC ou supõe que a Unifesp seja estadual. Francamente, a direita já teve escribas mais competentes.
As omissões mais gritantes começam com o “esquecimento” da política de cotas, que confronta o argumento essencial da universidade pública como privilégio dos ricos: essa política não só vem mudando sensivelmente a composição socioeconômica do quadro de alunos como trouxe novas demandas, inclusive no que diz respeito aos investimentos em moradia estudantil. Mas, como se sabe, O Globo sempre foi contra as cotas.
É também notável a ausência de considerações sobre possibilidades muito mais eficazes de se combater a desigualdade – ou a “crise fiscal” –, como a da taxação de grandes fortunas. Notável, mas natural: levantar essa hipótese seria contratirar os interesses dos mais ricos, entre eles a família proprietária dessa grande corporação de mídia.
Mas a principal omissão é sobre o que está em jogo nessa história: não se trata, simplesmente, da “gratuidade”, mas do caráter público da educação – e não só superior. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que não há exatamente ensino “gratuito”, porque tudo tem um custo: a questão é saber como esse custo é pago, e isso diz respeito ao tipo de sociedade que desejamos.
Como argumentou o professor Luis Felipe Miguel, da UnB, em meio aos protestos que esse editorial provocou nas redes sociais, “é correto dizer que os mais ricos devem pagar pela educação. Mas devem pagar pela educação de todos, por meio da taxação progressiva. Teses como a que O Globo requentou servem como uma cortina de fumaça para evitar a discussão real: nossa carga tributária é muito mal distribuída, em benefício dos que já são privilegiados. O problema não é que os ricos não pagam pela universidade, é que pagam muito menos imposto do que deveriam. Como grande sonegador que é, aliás, o Grupo Globo certamente sabe disso”.
O professor aponta duas grandes vantagens do financiamento público. A primeira é garantir que os pobres não serão discriminados. O jornal, espertamente, propõe a concessão de bolsas, e não o crédito estudantil, que implica um endividamento de longo prazo. “Caso se adotasse um sistema misto, com alguns alunos pagantes e outros não, o interesse das instituições seria atrair a clientela mais rica que pudessem. Afinal, alguns estudantes seriam receita, outros seriam despesa”.
É mais ou menos o que ocorre com as propostas, eventualmente bem intencionadas e aparentemente muito lógicas, de cobrança de reembolso pelo atendimento de clientes de planos de saúde pelo SUS: a tendência, também lógica – considerando a lógica capitalista – seria privilegiar esses clientes, que geram receita.
A segunda vantagem do financiamento público, diz o professor, é deixar claro a quem deve servir a universidade: à sociedade, não a interesses particulares. “A sociedade financia, a fim de receber, em troca, a contribuição daqueles que se formam. Não se trata, portanto, de vender o diploma como um bem privado, mas de produzir um conjunto de competências que serão socialmente úteis”.
É claro que isso está em completa dissonância com a valorização da “meritocracia” e da competitividade que enxerga a educação – assim como a saúde – como um negócio. A propósito, a entrevista que o reitor da UFRJ, Roberto Leher, deu ao jornal Brasil de Fato há um ano, pouco antes de tomar posse, é muito esclarecedora sobre o quadro que se está consolidando no Brasil a partir dessa lógica privatista e mercantil. Esse quadro é definido em duas grandes linhas: as fusões de grandes grupos educacionais – aqui o melhor exemplo é o Kroton, que, ao comprar a Anhanguera, em 2013, tornou-se o maior grupo de educação no mundo, com US$ 8 bilhões em valor de mercado, e sua fusão com a Estácio será votada em agosto – e o movimento “Todos pela Educação”, que reúne grandes grupos econômicos – bancos, empreiteiras, mineradoras, empresas de agronegócio e de mídia – para definir como as crianças e jovens serão formados. “É com isso que eles estão preocupados: em como fazer com que a juventude seja educada na perspectiva de ser um fator da produção”, disse Leher na ocasião. “Educar a juventude para o que seria esse novo espírito do capitalismo, de modo que não vislumbrem outra maneira de vida que não aquela em que serão mercadorias, apenas força de trabalho”.
Após o golpe que afastou a presidenta Dilma Rousseff, o governo interino não perdeu tempo: extinguiu uma série de programas e quer aprovar a PEC 241, que congela gastos públicos por 20 anos, sobretudo em educação e saúde. Junto com a alteração do modelo de exploração do pré-sal, que retiraria recursos do Fundo Social, essa medida representaria a precarização inevitável dos serviços, o que abre caminho à privatização.
Não é casual, portanto, que O Globo publique agora esse editorial. A peculiar adjetivação no título – “Crise força o fim do injusto ensino superior gratuito” – ressuscita um estilo que nossa imprensa já havia superado lá pelos anos 50 do século passado. Mas esse anacronismo talvez seja apenas mais um sintoma do impressionante e avassalador retrocesso que vivemos, muito bem expresso num comentário que circulou pelas redes sociais esta semana: afinal, quem poderia pensar que há dois anos discutíamos a ideia de investir 10% do PIB em educação e hoje estamos discutindo a Escola sem Partido?