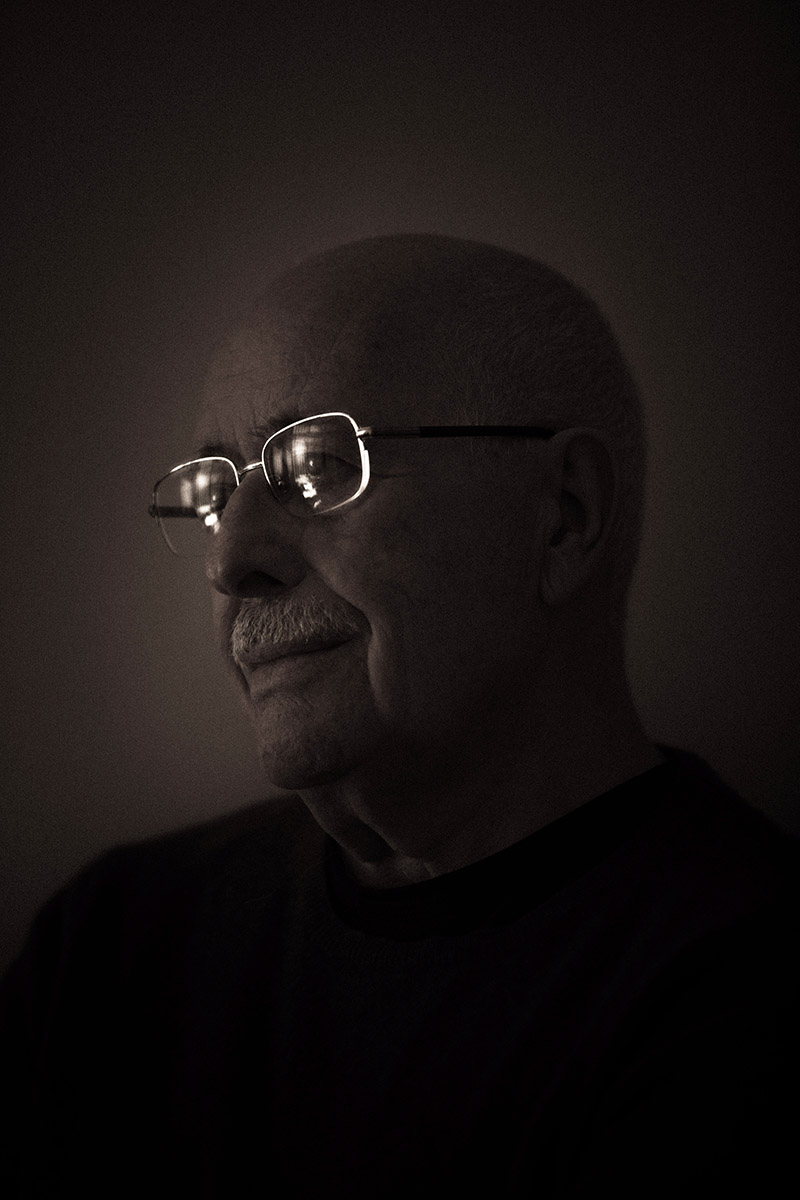
(...) entre o sacrifício e o jogo, entre a prisão e a transgressão, entre a submissão ao código e a agressão, entre a obediência e a rebelião, entre a assimilação e a expressão, – ali, nesse lugar aparentemente vazio, seu templo e seu lugar de clandestinidade, ali (no entre-lugar) se realiza o ritual antropófago da literatura latino-americana.
Silviano Santiago
Reler Uma literatura nos trópicos nestas últimas semanas me expôs à dolorosa conexão entre momentos da história política e cultural separados por exatos 40 anos. Lá, na dureza do regime militar, na insubmissão política e cotidiana de jovens como eu, entre palavras de ordem, prisões e todas as seduções libertárias do tempo, preparou-se a abertura de vias e confrontos que foram potencializados nos anos seguintes. Aqui, hoje, quem dormiu no sleeping bag, sonhou e viveu a cabal mudança do país, dos corpos e das vozes em torno, enfrenta, com estarrecimento, a abrupta interrupção de uma ordem social pela primeira vez aberta e acolhedora. Com sua sagacidade intempestiva ou por seu rico anacronismo, Uma literatura nos trópicos pode sustentar uma interpelação ao nosso tempo, porque contém ferramentas hábeis para avaliar a violência – seja do capitalismo neoliberal, da brutal hierarquização dos corpos, da intolerância com todo dissonante ou seja a violência maior da exclusão, frequentemente mortal, do antagonista tornado um inimigo.
Os ensaios publicados em Uma literatura nos trópicos são parte dos embates entre intelectuais, escritores e artistas que na década de 1970, na mais dura vigência do regime militar, prepararam o que o mesmo Silviano Santiago designará, 20 anos mais tarde, como “a transição do século XX para o seu fim”, datada por ele entre 1979 e 1981. Então debatiam-se no campo artístico as vanguardas reativadas pelo tropicalismo, a exaustão da programática estético-cultural marxista e a combinação – para muitos incompreensível – dos meios de comunicação de massa com a insurreição contracultural jovem. No círculo mais próximo ao crítico e professor de literatura digladiavam-se a vertente sociológica, intérprete autorizada da história política, cultural e literária do país há décadas, e o “pensamento francês” (expressão da época, útil pela imprecisão), que aglomerava tanto o formalismo e os vários estruturalismos quanto a sua desmontagem.
Os estridentes debates sobre arte e literatura nas principais universidades brasileiras, em cena aberta e com imediata repercussão nos suplementos culturais, funcionaram como válvula de escape providencial para a compressão, o cerceamento das manifestações públicas e a imposição violenta do consenso, próprios da ditadura. Mas esses debates foram também expressão da perplexidade de todos – criadores e críticos – sobre como operar politicamente a arte e a cultura no exterior da sintaxe marxista. Ter-se formado no exterior dessa sintaxe, fora da grande tradição que constituiu o pensamento social e a atividade crítica da maioria de seus pares e contemporâneos brasileiros, é o lance diferencial de Silviano Santiago que repercute em Uma literatura nos trópicos e produz um forte curto-circuito – imagem assídua nas apreciações do crítico quando quer apontar a interrupção no fluxo consensual e rotinizado das ideias ou dos discursos.
Na Nota Prévia, que abre o livro, um salvo-conduto escrito em terceira pessoa, o autor anuncia que “o intérprete perdeu hoje toda a segurança no julgamento, segurança que era o apanágio de gerações anteriores”. Acrescenta: “Sabe ele que o seu trabalho (...) é o de colocar as ideias no seu devido lugar” (grifo meu). O livro se apresentava em 1978, portanto, evocando o secular debate que obsediava e ainda afeta a intelectualidade dos novos mundos, sobre a vigência e a modelagem de ideias europeias no contexto politico e cultural dos trópicos. A Nota Prévia se reforça com o posicionamento dos ensaios O entre-lugar do discurso latino americano, na abertura do volume, seguido por Eça, autor de Madame Bovary.
As epígrafes do primeiro ensaio delineiam a articulação que será central no seu argumento. Uma delas é retirada do folclore brasileiro e relata a argúcia do frágil jabuti abocanhado pela onça: “Do crânio da onça o jabuti fez seu escudo”; a outra é um fragmento de Michel Foucault que convoca para a urgência das “tarefas negativas” contra todo saber fundado na semelhança: “É preciso se libertar de todo um jogo de noções que estão ligadas ao postulado de continuidade”.
Entre a tradição oral reativada e a instigação desconstrutora da teoria francesa, o ensaio é um protótipo do gesto pós-colonial e se insurge contra o apagamento da violência civilizatória, inerente à expansão da ocidentalidade, no repertório das ciências sociais e humanas e nas histórias literárias e culturais do Brasil. Santiago expõe o incessante retorno dessa violência recalcada nas hierarquias entre civilização e barbárie, Europa e Novo Mundo, que se desdobram em outras infindáveis e assimétricas oposições, entre centro e periferia, tradição erudita e cultura popular ou massiva, estética e política. Em termos mais fiéis à sequência da argumentação e ao prognóstico do “entre-lugar”, o alvo é a polarização entre vontade de pureza e vivência da mestiçagem, entre colonização (a imposição do modelo às cópias), e descolonização (a agressividade desviante dos simulacros). Com a veemência própria daqueles tempos de opressão política e agitação cultural, a análise de Silviano Santiago descarta a (esperada) síntese dialética e propõe a reversão das classificações, o valor do híbrido e a fertilidade de paradoxos e contradições: “A maior contribuição da América Latina para a cultura ocidental vem da destruição sistemática dos conceitos de unidade e pureza” (grifos dele).
O segundo ensaio da coletânea, Eça, autor de Madame Bovary, demonstra que a contingência da repetição, do pastiche ou da “tradução cultural”, e o dilema da secundariedade não estão confinados na derivação colonial histórica e explícita. Recorre ao Pierre Menard, autor del Quijote, de Jorge Luis Borges, para reinterpretar, como valor afirmativo, a familiaridade escabrosa do Primo Basílio com o romance de Flaubert. Em análise exemplar para a crítica cultural e para a teorização do literário, Silviano Santiago recolhe, na comparação dos dois romances, prosaicas cenas ilustrativas da “reversão do Platonismo” anunciada por Nietzsche e retomada por Gilles Deleuze: a invisibilidade das cópias fieis, quando coincidem com o seu modelo versus a visibilidade desafiadora dos simulacros quando exibem a sua diferença. A conclusão é análoga à avaliação do “entre-lugar” latino-americano, ressalta o valor da transgressão, a potência da repetição que se produz “fora do lugar”. Vale, para Santiago, tornar-se Outro pela energia transformadora do ritual antropófago.
Em um segundo bloco de Uma literatura nos trópicos lê-se a incursão do crítico literário com atuação universitária nos domínios dos mídia, da indústria cultural, da mercadoria artística ou “de uma arte de intenso consumo”, em especial nos domínios da “juventude”, como diz. A leitura que Silviano Santiago faz da cultura dos anos 1970 também é movida pela força reversiva ou desconstrutora de noções cruciais sobre a arte, na tradição ocidental. Os ensaios expõem a retração de valores da modernidade estética, como a alta cotação da escritura, do literário, do valor artístico universal. Os ensaios Os abutres, Caetano Veloso enquanto superastro e Bom conselho, em sequência no livro, transitam pelos debates culturais dos anos 1970 para apontar – às vezes com voz empenhada, outras com delicada e solidária ironia – a “dessacralização” da alta cultura.
Os três ensaios podem ser lidos sob o signo da insistência de um prefixo, próprio daquela geração do desbunde e da desconstrução que aparelha Santiago na sua atividade crítica. Neles, além da “dessacralização”, proliferam as operações de “descentramento” e de “deslocamento” nas decisões de valor. “Curtição” pode ser hoje um termo vazio, mas é a partir dele e no intercâmbio entre o crítico erudito e a então emergente cultura popular que uns semearam (palavra caríssima para Silviano Santiago) e outros disseminaram o valor do precário, do efêmero, do transitivo; a exploração do corpo como lugar de inscrição e leitura; a contingência do espetáculo, as contaminações entre o público e o privado, o desejo e a necessidade; a desconfiança da atividade intelectual que cataloga, codifica, paralisa, sacraliza − “salva do acaso”, como diz.
“Curtição” e “desbunde” são palavras já fora de circulação, mas em Uma literatura nos trópicos funcionaram como portas por onde Silviano Santiago fez entrar no debate intelectual e acadêmico brasileiro a cultura da contemporaneidade, com acuidade crítica e sem preconceitos. Pode-se considerar que o intelectual e professor, titulado na Sorbonne e treinado nas universidades norte-americanas, adentra os espaços do desbunde e da curtição com alegria e a excitação etnográfica dos turistas aprendizes, mas igualmente com voraz reverência de um antropófago, herdeiro também da linhagem oswaldiana. A mediação entre o modernismo dos anos 1920 e a sua atualidade cultural do final do século, aliás, é um bom viés (como preza dizer) para se ler os ensaios deste e dos dois outros livros seus publicados em sequência, o Vale quanto pesa (1982) e Nas malhas da letra (1989).
Em um dos poucos ensaios dedicados à crítica literária em Uma literatura nos trópicos, a leitura de Notas de Manfredo Rangel, repórter (a respeito de Kramer), de Sérgio Sant’Anna, Silviano Santiago flagra a face menos alegre da década e os impasses e arbítrio dos “anos de chumbo”, expondo os efeitos perversos do autoritarismo na elaboração ficcional. Com palavras ácidas, por vezes duras, lê nas situações dramatizadas por Sant’Anna o sectarismo moralizante e a atmosfera “repetitiva, pessimista, obsessiva, abusiva, lancinante, violentamente carregada de tons éticos-morais” que, diz ele, “reencontramos de conto em conto”.
Esta contundência trespassa as páginas da literatura para alvejar o momento político e existencial em que ele e o contista estão imersos, em 1973, ano de publicação do livro de Sérgio Sant’Anna, do ensaio e ápice do governo do general Emilio Garrastazu Médici, quando a ação da censura onipresente se consolida: peças de teatro, filmes, exposições, músicas ou outras formas de expressão artística são interditadas ou rasuradas; artistas, compositores, escritores, professores, políticos e líderes operários são investigados, presos, torturados, exilados do país ou sumariamente executados.
Lamentavelmente, estamos voltando a saber, ou aprendendo, hoje, do que se trata.
* Eneida Leal Cunha é professora e pesquisadora (PUC-Rio) de questões identitárias nas literaturas de língua portuguesa.