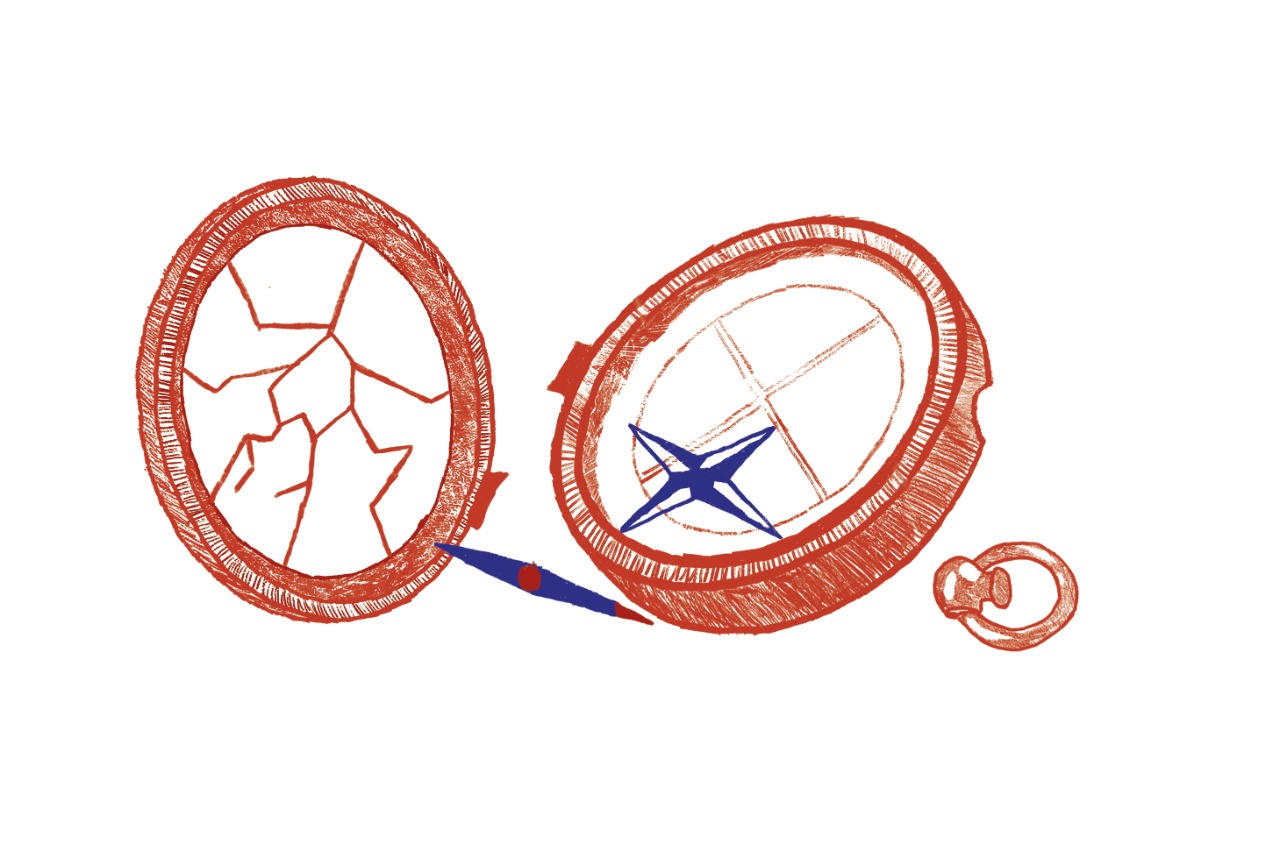
Nossa herança não é precedida de nenhum testamento.
(René Char, citado por Hannah Arendt em Entre passado e futuro e epígrafe de Menino sem passado)
Com a finalidade de alicerçar a avaliação das obras literárias de nosso acervo, a crítica literária brasileira tem-se servido à farta das Histórias da literatura nacional. Já há um bom e consistente número de competentes Histórias da literatura. Apresentam-se variadas na perspectiva formal ou ideológica adotada. São coincidentes, no entanto, no débito a um cânone aparentemente impalpável. Qualificado apressadamente de brasileiro, esse cânone é na verdade mero parasita do Ocidental, estabelecido subjetiva e autoritariamente por Harold Bloom.
Na História da literatura brasileira, são visíveis e precisas as marcas legadas aos contemporâneos pelo recurso a um cânone historiográfico único. Sua dominância às abertas, ou camuflada, extrapola os tratados e os manuais didáticos e é também perceptível nas resenhas, ensaios, dissertações de mestrado ou teses de doutorado que analisam e interpretam as obras literárias nacionais, de responsabilidade ou não de especialista.
Observa-se hoje uma acentuada pressão da atualidade político-social sobre a cultura brasileira. As mentes criativas e críticas se tornam mais e mais propícias a aceitar a lógica da diferença e a endossar com firmeza a opção por governanças constitucionais. O recurso metodológico à historiografia canônica tem chegado como estorvo inevitável às mentes criativas e críticas. Se se abandonar a referência única e se adotar uma metodologia e didática da e pela diferença, o recurso passa a representar um bloqueio. O bloqueio imposto pelo cânone à necessária diversificação analítica e interpretativa da literatura brasileira.
Impactada pelos atuais movimentos político-sociais, a crítica literária alternativa e pluralista ousa transpor o estorvo que se lhe impõe. Embora não seja admissível, é compreensível que ela seja vítima da incompreensão e do achincalhe pelos conservadores. Nosso amanhã não obedece a testamento. Parte das mãos das novas gerações de criadores. Aguardemos, pois, que mãos semelhantes escrevam uma História alternativa da literatura nacional. Tudo indica, ela deverá transpor os limites determinados pelo cânone e também pela norma culta da língua portuguesa falada e escrita no Brasil.
Até os dias de hoje, certo sentido da criação artística se casou com certo sentido a ser correspondido pela crítica atuante, e o feliz casal se casou, por sua vez, com certo saber propiciado pelo recurso ao cânone historiográfico. Esse matrimônio trisal é causa de certo obscurantismo, a ser combatido pelas novas gerações. Criação, crítica e saber se entrelaçaram monoliticamente. Constituíram um universo literário fechado e imperial, que se enfraquece pela repetição e é esgarçado pela atualidade sociopolítica e cultural. Foram-se os tempos.
A atualidade sociopolítica e cultural fomenta, arrasta e acelera novos mecanismos valorativos. Eles põem em funcionamento a máquina revisora do peso e do sentido de cânone. Os mecanismos valorativos se fundamentam na indispensável discrepância e inclusão artística. Ou, em nossos termos, fundamentam-se na obra que se quer “literária” ao diferir.
Nossa atualidade reclama uma política plural e democrática da língua portuguesa e da literatura brasileira. Estamos à espera de livros — em prosa ou em verso — que venham escritos (1) em forma que diverge da estabelecida pela norma culta e em (2) língua recalcada pela imposição única da língua portuguesa como nacional. Norma e língua foram inculcadas na mente do povo brasileiro pela boa educação prestada a classes sociais privilegiadas por um lado e insignificantizadas por outro.
Não teria chegado o momento de liberar as águas amazônicas e as atlânticas diaspóricas da literatura brasileira? As naves multiétnicas, que não ancoraram em Porto Seguro, trafegariam em liberdade pelas águas cidadãs. Amazônicas e atlânticas, suas tripulações só tinham permissão para trafegar se sob o comando dos dedicados e entusiastas etnógrafos (nacionais e estrangeiros), se sob a bandeira menor e suplementar de acervo folclórico ou de literatura oral.
Em Genealogia da ferocidade (2017) lancei o conceito de domesticação. Acreditei que ajudaria a compreender o efeito particular que o bloqueio causa na leitura do Grande sertão: Veredas, de Guimarães Rosa, uma obra selvagem, monstro forte e destemido. O recurso que o leva a ser lido a partir de Os sertões, de Euclides da Cunha, apesar de elogiável do ponto de vista didático e canônico, acaba por se disseminar naturalmente para o romance de Rosa e a se impor a ele, neutralizando sua wilderness alegórica.
Pensei que o conceito poderia ser ampliado para analisar obras outras e bem menos afinadas à norma culta e até à língua portuguesa, que são bloqueadas a priori pelo respeito ao cânone. Na maioria das leituras críticas das obras literárias nacionais há uma evidente proposta de domesticação do caráter selvagem, ou libertário, da criação literária em língua portuguesa no Brasil.
No passado recente, esse caráter selvagem, ou libertário, só se evidenciou em algumas leituras também particulares de bons autores nacionais infelizmente negligenciados. Nomeio a mais importante e definitiva das leituras. O resgate pelos poetas Augusto e Haroldo de Campos de O guesa errante, poema épico romântico de Sousândrade. Não é por casualidade que o ensaio Instinto de nacionalidade, de Machado de Assis, tenha sido publicado pelas mãos de Sousândrade no jornal Novo Mundo, em Nova York. Releia-se o ensaio de 1872 sob nova ótica e se entenderá ainda melhor o hoje explorável Inferno de Wall Street.
Cito frase do autor de Memórias póstumas de Brás Cubas: “Esta outra independência [a literária] não tem Sete de Setembro nem campo de Ipiranga; não se fará num dia, mas pausadamente, para sair mais duradoura; não será obra de uma geração nem duas, muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo”.
Acredito que o caráter selvagem/libertário da criação literária nacional, em língua portuguesa, sirva mais apropriadamente para definir uma qualidade nossa, coletiva e substantiva, que batalha com vistas à perfeição impertinente de Sísifo, lembrada por Albert Camus. Em termos concretos, o caráter selvagem/libertário aponta mais para a alta qualidade transgressora de nossa escrita artística e aponta menos para a sua qualidade adjetiva, brasileira, dada e subscrita a partir do Romantismo pelo cânone historiográfico.
A desmontagem do cânone pelo conceito de domesticação seria, pois, o modo de inquietar ainda mais a nova geração de criadores. Seria também o modo de inquietar o leitor, tanto o brasileiro quanto o estrangeiro. Associados, insistiríamos menos na paradoxal adjetivação ocidentalizante e sairíamos lucrando.
Para melhor conhecer o interesse do olhar estrangeiro (acadêmico ou não) sobre o Brasil, temos um exemplo clássico e uma belíssima pesquisa universitária. Refiro-me ao livro da historiadora Maria Odila Silva Dias, intitulado O fardo do homem branco: Southey, historiador do Brasil, de 1974.
No título de seu livro, a estudiosa cita um célebre poema de Rudyard Kipling, nascido na Índia em 1865 e falecido em 1936 no Reino Unido. O poema tem por tema a conquista de colônias e a exploração de ex-colônias pela metrópole. Um dado basta. Criador do personagem Mowgli, o poeta Kipling nos é também conhecido pelo romance O homem que queria ser rei. Nosso primeiro historiador é porta-voz do colonizador branco, cuja empreitada, a colonização dos trópicos, é representada pela metáfora do fardo que ele diz carregar voluntariamente às costas. Não há sarcasmo. Há precisão na escolha da referência e dos vocábulos.
O cidadão e poeta Robert Southey (1774–1843) se transforma em historiador ao se interessar pelo Brasil, via Portugal. Está a mando da Coroa britânica, que enfrenta grandes dificuldades com a colonização da Índia. Na falta de leitura do livro de Maria Odila, acrescente-se que o poeta é enviado a Portugal para saber como os lusitanos se saíam tão bem (era o que corria) da incumbência de carregar o fardo às costas no Brasil. A postura da Coroa britânica não difere tanto da postura jesuítica expressa por célebre trocadilho no Sermão da sexagésima, do padre Antônio Vieira. Os que vivem no paço são menos eficientes do que os que dão os passos na colônia.
O interesse do leitor britânico pelo Brasil, então colônia, é saliente por ter sido orientado desde o começo. O poeta se torna bibliômano, especialista na matéria e “agente secreto” (se me permitem a atualização em tempos de James Bond) da Coroa britânica. Monta uma biblioteca com mais de dez mil volumes. Suas leituras perfazem e redundam no conhecimento geral da História do Brasil, pano de fundo para a reflexão da aristocracia britânica que tem por objeto a colonização da Índia. Como poderiam carregar melhor e mais proveitosamente o fardo que coube à Coroa britânica?
Como melhor domesticar o colono?
Levantada atrás, a sinonímia selvagem/libertário se enriquece com o exemplo britânico e nos garante que não é proposta leviana. Configura um vasto e complexo sistema colonial europeu, com evidentes repercussões culturais na América Latina. Serve-nos de bom exemplo. Tem a ver — adianto eu — com a fatalidade de o escritor brasileiro ter de produzir obra literária em língua portuguesa, por mais que Lima Barreto tenha se esbravejado no Legislativo.
Até o ano de 1759, como ensina mestre Celso Cunha em A norma culta, o sistema pedagógico adotado tanto em Portugal como em suas colônias, nos níveis que hoje chamaríamos de secundário e superior, “não incluía o ensino de português, ensino que se restringia à alfabetização nas escolas menores”. De acordo com as regras de ensino praticadas pelos jesuítas, os alunos “passavam da alfabetização diretamente para o latim da Gramática do Padre Manuel Álvares, inteiramente escrita nessa língua”. Como se sabe o modelo jesuítico de ensino só vai receber condenação nos meados do século XVIII, na Reforma Pombalina. Em consonância com os ensinamentos de Luís Antônio Verney, autor do Verdadeiro método de estudar, “o primeiro princípio de todos os estudos deve ser a gramática da própria língua”
Por fatalidade — a não ser suspensa por mero efeito de Lei, eis o grave equívoco de Triste fim de Policarpo Quaresma —, o escritor brasileiro se obriga a escrever num esconderijo devassável. Numa toca em que, para lembrar Franz Kafka, as entradas estão sinalizadas. Obriga-nos a um escondimento na língua latina, que desestrutura qualquer rigor ou fidelidade na imitação da produção literária na tradição cosmopolita e em língua moderna. A fatalidade nos nocauteia no ringue aberto e igualitário do universo literário globalizado.
Somos fatalmente solitários nas Américas contemporâneas. Nem língua inglesa nem língua espanhola. Atenção! Isso não significa que nada tenhamos em comum com os outros. Por causa deles, nossa condição é só mais trágica — a solidão acompanhada.
Como reação à ferida em aberto da fatalidade, o escritor brasileiro deixa fermentar ad absurdum a liberdade criativa anárquica (sem a conotação histórica do movimento). A liberdade criativa nos sobra e muitas vezes falta ao grande escritor em língua cosmopolita.
Trago às costas outro fardo. Em conversa com o dramaturgo britânico Tom Stoppard, nascido e criado na Checoslováquia, ele me disse que sabia de antemão, ao se pôr a escrever a peça de teatro seguinte, que tinha de sacrificar sua expressão. Vale dizer, simplificar o enunciado das frases a ser ditas em cena por seus personagens. De maneira contraditória é que a simplificação linguística (ou o sacrifício artístico) trabalha em favor da alta qualidade dramatúrgica que ele pretende impor à peça de teatro que escreve.
A simplificação sacrificial é realisticamente prescrita ao escritor de língua inglesa. O texto da peça não pode ser particularmente britânico nem singularmente pessoal. A simplificação sacrificial se justifica por cifrões (sim, $$$). Por uma razão simples e concreta: o britânico tem de contar com a imediata tradução da peça para várias línguas estrangeiras. Só assim pode se autossustentar financeira e artisticamente. Como diz André Malraux, na frase final de lúcida interpretação estética do cinema: “Por outro lado, o cinema é uma indústria”.
No dia seguinte ao de sua produção, a escrita literária é mercadoria negociável na praça da cultura globalizada. (Não o será realisticamente se o autor for brasileiro e escrever na língua portuguesa.)
Tornava-se difícil para Tom Stoppard entender a defesa da liberdade indisciplinada que eu alardeava na criação de romances meus. Acrescentei que o enunciado “em liberdade” das frases de obra literária brasileira possibilita a oferta ao leitor duma enunciação também em aberto. Enunciado em liberdade e enunciação em aberto levariam o tradutor à loucura. Loucura ainda maior se ele não tivesse um bom conhecimento da língua portuguesa falada no Brasil. Raramente o tinha. Hoje, já o tem. Lembre-se: grandes editoras estrangeiras não tinham leitores em língua portuguesa. Ainda não os tem. Há que submeter o livro nosso em tradução a língua estrangeira. Facilita o negócio.
Lembrei a meu interlocutor que essa foi a razão pela qual Clarice Lispector fazia críticas ásperas à primeira tradução ao francês de Perto do coração selvagem, publicada pela respeitável Editions Gallimard.
O melhor em literatura brasileira escrita em português é fadado à originalidade radical. Daí o contrassenso maior da defesa do recurso analítico e interpretativo ao cânone historiográfico ocidentalizante. Tanto a mais interessante de nossas histórias literárias como a menos interessante foram escritas para que o leitor nacional e estrangeiro — e ainda a própria crítica literária — se sentisse à vontade frente a um antigo ou novo livro. O leitor tem a garantia de que vai pisar e se locomover na norma culta de uma língua pouco conhecida, mas escrita por zelosos escritores eurocêntricos, de índole realista.
Só assim o leitor e a crítica se encontram familiarizados com a obra literária escrita em língua tão fascinante e tão fatalmente indomável. Não poderia ter sido outro que Olavo Bilac, um pobre e ressentido poeta parnasiano, a prever: “[…] inculta e bela/ És, a um tempo, esplendor e sepultura”.
O estranhamento — Das Unheimliche (“o infamiliar"), para me valer do conceito de Freud — é congênito à falta de familiaridade com a criação literária brasileira em língua portuguesa. Não posso dizer o mesmo das artes nacionais que prescindem basicamente da expressão em língua portuguesa, como a música e as artes plásticas.
Em atraso eterno, temos algo em comum com a grande literatura norte-americana, só reconhecida tardiamente na Europa. Ainda que em ligeiro avanço, teríamos algo em comum com a atual literatura africana escrita em inglês e em francês? A anglofonia e a francofonia franqueiam condições culturais mais facilmente globalizáveis que a lusofonia? Não há dúvida, embora torçamos a favor de nós mesmos.
A literatura norte-americana só passou a ser reconhecida internacionalmente e ser a dominante no momento em que o conjunto expressivo se torna objeto de conhecimento obrigatório dos europeus e de reconhecimento qualitativo por parte do Ocidente. É sintomático o interesse precoce por ela ativado por Cesare Pavese, notável escritor italiano e editor. Definitivas foram as leituras mais recentes, feitas pelo filósofo francês Gilles Deleuze.
Inicialmente, os grandes autores norte-americanos (por exemplo, Walt Whitman e Hart Crane, poesia, Herman Melville e Ernest Hemingway, prosa) foram lidos e apreciados de uma perspectiva individualizante. Só mais tarde é que surgirá o interesse pelo conhecimento orgânico do conjunto norte-americano. É certamente por essa dupla inscrição que todos os grandes escritores gringos acabam por se alicerçar num conhecimento cúmplice da historiografia literária ocidental. São duplamente excepcionais e têm a ver com a singularidade do indivíduo e a autenticidade do cânone, assumido por um professor universitário norte-americano, Harold Bloom. Fecha-se o círculo.
Nada mais semelhante que à fase inicial acima sistematizada que a presença nos dias de hoje de Machado de Assis e de Clarice Lispector no panorama crítico atual da literatura brasileira no estrangeiro.
Em suma: há que continuar a desorientar o ponteiro da bússola do cânone único e ocidentalizante para que a crítica literária nacional assuma — a posteriori — a excentricidade que ela bloqueia. Assuma e nos deixe à espera de uma nova História da literatura no Brasil.