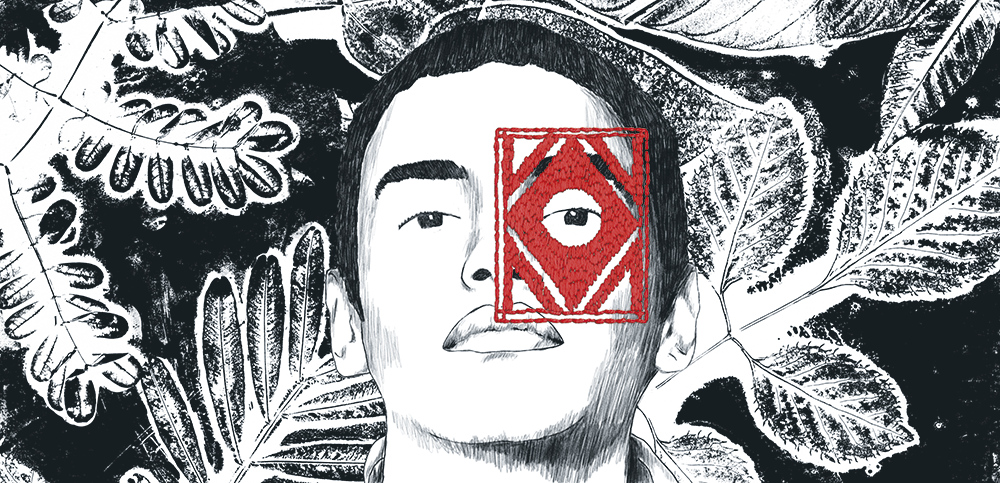
Escrevemos estas linhas ainda atordoados com a tragédia climática que assola o Recife. Assim como ocorreu da Bahia a São Paulo, chuvas torrenciais nunca vistas enchem os rios, devoram casas e ceifam vidas. Em outras regiões do Sul e Sudeste, rígidas secas e friagens assolam extensas e pequenas áreas, rurais e urbanas, enquanto incêndios colossais devoram ecossistemas no pantanal ao cerrado. Aqui, no coração da Amazônia, Manaus, observamos atônitos mais uma grande cheia dos rios, com previsão de mais impactos catastróficos para a população ribeirinha, indígena e urbana, que têm suas casas e roçados e outras áreas de produção alagadas. Estes exemplos, citados no calor dos acontecimentos, podem ser nomeados: emergência climática.
A emergência climática está na ordem do dia, e na Amazônia conflagra batalhas pelo futuro do planeta. Só para a Amazônia as projeções apontam para uma variação entre 2 a 8 graus da temperatura, com consequências drásticas como a mudanças no regime das chuvas e estações, aumento das secas e incêndios e retração da floresta. Segundo o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), o razoável seria mantermos a concentração de carbono a menos de 400 ppm (partes por milhão) e a temperatura entre 1,5 a 2 graus Celsius, para que tenhamos condições de seguir num planeta minimamente habitável. Mantidas tais condições e ritmos, estamos longe desta meta.
Números não expressam o calor dos acontecimentos: independentemente do que nós vamos presenciar ou alcançar, a mudança climática pelo aquecimento já ocupa e invade cada vez mais nossos corpos, paisagens, socialidades, espaços políticos e também nosso imaginário. Convivemos, muitas vezes de forma letárgica e aturdida, com cenas de degelo do Ártico, aumento do nível dos oceanos, morte dos corais e vasta extinção de espécies, aumento da incidência de fenômenos extremos (como seca e savanização das florestas tropicais), circulação de milhões de refugiados climáticos e cada vez mais a contaminação de nossos corpos pelas pandemias contemporâneas, a exemplo da covid-19.
As catástrofes, aqui e alhures, nos mostram, de modo evidente e cada vez mais incontestável a situação crítica do clima e suas consequências: ao falarmos de emergência climática estamos nomeando um tempo de transformação antropogênica do planeta que não pode mais ser minimizada como “eventos naturais” catastróficos, como querem fazer crer boa parte da mídia, empresas, tomadores de decisão e políticos negacionistas. As transformações e as catástrofes imanentes à emergência climática podem ser entendidas como acontecimentos socionaturais, isto é, as correlações entre o agenciamento de forças geológicas (temperatura, clima, floresta) com as agências e ações humanas. A mudança climática, espetacular em sua escala e força, é o resultado cumulativo dessas agências humanas e não humanas entrelaçadas. Esta é, arriscariamos dizer, a expressão mais profunda dos acontecimentos que nos afetam.
Esse entrelaçamento entre as forças da terra e as ações humanas levou muitos cientistas a nomearem os tempos que vivemos como Antropoceno ou, como alguns mais críticos preferem, Capitaloceno, ou ainda Whitepeopleceno, para destacar as responsabilidades diferenciadas do capital neoliberal e do racismo nos processos devastadores e arruinadores de vidas e paisagens. A sinergia entre o social e o natural, que caracteriza a emergência climática, ganha tração na precarização dos espaços vitais da população “minorizada”, marginalizada e racializada, na devastação de paisagens, na conflagração de incêndios, na implantação de monocultivos, nas emissões de gases de efeito estufa, na apropriação dos espaços e da biodiversidade pelo capital e pela ineficiência de políticas públicas.
Nesse novo regime climático global, como diria Bruno Latour, devemos conviver com um clima em distúrbio e em paisagens arruinadas por décadas de barbárie capitalista e sonhos desenvolvimentistas. Nesse ponto, as ciências humanas, em especial a Antropologia, podem ser vistas como uma área do conhecimento que pode prover testemunhos relevantes não só para compreender a emergência climática como um conjunto de causa e efeitos globais, mas identificar e mapear práticas e paisagens de diferentes sujeitos humanos e não humanos, relações sociocósmicas complexas que dão forma e entendimento às mudanças do clima, engendram modos e estratégias locais de adaptação e criação de habitabilidades e perspectivas de futuro evocadas por vozes diversas.
Para tentar adentrar nas entranhas desse monstro, realizamos em março deste ano uma série de webinários intitulada Emergência climática e Amazônia, com 4 episódios. Organizada pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (Anpocs), a série abordou diferentes temas, e contou com a participação de cientistas sociais, lideranças, pesquisadores e pensadores indígenas. Dentre outros propósitos, a série buscou evidenciar o lugar e a importância da Amazônia ao mesmo tempo como vítima e alternativa às catástrofes imanentes do fenômeno da emergência climática.
Durante os webinários, fomos guiados por algumas indagações: como contar histórias relevantes, críticas e potentes, sob o atual regime climático, por e a partir das ciências humanas e sociais? Que histórias podemos escutar e contar para compreender as transformações socioambientais e enriquecer nosso olhar para as formas de habitar a floresta, apontando para um pluriverso de possibilidades de existir e resistir em um mundo cada vez mais transformado, de paisagens arruinadas? O que os povos originários, indígenas e de comunidades locais têm a nos ensinar e que agenda nos colocam em desafio?
Em uma dessas histórias, observamos como a expansão das cadeias globais de valor do neoextrativismo contribui para a expansão de paisagens monoespecíficas e o arruinamento de territórios biodiversos, agora dominados pela soja, pelo milho híbrido e transgênico, e outras commodities agroindustriais, minerais e energéticas. Durante as apresentações e debates, fomos compreendendo como esse processo se materializa pela conformação de complexos agroindustriais e de práticas de devastação das florestas em volta de uma complexa cadeia de produção/extração, circulação e consumo de mercadorias dependentes de combustíveis fósseis e consequente aumento das emissões de carbono na atmosfera a um ritmo cada vez mais acelerado, criando infraestruturas antropocênicas que se edificam sobre paisagens arruinadas, responsáveis por um clima e seus ciclos cada vez mais alterados. Ao mesmo tempo, e para intensificar as transformações em curso, temos hoje uma representação da extrema direita no Brasil na qual o negacionismo ambiental e climático se tornou um projeto deliberado de conflagração da contaminação, do desmatamento e da privatização dos comuns, um avanço sem precedente deste processo na Amazônia.
Ao mesmo tempo, tivemos a oportunidade de tratar dos modos de (r)existências que emergem destas ruínas, a partir dos agenciamentos sociais dos povos da floresta, das águas e do campo que constroem contra-narrativas e reestruturam as possibilidades de habitar a terra em direção a projetos biodiversos e da ética do cuidado. No entanto, apenas a chave da resistência não nos permite compreender o que os povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia pensam e fazem no contexto de um novo regime climático. Enganam-se os que pensam que estes habitantes e promotores das florestas tropicais estão alheios e passivos a estas violentas transformações.
Das florestas, das beiras de rios, de vilas, aldeias e cidades, dos palanques dos congressos nacionais ou das assembleias internacionais, lideranças dos diversos povos autóctones vêm continuamente nos confrontando com imagens dos efeitos das mudanças climáticas para seus habitats e seus diversos modos de habitar o mundo, apontando que devem ser ouvidos e ter espaços efetivos nos debates sobre o ambiente e os modos de com ele se relacionar, bem como sobre as iniciativas locais de mitigação e adaptação. É por este o caminho que trilham os povos indígenas na Amazônia: evocando transformações lentas contra as transformações catastróficas.
Além disso, e, sobretudo, diferentemente de uma “visão capitalocena” em que a natureza é tida como inesgotável fonte ou estoque de matéria-prima, a cosmovisão dos povos indígenas e tradicionais concebem os ambientes como um palco de ecologias intersubjetivas, de pulsante interação entre diferentes sujeitos, humanos e não humanos (animais, vegetais, espíritos e mortos ancestrais). Concebem um mundo em que os seres humanos não são os únicos portadores de direito e das responsabilidades sobre ele, mas construtores comuns das paisagens multiespécies, de muitos e diferentes sujeitos, com os quais é necessário agir com etiquetas, limites e permissões na convivência em um mesmo universo.
Este caminho é possível, segundo as falas dos pesquisadores indígenas João Paulo Barreto Tukano e Alessandra Korap Munduruku, mas também dos antropólogos Juan Echeverri e Alessandro Oliveira, por meio de um pluriverso de percepções e epistemologias dos diversos povos indígenas. Tais valores, diante das mudanças climáticas podem ser vistos a partir dos seus conhecimentos e práticas tradicionais no contexto de suas paisagens relacionais. No filme Para onde foram as andorinhas? (de 2015, direção de Mari Corrêa), conhecedores dos povos indígenas do Xingu percebem as mudanças no clima devido ao aumento do calor e da falta de chuvas, do impacto brutal do desmatamento pelas fazendas de soja e pela construção de barragens. Em uma instigante passagem, o filme nos brinda com uma eloquente percepção da interação entre biodiversidade e clima: “cigarras não cantam mais anunciando as chuvas, e as borboletas não chegam mais avisando que os rios vão começar a secar... e as andorinhas sumiram”.
Os conhecimentos indígenas e seus agenciamentos nas diversas escalas apontam para a superação dos resquícios de colonialidade do saber e do poder que ainda persistem nas esferas de governança ocidental do clima. Não custa lembrar que o tempo em que os povos indígenas eram vistos como objeto da administração colonial, exemplos de “bons selvagens” rousseaunianos, definitivamente acabou, devendo dar lugar ao que sempre foram, agentes cosmopolíticos. Não há mais espaço, na agenda climática, para o silenciamento das epistemologias e das vozes indígenas.
No que tange à questão climática, os povos indígenas falam por si diretamente de seus lugares, analisam e diagnosticam as transformações do clima e da biodiversidade por meio de seus especialistas. E assim lutam em torno de seus direitos territoriais comunais e da manutenção de práticas ecossistêmicas ressurgentes, afirmando a possibilidade de habitarmos outros mundos. Estudos apontam que são as comunidades indígenas dos trópicos, em especial da Amazônia, que possuem centralidade na manutenção do estoque florestal de carbono e na mitigação das emissões globais. São elas que manejam mais de 20% do total de carbono estocado nas florestas.
As mudanças climáticas nos ensinam uma verdade inconveniente: ela não vai passar. Uma transformação ecológica é duradoura e irreversível e vai nos deixar um saldo negativo e pernicioso. Mesmo que tenhamos que afirmar esta verdade consensual por diversos regimes de conhecimentos, das ciências climáticas aos conhecimentos tradicionais, e mantê-la em nosso radar, muitos a negam em falsos debates enquanto outros oferecem alternativas infernais, autoproclamam-se gestores dos “tempos difíceis” e se empenham numa narrativa da crise como modo de governo.
Frente ao estado de “insegurança crônica” dos gestores do negacionismo, podemos apostar numa agenda que desafie as novas faces do colonialismo, do racismo e da hegemonia epistemológica e ontológica do Ocidente, e que reconheça o nosso passado, presente e futuro compartilhados com as muitas espécies e ambientes em que vivemos. Este talvez seja nosso desafio enquanto cientistas sociais. Um desafio intelectual de superação do “pensamento de separação” e da crise do presente, um desafio que não se faz só, mas em permanente diálogo e aliança com os saberes e estratégias políticas dos muitos povos indígenas que habitam as terras-florestas da Amazônia e alhures.