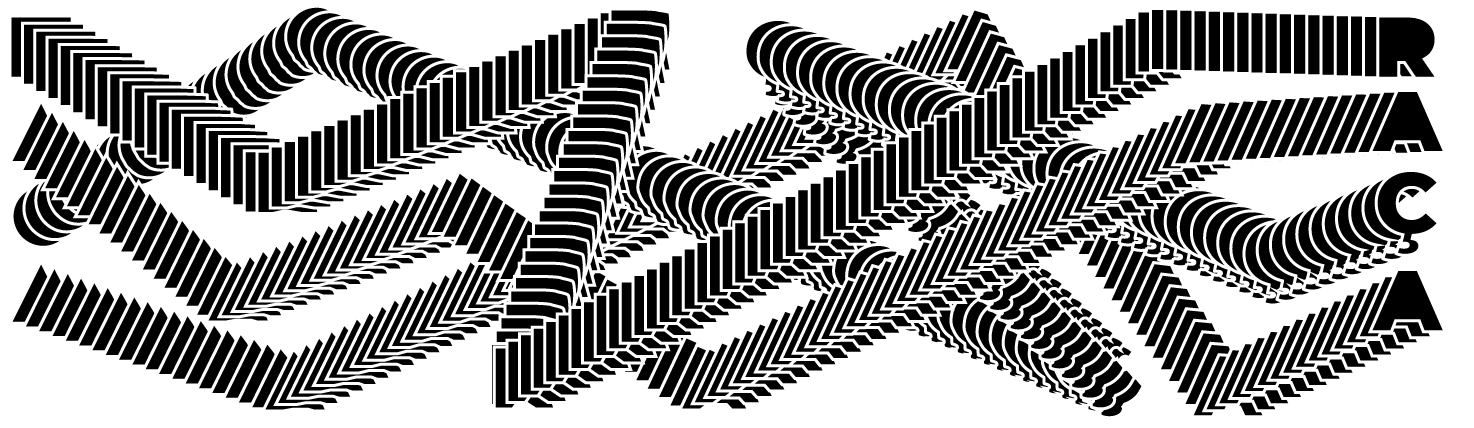
Nos anos 1980, o recrudescimento de casos de racismo no Brasil, assim como na Europa, trouxe de volta uma discussão que havia sido sepultada pela derrota do fascismo na Segunda Grande Guerra. O que parecia ter ficado restrito aos regimes de segregação da África do Sul e dos Estados Unidos ressurgia no Ocidente com novo vigor. Seria possível combater o racismo sem retornar ao exame da noção de raça? Haveria, ao contrário, um racismo sem raças? As ciências sociais ocidentais experimentaram respostas para as duas perguntas. Trabalhos recentes na historiografia europeia como Race et histoire dans les sociétés occidentales (2021), de Jean-Frédéric Schaub e Silvia Sebastiani, ou Racismos (2013), de Francisco Bethencourt, atualizaram essa mesma discussão, mas colocando agora a questão para ser examinada no longo prazo da história ocidental.
Vou examinar aqui a proposição mais radical e com mais adeptos – o emprego da raça para o estudo de relações de poder na história. Mantenho o consenso de que raça não corresponde a qualquer fenômeno do mundo natural, tratando-se apenas como construção social mobilizada para estruturar relações sociais e de poder. Aceito também que não pode ser usada como noção lógico-analítica a priori. No entanto, devo afirmar que raça é conceito analítico para as ciências sociais no sentido de ser imprescindível para que a análise sociológica desvende uma ordem de opressão que utiliza explícita ou implicitamente a ideia de raça. Ou seja, é analítico porque o conceito se refere a uma noção que orienta a ação social e permite ao analista compreender e explicar o curso dessa ação.
Dito isso, que características nos ensinam que estamos em presença de fenômenos que podem ser analisados pelo conceito de raça? Podemos encaminhar uma resposta examinando discursos políticos que em diversas épocas e diferentes territórios justificam hierarquias sociais, designando os seus e os que são tratados como inferiores ou superiores. Listo a seguir quatro componentes desses discursos: a superioridade de povos conquistadores; a superioridade de linhagens nobres; o direito a privilégios sociais e políticos; a transmissão geracional de características morais e intelectuais.
Se esses elementos fossem suficientes, certamente poderíamos usar o conceito de raça para a Antiguidade grega e romana, assim como para a Idade Média (do século V ao século XV), o Renascimento (do XIV ao XVII) ou para a Idade Moderna (séculos XV ao XVIII). Já encontramos esses traços definidores em textos filosóficos, de Aristóteles a Kant; já encontramos colônias formadas pela conquista militar, já encontramos uma nobreza de sangue, já encontramos escravizados. Estamos em presença de sistemas de justificativa de ordens sociais hierárquicas, as quais são consideradas qualidades e virtudes inatas de linhagens dominantes, e têm todas uma remissão à natureza humana como fator garantidor da estabilidade do poder. Ainda que, do período medieval ao Renascimento, as relações de dominação remetessem à ordem divina. Para cunhar um novo jargão, tratava-se de relações sociais sacralizadas.
Porém, no nascedouro da Idade Moderna, a Península Ibérica, as guerras religiosas – especificamente a perseguição do islamismo e do judaísmo pela Igreja Católica – deram origem a um novo traço na constelação da categorização racial. Refiro-me à ideia de que os semitas teriam qualidades inatas e indeléveis e que sua conversão religiosa ao cristianismo deveria ser tratada como uma forma de dissimulação. Têm razão os estudiosos do antissemitismo que veem na perseguição aos cristãos novos em Portugal e Espanha, e na lógica do discurso inquisitorial, a fundação da origem étnica como fator definidor da raça. Mas, ainda nesse período, mesmo no espaço territorial conquistado e colonizado nas Américas, as justificativas últimas remetiam ainda à ordem do sagrado.
A Idade Contemporânea assistiu a dois processos muito importantes para a conformação do racismo atual. Primeiro, a composição dos Estados-nação na Europa, que impulsionou discursos nacionalistas e de identificação étnica; segundo, a formação da ciência tal como a conhecemos. Nesse último registro, o homem (enquanto designação comum para “ser humano”) é concebido não mais como criação divina, mas como parte da natureza. É enquadrado como animal (primata e mamífero), na escala superior da natureza.
Tais desdobramentos fazem com que a ideia de raça apresente na Idade Contemporânea alguns elementos distintivos. Indivíduos e sociedades humanas podem ser doravante categorizados segundo características somáticas (cor, cabelo, formato dos lábios e do nariz), e tal classificação pode pretender seguir uma hierarquia que se encontraria na natureza. Ou seja, essas noções de história natural podem e são utilizadas para explicar também a história social e as relações sociais de poder. Assistimos, portanto, à redução do mundo cultural ao natural. No nosso jargão das ciências sociais, à naturalização das relações de poder. Nesses novos discursos políticos contemporâneos é que o termo raça aparece explicitamente com o sentido que tem atualmente.
Chegado a esse ponto da exposição, podemos ver que temos muito a ganhar com uma história de longa duração das categorias de sacralização e naturalização de relações sociais de poder e dominação. Sem ela, não poderíamos entender que boa parte das estratégias discursivas do racismo contemporâneo foram desenvolvidas desde a Antiguidade. Ou, ainda outro exemplo, elucidar como a definição de raça pela ancestralidade e pela origem étnica se entranharam em categorizações raciais, principalmente nos Estados Unidos. Esse conhecimento pode esclarecer muitos mal-entendidos.
O que resta saber é se seria raça o conceito que nos ajudaria a compreender as diferentes estratégias de justificar relações políticas de dominação a partir de ordens hierárquicas suprassociais, como querem Schaub e Sebastiani na obra anteriormente citada; se seria melhor falar não em raças, mas em racismo, como quer Bethencourt; ou se deveríamos restringir o uso desses conceitos apenas para o mundo contemporâneo, no qual aparece a justificativa naturalista para as estruturas de poder. Para ser mais pragmático que categórico, o que se ganha e o que se perde utilizando-se do conceito de raça para estudar e pesquisar cada uma dessas épocas históricas?
Passo a enumerar o que se pode perder. A utilização de um termo – raça – cunhado numa época específica (o século XVIII) para tratar de fenômenos que nem estavam plenamente nomeados em épocas anteriores, nem tinham a justificativa naturalista que lhes deu o conde de Buffon, pode certamente levar a erros de anacronismo. Ainda que o utilizemos como conceito analítico, mesmo que apenas no âmbito das ciências sociais; ainda que o usemos somente para desvendar relações sociais dissimuladas em outros discursos, esse risco permanece. Melhor seria ter um termo genérico para todas as épocas e utilizar termos específicos segundo os períodos temporais e os contextos históricos. Nesse sentido, esclarecer pela nomeação que se trata de relações de poder sacralizadas ou naturalizadas, mas distinguindo-as, pode ajudar. Do mesmo modo, tratar o antissemitismo do período inquisitorial como etnicização dos judeus, diferenciando-o do período posterior de racialização, poderia ser uma boa alternativa. Nesse caso, resguardar-se-ia o termo raça para referir apenas categorizações que se baseiam em discursos de redução do social ao natural, reservando-se etnia para os discursos sobre origens e ancestralidade.
Evitar-se-ia também um erro comum nos dias de hoje, qual seja, o de tratar toda a filosofia e a ciência ocidentais como racistas, sem considerar que é também na filosofia e na ciência do Ocidente que se encontram as ferramentas que mobilizamos na luta antirracista. Essa observação nos alerta para a necessidade de estudar as relações sociais de poder e dominação sem esquecer as estratégias de resistência que conquistados, escravizados e dominados urdem constantemente, às vezes mobilizando as mesmas categorias raciais. Onde há racismo, medra o antirracismo. Estruturas de dominação enfrentam frequentemente algum tipo de resistência. Nesse sentido, só a análise das relações de poder e de sua dinâmica em contextos bem delimitados pode revelar a tecitura dos modos de justificação das hierarquias, a formação e a manipulação das categorias sociais, da linguagem, dos discursos e das práticas.
Enfeixar conceitualmente certos períodos temporais para a análise das práticas e dos discursos de dominação pode ser um passo importante para fugir da longa duração que precisa, necessariamente, de maior nível de abstração. No entanto, esse passo pode ainda ser insuficiente, pois continuamos a correr o risco de simplificações abusivas. Por exemplo, em qualquer ordem social dada, não há apenas dois polos conflitantes. Há sempre outros grupos sociais, potenciais ou efetivos agentes de ação social, que circulam pelo mesmo espaço de interesses, a manipular os mesmos discursos e as mesmas práticas atualizando-as para seus fins. Na mesa que fizemos no canal da Anpocs (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais), com o título Raça e racismo na História, da qual participaram Ana Lopes, Matheus Gato e Silvia Lara, surgiram muitos usos alternativos de termos raciais por libertos ou livres não para escravizar ou livrar-se da escravidão, mas para ampliar seu próprio espaço de liberdade e de autonomia.[nota 1] A racialização é, portanto, um processo social que envolve agentes e intermediários vários, com interesses complexos e diversos.
Para finalizar, quero fazer duas proposições. A primeira é que a ordem discursiva que regula a cunhagem dos termos de categorização social é decisiva e pode fornecer a chave para periodizações. A segunda: as hierarquias foram em todas as épocas, no Ocidente, justificadas como resultado de qualidades e virtudes inatas; no entanto, o discurso justificador baseou-se em distintas concepções de natureza humana, e em distintas concepções do sagrado. Por consequência, raça e racismo não apenas refletem relações de poder particulares, mas são frutos de período muito peculiar nessa história de longa duração.
NOTA
[nota 1]. A mesa Raça e racismo na História pode ser assistida neste link: www.youtube.com/watch?v=PI_zCcK3NWk