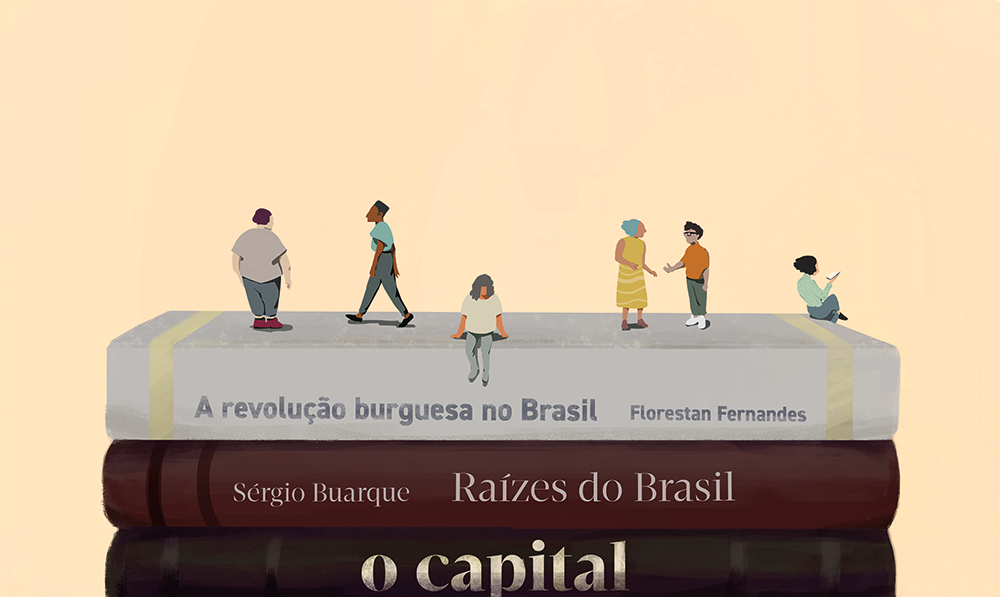
Neste momento em que chega ao fim meu mandato de presidente da Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, a Anpocs, gostaria de compartilhar algumas inquietações sobre o futuro e o presente das ciências sociais diante da sociedade e do Estado, e também no conjunto das áreas de conhecimento. Faço-o com base no aprendizado pessoal e social que a posição institucional que ocupei durante 2021 e 2022 me permitiu. E, sobretudo, com a esperança renovada após os resultados das eleições presidenciais do último dia 30 de outubro. Fará muita diferença ter um governo já notabilizado em gestões anteriores pela valorização da educação superior e democratização do acesso a ela, bem como pelo fortalecimento e maior equidade nas políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação, as chamadas CT&I. Há muito que fazer nesse campo, como em tantos outros da sociedade e do Estado brasileiros.
Antes de tudo, faço um agradecimento ao Pernambuco pelo espaço mensal aberto para que cientistas sociais apresentássemos em suas páginas resultados e questões de pesquisas atuais. A interação com as leitoras e os leitores do Pernambuco é muito importante e foi crucial dentro do programa que propusemos e levamos a cabo, nos últimos dois anos, para a reconstrução da comunicação pública das ciências sociais brasileiras. Frente a tantos ataques aos princípios básicos da ciência que vivemos, uma verdadeira guerra cultural segundo algumas interpretações, foi (e continuará sendo) crucial disputar a reputação das ciências sociais em meio a correntes de opinião e grupos organizados para disseminação de visões autoritárias e muitas vezes falsas sobre a vida social.
A Anpocs reúne hoje 120 Programas de Pós-graduação e centros de pesquisa em Ciências Sociais, Antropologia, Ciência Política e Sociologia de todo o Brasil. Através das instituições filiadas, a Associação abrange mais de 1300 professores universitários e pesquisadores, profissionais de alto nível, além de milhares de estudantes de mestrado e doutorado de norte a sul do país. Sua criação em 1977 expressava o anseio de cientistas sociais em se organizarem na luta pela democracia. E tivemos um protagonismo importante na transição democrática, inclusive na fundamentação teórica e no desenvolvimento de pesquisas empíricas sobre os desafios, os impasses e as possibilidades para a democracia. A história recente das ciências sociais passa, assim, pela discussão sobre a orientação das condutas de grupos sociais, a modelagem das instituições, a cultura política e os direitos humanos, entre outros tópicos que também culminaram em políticas públicas e princípios éticos codificados na Constituição de 1988.
Se a nossa Associação nasceu para defender a democracia e as ciências sociais, ela é, em si mesma, a expressão de um conjunto de políticas públicas implementadas pelos governos da ditadura civil-militar que, a seu modo autoritário e hierárquico, valorizavam a ciência, a tecnologia e a educação superior, em especial, a pós-graduação. Desde então, a pós-graduação e a pesquisa passaram a constituir setores estratégicos do desenvolvimento brasileiro, a ponto de Brasil ser, hoje, um dos únicos países a terem um sistema nacional de pós-graduação, o chamado SNPG, que permitiu, aos trancos e barrancos, uma integração nacional, além de qualidade e competitividade internacionais da ciência e do ensino superior brasileiro.
Ora, o que vivemos nos últimos anos, em especial desde 2018, foi bastante diferente daquele contexto da ditadura civil-militar a esse respeito. Após um processo de significativa expansão da pós-graduação e da pesquisa em geral e também em ciências sociais sob os governos do PT, passamos a um momento de retração e de ataques diretos às ciências sociais e à nossa comunidade científica. Ataques não isolados, posto que voltados contra a ciência e o desenvolvimento tecnológico como um todo, mas, como sempre, com efeitos desiguais. Recriam e potencialmente acirram as desigualdades entre as diferentes áreas de conhecimento.
Por isso, nem sempre pude concordar com posicionamentos públicos de entidades que, formal ou informalmente, congregam associações de todas as áreas do conhecimento que repetiram e organizaram suas estratégias de ação em torno da ideia de corte orçamentário da CT&I. A ideia de “corte” é fraca para expressar o que veio acontecendo nos últimos anos e o legado nefasto que o governo Bolsonaro nos deixa. Ela cria duas ilusões principais. Malgrado o significado da palavra, como “corte” orçamentário sempre existiu em maior ou menor grau no setor, sua adoção no contexto atual passa a impressão de uma continuidade com o passado e até mesmo de certa normalidade institucional. A segunda ilusão é a de que o “corte” orçamentário afetaria todas as áreas de conhecimento da mesma maneira – o que, obviamente, implicaria ignorar fatos básicos das duráveis estruturas de desigualdades de financiamento entre, digamos, biomédicas e humanas, para não falar das artes, sempre mais prejudicadas na distribuição tão desigual de oportunidades e recursos pelo Estado.
O que ocorreu no governo Bolsonaro em termos de políticas de CT&I talvez não discrepe tanto do que ocorreu em outras áreas. Foi uma ação estruturada de desfinanciamento e de desmonte, como, aliás, alardeava o então candidato à presidência em 2018, voltada para a ruptura e descontinuidade com políticas de Estado de duração mais longa assentadas nos governos democráticos anteriores. Para que se tenha uma ideia, os orçamentos do CNPq e da Capes, duas das principais agências de fomento federais, retornaram a níveis idênticos ou inferiores aos do ano 2000, e mais de 48% da verba do MCTI para o período não foi efetivada. O contingenciamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –FNDCT – foi objeto de disputas e negociações entre Executivo e Legislativo, sem que se tenha chegado a uma solução efetiva de respeito à execução orçamentária devida.
A política de desfinanciamento de CT&I no Brasil hoje nos alcançou em todas as dimensões dos nossos ofícios de cientistas, professores e pós-graduandos. Por certo, atingiu mais diretamente os segmentos mais vulneráveis da nossa comunidade, como os pós-graduandos e recém-doutores, os beneficiados pelas exitosas políticas de cotas raciais e outras formas de democratização do acesso e sua sustentabilidade na universidade. Os ataques desferidos pelo Executivo – e que também contaram com amplos consensos no Legislativo e noutros setores do Estado e da sociedade no governo Bolsonaro – atingiram e ainda abalam, acima de tudo, a confiança nas instituições da ciência e da educação superior como produtoras de bens públicos. Não existe, a meu ver, maior ameaça. Ainda mais dada a “situação paradoxal” em que a ciência se encontra neste momento: de um lado, ela é a grande força de transformação social; de outro, seus resultados são frequentemente ignorados; suas descobertas, negadas; e suas normas, transgredidas. Se esse não é um processo exclusivamente brasileiro, assumem sentidos urgentes nos dias que correm no Brasil. Sobretudo se somarmos a uma visão sincrônica do presente, outra diacrônica do processo histórico para poder pensar uma sequência brasileira de construção/desconstrução das políticas públicas CT&I que, ao fim e ao cabo, são partes cruciais da confiabilidade na ciência e suas instituições.
A sociedade, porém, nunca fica em suspenso aguardando a resolução definitiva de seus impasses. A vida social segue – nem sempre para frente, mas também para trás, com muitos retrocessos. Mas está sempre em movimento. Assim, é preciso discutir como o impacto do que está ocorrendo nas humanidades, em geral, e nas ciências sociais, em particular, pode ser mais duradouro do que se costuma avaliar, e até mesmo sobreviver institucionalmente a essa conjuntura política sabidamente desfavorável. Chamo a atenção, nesse sentido, para mudanças muito importantes em curso dentro das agências nacionais de financiamento nas próprias concepções de ciência e de seus modelos de financiamento. Elas têm reforçado modelos que privilegiam práticas científicas assentadas em sistemas de laboratório baseados nas ciências naturais, reificando a própria ideia de ciência; bem como priorizam grupos já estabelecidos, intensificando a concentração de recursos materiais e simbólicos. Em meio a tantos ataques desferidos pelo governo Bolsonaro, o problema não teve a visibilidade devida, mas precisará ser retomado urgentemente a partir de 2023. É preciso enfrentar a desigualdade interna aos diferentes campos do conhecimento.
Como cientistas sociais, nós sabemos que igualdades formais não bastam se não vierem acompanhadas de igualdades de condições para que possamos exercer plenamente nossas obrigações profissionais e os direitos constitucionais relativos à educação, pesquisa científica e liberdade acadêmica. As ciências sociais têm desempenhado um papel fundamental no questionamento desses processos de desigualdade na sociedade, mas também na própria ciência. Temos nos mostrado muito mais sensíveis que as demais ciências em geral às questões de marcadores sociais e hierarquias regionais, de gênero, de raça e etnia, geracionais e outras. Para nós, o perfil social da/do cientista conta e muito para o alargamento e redefinição não apenas dos repertórios temáticos e das teorias produzidas, como do próprio campo científico. Quando novos atores sociais entram em cena e tornam-se também autores, a ciência muda. Obviamente, ao lado e por dentro dessas transformações institucionais e cognitivas, colocam-se questões cruciais de democratização e de justiça social que não podem mais ser negligenciadas. E que a ciência brasileira como um todo precisa assumir como sua identidade mais forte.
Sabemos como a nossa persistente estrutura de desigualdades tem se mostrado potente o suficiente para estreitar ainda mais a esfera pública e a participação democrática. Mas devemos lembrar também que a vida social é constituída de uma teia de processos e de escolhas, de contradições e interdependências, em cujos ramais e caminhos há espaço para o aprendizado social e para a inovação da ação social e da ação política. As ciências sociais brasileiras, tais como as conhecemos hoje, são, em grande medida, o resultado da busca de respostas e instrumentos analíticos para entender a situação que o país vivia depois do golpe civil-militar de 1964. Esse histórico da relação das ciências sociais com as questões públicas indica que não devemos nos furtar a enfrentar os problemas colocados pelo momento político que se abre no Brasil. Mas ele também nos adverte que, como no passado, a capacidade de responder aos desafios do presente determinará a própria relevância das nossas ciências sociais no futuro. Resistimos e multiplicamos resistências nos últimos anos, quando o consenso normativo em torno da democracia na esfera pública parecia estar se desfazendo. À frente, a tarefa é de reconstrução da pós-graduação e da CT&I, enfrentando as desigualdades que ainda nos separam, mas colaborando para reconstruir e fortalecer a esfera pública brasileira que nos une.