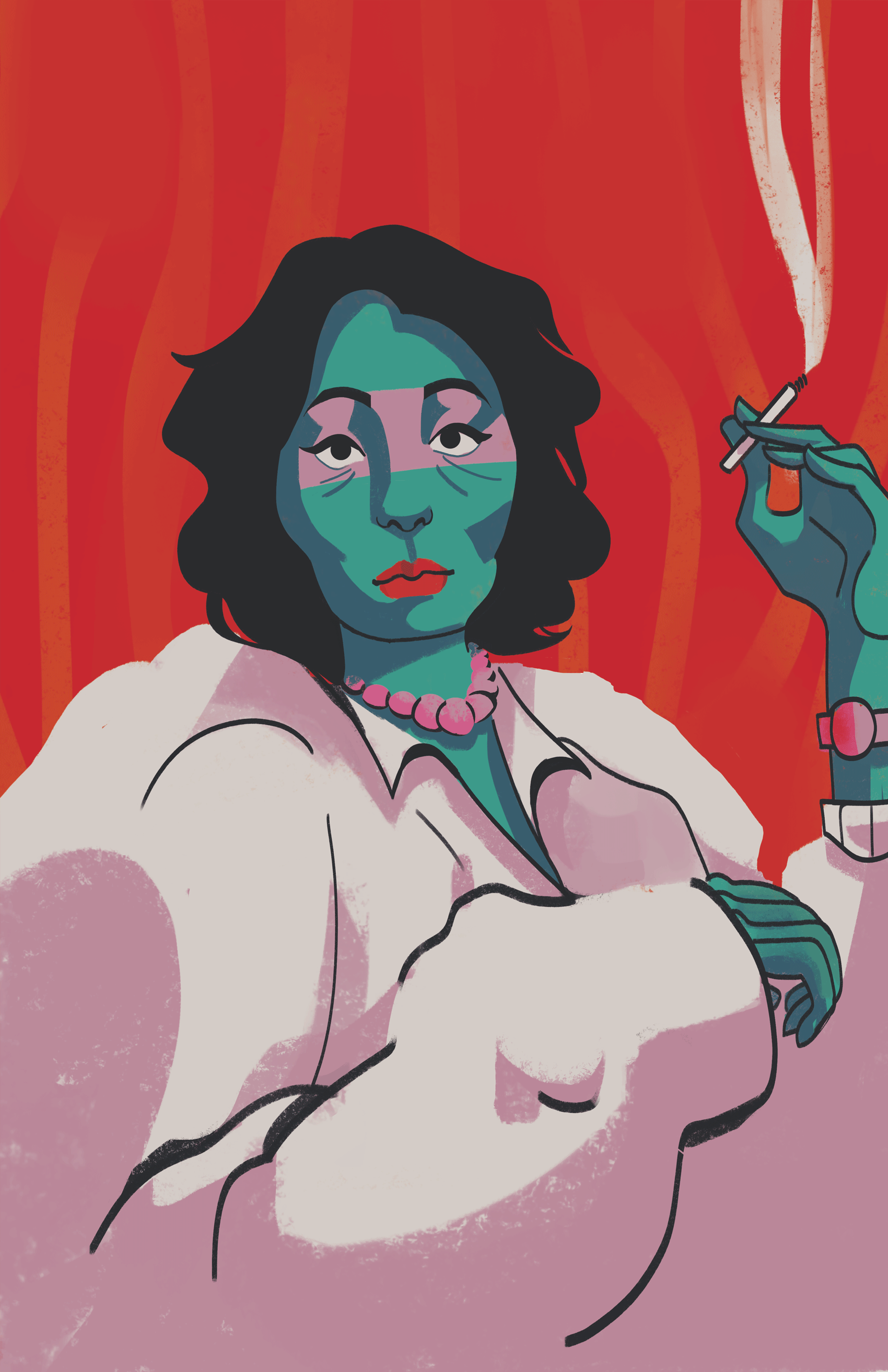
A cena de abertura de Perto do coração selvagem (1943), livro de estreia de Clarice Lispector, é emblemática de toda a obra da autora: em suas experiências lúdicas com a palavra, a menina Joana busca “surpreender os símbolos das coisas nas próprias coisas”, segundo o texto, ou seja, busca a um só tempo o que escapa à linguagem e a mobiliza. Uma cena primária, portanto, que une verdade e fantasia num jogo ardiloso a que a escritora adulta dará voz feminina e distintas formas de elocução ao longo dos anos, impulsionada por uma entrega obsessiva à escrita.
Não é de estranhar que o livro inaugural da então jovem desconhecida seja recebido por críticos da época entre o desconforto e a surpresa, acostumados ao romance regionalista e ao romance intimista até então predominantes entre nós. Alguns chegam até mesmo a pensar que o nome da autora seja um pseudônimo e o sobrenome marca de remédio. A exceção notável é Antonio Candido, que em No raiar de Clarice Lispector saúda entusiasmado o livro, chamando a atenção para a contribuição inovadora que traz para a literatura brasileira – “performance da melhor qualidade”, diz ele, uma das poucas obras à época que permite “respirar uma atmosfera que se aproxima da grandeza”. O juízo crítico de Candido, então muito jovem também, é certeiro e permanece válido até hoje. Passados 80 anos de sua publicação, Perto do coração selvagem mantém uma força e uma atualidade raras, como as muitas obras-primas que Clarice escreverá depois.
Na cena referida, marcada pelo som da máquina de escrever do pai e pelas badaladas do relógio da casa, tempo e linguagem se condensam e se espraiam na mente da criança que faz um poema inusitado, abrindo caminho mais do que para a expressão, para a construção e a desconstrução simultâneas do eu que narra e é narrado. Sua “essência mesma era a de ‘tornar-se’”, de transfigurar-se, como Joana se sente já adulta, deslocar-se “para fora de seu centro”, vacilar, pois o que havia nela eram “movimentos erguendo-a sempre em transição”.
Nessa direção desenvolvem-se os temas e motivos que serão frequentes daí em diante na obra in fieri: a menina órfã ou desamparada – lembre-se do conto Felicidade clandestina, no livro homônimo; o casal burguês e a dona de casa submetida direta ou indiretamente a uma experiência-limite, como no conto Amor, também no mesmo livro; o interesse pela natureza e pelos animais em direção a uma possível via ecológica do sentido em maior ou menor grau em todos seus livros; a dor como forma da alegria, à maneira de Nietzsche, uma constante em seus textos; a reflexão contínua sobre a linguagem; o contato com o abjeto em A paixão segundo G. H.; os deslimites do amor e da linguagem em Água viva; a atenção ao subalternizado no texto intitulado Brasília, do livro Visão do esplendor, bem como em A hora da estrela, para ficar só em alguns exemplos. Os temas irão se adensar ou adquirir maior ou menor relevo à medida que a obra for avançando.
O “mistério doido” parece ser a profissão de fé das personagens de Clarice – abertas para “o mundo e a morte?”, pergunta-se Joana –, sabendo que do sagrado ao demoníaco é um passo, como revelam as diversas representações sobre o demônio nos textos da autora: “É que um mundo todo vivo tem a força de um Inferno”, diz G. H. Seu valor literário mais do que filosófico, embora à primeira vista possa parecer o contrário, está na investida na vivência das personagens e da escrita em si – gozo e danação. A “aterradora liberdade” delas constitui-se na ruptura e na negação, que referendam o sujeito pela sua dissolução e pelo desarranjo da linguagem que o des/constitui.
A força de A paixão segundo G.H. (1964) está no embate entre o orgânico e o neutro, até a inversão de significado e direção de ambos, como se tudo estivesse entre aspas, “uma aspa à esquerda e outra à direita de mim”, nas palavras da narradora. Dona de casa da zona sul carioca, defronta-se com o espaço vazio do quarto da empregada que acabara de deixar o emprego, espaço de exclusão e de alteridade, cujo encontro lança G. H. na vertigem de uma procura sem fim: “preciso saber o que eu era!”, exclama. Dar a esse espaço de exclusão e segregação feminina – terrível em muitos sentidos – uma forma artística tão notável reveste a obra de Clarice de uma inquietante atualidade e faz dela um grito “duro como uma pedra-seixo”. Eis a atualidade política de seus textos.
Dá-se, assim, a comunhão com o abjeto – “o golpe de graça que se chama paixão”. E sobrevém o acontecimento da alteridade: uma forma de não-saber que o gosto “da massa branca amarelada por cima do pardacento da barata” acentua e leva ao encontro tão adiado – “E que assim me aproximaria do... divino? do que é real? O divino para mim é o real”, conclui. Mas – e nunca a adversativa foi tão significativa quanto em Clarice – existe a linguagem, que leva à despersonalização de si mesmo, à objetivação do sujeito. Eis o esplendor enfim alcançado, a desistência: “Eu tenho à medida que designo”, já sabia Joana, mas “eu tenho muito mais à medida que não consigo designar”, diz G. H.
Louca paixão da linguagem, vida e morte do sujeito. Em Água viva (1973), a narradora se transmuta em pintora e escreve uma história de amor que se torna um impossível autorretrato, um texto de gozo que, para Roland Barthes, é “aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem”.
O grito de aleluia com que a protagonista-narradora de Água viva dá a partida à aventura experimental da linguagem detona um processo ininterrupto de indagações, dirigidas ao próprio eu que fala do tu a quem esse falar se destina: procedimento especular, pois o tu passa a funcionar sobretudo como o espelho em que o eu busca sua imagem desejada. Os reflexos dessa interlocução cruzam-se no espaço textual e, em vez de delinearem uma figura estável e definida, delineiam algo vago e movediço e para tanto contribui, certamente, o ângulo de visão empregado, o da personagem presa da paixão, o que torna a verdade do seu dizer sempre fragmentária e duvidosa. Ficção, como está na folha de rosto do livro, foi como chamou Clarice Lispector essa interlocução em que pintura, música e escrita são homólogas – “gênero não me pega mais”, diz a pintora-escritora.
Os elementos factuais do enunciado são reduzidos a um “grau zero” e a linguagem ocupa, sem subterfúgios ou mascaramentos, lugar predominante na escrita. A enunciação livre de amarras e roteiros conjuga-se com a disponibilidade do sujeito – “não sei aonde me levará esta minha liberdade, mas estou solta” – e resulta no seu descentramento. Ao eu sou prevalece o “eu é”, todas as deduções ou reduções biográficas tornam-se vãs: “Não vou ser autobiográfica, quero ser ‘bio’”.
Efetua-se, então, a busca pelo it, uma terceira pessoa impessoal e móvel da interlocução, própria ao é da coisa e ao instante-já da escrita fragmentária, que afinal se revela uma busca inútil, desde o início comprometida – ou instigada? – pelos recursos fadados ao malogro pela linguagem: “A palavra apenas se refere a uma coisa e está e sempre inalcançável por mim. Cada um de nós é um símbolo que lida com símbolos – tudo ponto apenas de referência ao real. Procuramos desesperadamente encontrar uma identidade própria e a identidade do real. Mas se nos entendemos através dos símbolos é porque temos os mesmos símbolos e a mesma experiência da coisa em si: mas a realidade não tem sinônimos”.
A relação amorosa desdobra-se sempre em Clarice numa forma de liberdade e autoconhecimento, que torna o sujeito “forte como a alma de um animal”, nas palavras de Joana, e que toma corpo na escrita como um “isto”, caso de Água viva, que não para e continua a se escrever, sabendo-se que “o melhor está nas entrelinhas”, entre-lugar da paixão e do desassossego do discurso amoroso.
É nesse entre-lugar forte e ao mesmo tempo de uma fragilidade absurda que Clarice vai ao encontro final da sua Macabéa, testamento de vida e escrita. A comunhão com o subalternizado é agora um “direito ao grito”, como diz um dos possíveis títulos de A hora da estrela (1977), há muito preso na garganta. A aproximação não é fácil, requer, de certa forma, abrir mão de toda a experiência de escritora, desaprender tudo que aprendeu ao escrever e partir para a criação de uma linguagem outra, capaz de dar espaço ao que a ela resiste – o silêncio.
Para tanto, a escritora transfigura-se no masculino desde a dedicatória ambígua do livro – “Dedicatória do autor (na verdade Clarice Lispector)”: nem gênero mais, nem gender? Mas “essa coisa aí”, como define o livro, escrito “em estado de emergência e de calamidade pública”. A dedicatória, por si só uma belíssima obra-prima literária, não é um guia do que o leitor terá pela frente, mas uma sorte de poética mínima em que se enuncia o nível de abstração necessária, como na música, para se chegar à figura de Macabéa, aproximar-se do real ou tentar captá-lo sem ser realista: “Que ninguém se engane, só consigo a simplicidade através de muito trabalho”.
Aos poucos, de uma “molécula” cria-se um mundo desconhecido – Macabéa, “simplicidade orgânica”, retirante nordestina na cidade grande do sul maravilha. Como se fosse uma personagem de Graciliano Ramos após chegar ao lugar desejado em Vidas secas, mas prevalece o mesmo desalento e abandono, agora à margem da pólis, em quartos de pensão de periferia, submetida a empregos subalternos, iludindo-se com um amor “ralo”. Tudo parece condenar Macabéa a seu destino final a que o equívoco da cartomante dá um tom trágico e ao mesmo tempo irônico. A ele – inadiável – Clarice-retirante dá um brilho espetacular, como se numa tela de TV ou de cinema – “Qual é o peso da luz?” – para, enfim, terminar com uma afirmação da vida diante da morte: “Sim”.
Por muito tempo ainda, a obra de Clarice Lispector, inaugurada de forma tão impressionante, continuará a nos surpreender e comover. Nas palavras de Drummond: “Dentro dela/ o que havia de salões, escadarias,/ tetos fosforescentes,/ longas estepes,/ zimbórios, pontes do Recife em bruma envoltas,/ formava um país, o país onde Clarice/ vivia, só e ardente, construindo fábulas”.