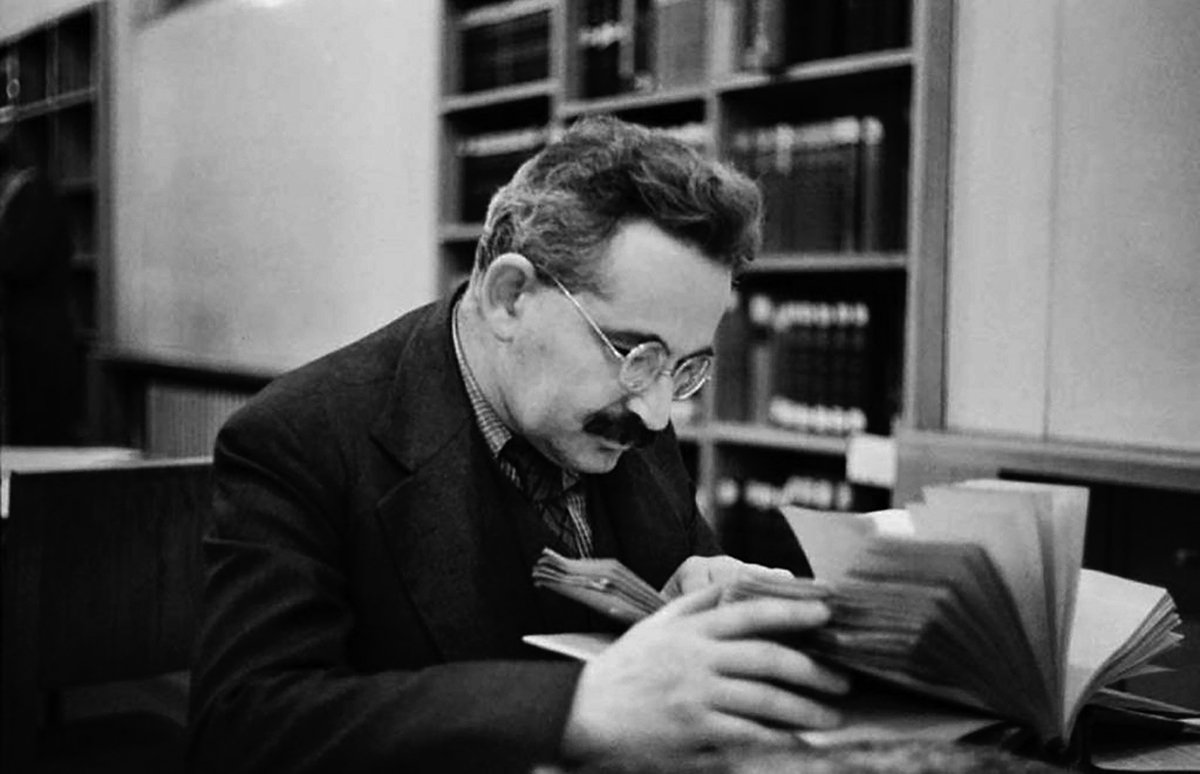
Muito já se falou e escreveu sobre Walter Benjamin. Não muito valorizado em vida, seu pensamento conheceu os louros da fama apenas após a sua morte, em setembro de 1940, quando tirou a própria vida na fronteira franco-espanhola. Desde então, Benjamin foi se tornando um mito. E como todo mito, cada um tem o seu e ponto final.
Uns ressaltam, por exemplo, o Benjamin inclassificável da juventude, o anarquista messiânico. Outros — não poucos — preferem o Benjamin entusiasmado com as novas possibilidades abertas pela reprodutibilidade técnica da arte, em contraposição ao elitismo identificado à crítica adorniana da indústria cultural. Os que destacam o seu marxismo rejeitam — à exceção de intérpretes mais recentes, como Michael Löwy ou Daniel Bensaïd — a sua herança judaico-teológica, e vice-versa.
Como toda simplificação, essas diversas imagens de Benjamin não deixam de remeter a aspectos reais da personagem. No fim das contas, ele é tudo isso mesmo. Mas, justamente por essa razão, mais importante do que escolher o nosso próprio Benjamin é arriscar uma análise em que todas essas dimensões apareçam entrelaçadas, como peças de um pensamento multifacetado cuja fascinação pelos fragmentos o afasta do apego a um sistema teórico a partir do qual a realidade é deduzida.
E nada melhor para explicitar essa interpretação do que a apreciação daquele que foi o seu primeiro livro escrito após a incorporação do marxismo: Rua de mão única, que acaba de ganhar uma nova edição pela Editora 34 em parceria com a Editora Duas Cidades. Além do texto original, a edição traz ainda resenhas de Adorno, Kracauer, Bloch, introdução de Jeanne Marie Gagnebin, assim como excerto em que Asja Lacis escreve sobre sua relação com o crítico alemão. Rua de mão única é também o primeiro conjunto de reflexões de Benjamin após um acontecimento que definiria a sua trajetória dali em diante: a rejeição de sua tese de livre-docência pela Universidade de Frankfurt, em 1925. Fora do ambiente acadêmico, restava-lhe o trabalho instável de crítico independente, outsider, sujeito às flutuações do mercado editorial ou jornalístico.
O caráter fragmentado de Rua de mão única pode ser visto, assim, como expressão de um itinerário (ele também todo acidentado, repleto de projetos inacabados e/ou malogrados). Aqui, vemos em cena um Benjamin que, embora mais atento à dimensão política da atividade crítica, não abandonou preceitos de sua reflexão pretérita, a exemplo da valorização da alegoria e/ou das imagens como formas legítimas tanto para as manifestações estéticas quanto para o conhecimento histórico-social. Ou ainda, da crítica radical da modernidade e, em especial, das concepções de “progresso” que a embasam.
Publicado pela primeira vez em 1928 — mesmo ano em que saíra em livro a sua tese academicamente rechaçada, Origem do drama barroco alemão —, Rua de mão única é composto por sessenta pequenos “fragmentos em prosa” que, juntos, configuram uma “coleção de imagens de pensamento”, no dizer de Adorno, na resenha reproduzida na edição. O título não é por acaso: é na “rua de mão única” que o intelectual vai recolhendo os trapos do espaço urbano, à procura de seus significados inauditos. Há relatos sobre sonhos, meditações sobre o amor, sobre a política, e, notadamente, descrições reflexivas de imagens e experiências na urbe. E a despeito da heterogeneidade nas ênfases e no tamanho destes aforismos muito particulares, todos eles desembocam na mesma viela onírica da modernidade.
Deambulando pela vida citadina, na esteira do mandamento surrealista, Benjamin compõe um mosaico de fragmentos, renunciando à estabilidade conceitual a fim de entregar-se “inteiramente à sorte e ao risco de apostar na experiência e obter algo essencial”, nas palavras de Adorno. É na concretude do objeto que reside a sua “essência”, e não na sua subsunção pela força da abstração cognitiva. A “ideia” já está no objeto. A reflexividade do crítico, portanto, não pode dele se descolar.
Em Benjamin, é como se o “concreto imediato” (ainda abstrato) de que falou Marx já contivesse, em potencial, o “concreto pensado”, restando à operação crítica estabelecer os laços entre um e outro. Se, para Marx, é a teoria que faz a mediação entre os concretos “imediato” e “pensado”, desvendando como “síntese de múltiplas determinações” aquilo que, à primeira vista, aparece como opaco e nebuloso, Benjamin aposta numa aproximação mais estreita entre os dois polos, buscando na visibilidade da história traços de sua lógica mais sistêmica. Como escreve Kracauer, em mais uma das resenhas que acompanham a edição: “Por trás do monte de entulho, vem à luz não tanto puras essencialidades quanto, muito antes, pequenas partículas materiais que indicam essencialidades”.
É esta a via do materialismo singular de Walter Benjamin, cujas idiossincrasias conseguiram desagradar, em maior ou menor medida, a quase todos os seus interlocutores intelectuais, incluindo os marxistas. Para Brecht, o problema da perspectiva benjaminiana eram os resquícios de misticismo. Adorno, por sua vez, acreditava que o limite estava, antes de tudo, no seu materialismo fragmentado e imagético, destituído da devida mediação interpretativa, e, por isso mesmo, propenso à recaída em elementos mágicos. Já Gershom Scholem, amigo de longa data e especialista em teologia judaica, apontava o dedo para a tentativa — aos seus olhos, fadada ao fracasso — de conciliar vocação teológica e materialismo comunista.
Os incômodos são compreensíveis e, ao mesmo tempo, reveladores. De fato, o materialismo de Benjamin não dispensa o recurso a aspectos teológicos, notadamente aqueles oriundos do messianismo judaico. A relevância conferida aos objetos, na sua decomposição, é também, para Benjamin, uma forma de os redimir. No maior e talvez mais importante dos fragmentos, intitulado Panorama imperial: Viagem através da inflação alemã, pode-se ler: “somente um cálculo que reconhece encontrar no declínio a única ratio do estado presente sairia do assombro desfibrante perante o que se repete cotidianamente e passaria a contar com os fenômenos de declínio como o puramente estável e a considerar unicamente o que salva como algo de extraordinário, quase no limite do miraculoso e inconcebível”.
Anos depois, nas chamadas teses Sobre o conceito de história, de 1940, Benjamin recorreria à figura (de fundo teológico/judaico) do “anjo da história” para sublinhar essa atração pelas ruínas, vistas como desvio inevitável por onde deve passar a salvação. Ao olhar para os escombros deixados pela tempestade do progresso, o “anjo da história” está ao mesmo tempo nos alertando que nem os mortos estarão a salvo caso o inimigo continue a vencer, como vinha e vem acontecendo. Cabe aos oprimidos do presente, portanto, propiciar a redenção dos vencidos do passado. É daí que emergiria o impulso para a ruptura com os dominantes de turno, e não tanto do apelo às futuras gerações.
No projeto inacabado das Passagens (Paris, capital do século XIX), Benjamin nomeou essa nova relação entre presente e passado como “imagem dialética”. O paradoxo não poderia ser maior. Afinal de contas, um dos móveis do pensamento dialético “clássico” é a tentativa de dissolver as imagens, à procura daquilo que ultrapassa a aparência imediata, ou seja, da “essência”. Desafiando os cânones hegelo-marxistas, Benjamin caracteriza a “imagem dialética” como uma “dialética em suspenso”, no sentido de que congela num instante o sentido essencial de um presente que traz em si as marcas do sofrimento passado. Com isso, em nome dos vencidos, o crítico alemão explicita uma forma de representação que explode o continuum da história. Doravante, tudo se condensa no presente: o presente do presente, o presente do passado e o presente do futuro.
Em Rua de mão única não são poucos os escritos que explicitam essa rearticulação da temporalidade histórica. Dentre eles, destacam-se os relatos de sonhos. Benjamin sempre fora fascinado pela dimensão onírica da vida individual em sociedade. No trabalho Paris, capital do século XIX, o sonho é percebido como momento de um processo intelectual e político que visa o “despertar” diante das fantasmagorias da modernidade. Não se trata, porém, de um “despertar” que abandona o mundo onírico em benefício de uma racionalidade realista estreita e autossuficiente. O ato de acordar significa, na verdade, a interrupção do modo como a realidade vem sendo vivida e sonhada. Contra os espectros da mercadoria, que subordinam a humanidade a um sono profundo, o sonhar benjaminiano é um “sonhar acordado”, como diria Ernst Bloch.
Em outras palavras, para voltar a sonhar é preciso interromper o pesadelo. E, para isso, é necessário ação, pois “se a eliminação da burguesia não estiver efetivada até um momento quase calculável do desenvolvimento econômico e técnico, tudo está perdido”. O “alarme de incêndio”, conforme o título do fragmento, não poderia ser mais ensurdecedor: “antes que a centelha chegue à dinamite, é preciso que o pavio que queima seja cortado”. Mais tarde, nas notas preparatórias às teses Sobre o conceito de história, Benjamin associa a revolução a um “freio de emergência” na locomotiva da história, antes que esta chegue à estação da catástrofe.
Rua de mão única é dedicado a Asja Lacis, dramaturga comunista oriunda da Letônia por quem Benjamin se apaixonou e cuja importância na sua adesão ao marxismo não pode ser menosprezada. “Essa rua chama-se RUA ASJA LACIS, em homenagem àquela que, na qualidade de engenheira, a rasgou dentro do autor”, escreve ele. E ao fazê-lo, Lacis ajudou a abrir um novo continente no pensamento de Benjamin, num processo que seguirá o seu curso atribulado até o desenlace trágico de sua vida, em 1940, quando tentava escapar das garras do nazismo.
Sem jamais renunciar à melancolia que conhecera desde cedo, Benjamin buscou transformá-la em força intelectual e politicamente produtiva. Essa foi a luta de sua vida, convicto que estava de que, apesar da incerteza e mesmo improbabilidade, somente a construção de uma nova sociedade poderia fazer justiça aos que padeceram em meio às ruínas do progresso. Mais de oito décadas depois de sua morte, esse é o caso, aliás, do próprio Benjamin.