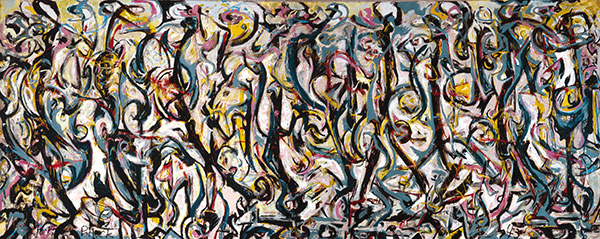
Quincas Borba(1891), de Machadode Assis, reeditado agora pela Penguin & Companhia das Letras, com prefácio de John Gledson e notas de Maria Cristina Carletti, é filho deuma tradição literária inaugurada por Miguel de Cervantes: a que inscreve nos gêneros narrativos — em particular, o romance — a forma satírica de Luciano de Samósata (séc. 2 d.C.). No entanto, se Luciano satiriza, por meio da intertextualidade, os chamados gêneros sérios da literatura clássica — a tragédia e a epopeia —, Cervantes se vale, como objeto da sua sátira, de um gênero menos nobre: as novelas de cavalaria. Não só: o escritor espanhol transige o autor grego ao semear, ao longo do seu romance, o que Octávio Paz chamava “a dúvida no ânimo”, ou seja, tomar a ironia como forma, como um modo de organizar a obra (diverso da ironia enquanto dito, axioma ou enunciado). Neste caso, a forma irônica leva tanto o leitor quanto o personagem a não saber o que é, de fato, o real: se o que veem os seus/nossos olhos ou o que a sua/nossa imaginação projeta. As novelas lidas por Dom Quijote substituem, na sua imaginação, a realidade: ovelhas se transformam em cavaleiros; choupanas, em castelos; a feia Dulcineia, na mais bela das donzelas; moinhos, em gigantes; e ele próprio, Quijote (outrora o pacato Alonso Quijano), em um rijo e destemido cavaleiro, à maneira de Amadis.
Ao longo dos anos de 1870, Machado de Assis escrevera uma série de ensaios em que acusava os limites do que denominava como “doutrina” do Realismo. Em artigo de 1878 — O primo Basílio—, sobre obra homônima de Eça de Queirós, ele observava desdenhosamente que a “nova poética [...] só chegará à perfeição no dia em que nos disser o número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha”. No ano seguinte, no ensaio A nova geração, ele afirmava, sem meias palavras, que “a realidade é boa, o Realismo é que não presta para nada”. Então, como sair desse impasse: falar da realidade sem subordiná-la ao método Realista, então em voga na literatura ocidental ou ocidentalizada? Para ele, a solução estava em retomar criticamente àtradição inaugurada por Cervantes em 1605, assim como nos séculos 18 e início do 19 fizeram, cada um ao seu modo, Laurence Sterne, Almeida Garrett, Xavier de Maistre e Denis Diderot (no século 20, o caso mais emblemático é o de James Joyce). O resultado dessas reflexões é Memórias póstumas de Brás Cubas(1881). Obra, em vários aspectos, tão inovadora e antirrealista, mesmo considerando a literatura europeia àépoca, que um crítico literário — nada mais nada menos do que Capistrano de Abreu —, em artigo publicado na Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, em 30 de janeiro de 1881, indagava se “As Memórias póstumasde Brás Cubasserão um romance?” Afinal, encontramos neste livro o mais improvável dos narradores realistas — um “defunto autor” — e uma narrativa pouco objetiva: capítulo em que sinais de pontuação substituem as palavras; outro, composto somente por reticências; ou mesmo o que encerra uma única frase: a que reconhece a inutilidade do próprio capítulo. Em suma: a narrativa neutra e incolor defendida pelo Realismo, como se Natureza e Cultura fossem sinonímias, é violentada constantemente por Brás Cubas por meio de interpolações, digressões, esquecimentos, palavras subtraídas, silêncios e elipses.
Assim, a narrativa em Memórias póstumas...chama a atenção do leitor para o seu próprio caráter arbitrário: seja porque a realidade é apreendida subjetivamente a partir de certos valores morais e de classe (os de Brás Cubas), seja pela insuficiência da linguagem em plasmar resquícios de sensações e lembranças vividas pelo narrador, o que leva a cesura entre a palavra e aquilo a que ela se refere (a coisa), entre a realidade empírica e o modo como ela é apreendida. Insuficiência esta que também encontramos em Quincas Borba. Nesta obra, o Humanitas(humanidade), espécie de emplastro filosófico defendido por quem, indiretamente,dá título ao romance (na verdade, quem batiza a obra é ocão, que carrega a mesma alcunha do seu dono), urde a sua forma.
Tese de princípio não dialético e não antitético, o Humanitasseria “um princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível”. No caso, o “movimento de conservação” do universo, que é, nas palavras do filósofo, o próprio Homem. Dentro deste princípio, “nada se perde, tudo é ganho”, pois “há nas coisas todas certa substância recôndita e idêntica”. Assim, na dicotomia vida/morte, paz/guerra não há a nulificação do Ser, nem a destruição da ordem, “porque a supressão de uma é condição da sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e comum”. Logo, não há morte, apenas há vida, “daí o caráter conservador e benéfico da guerra”, e da morte; todos os eventos são faces de uma mesma moeda, de um mesmo “movimento de conservação”: o do Homem. Em resumo: “Humanitasprecisa comer”, pois todo “fenômeno” do universo está submetido ao instinto básico e à força motora do “movimento de conservação” da vida.
Ao defender que o único princípio do Humanitasé o do “movimento de conservação”, o da Natureza em seu estado selvagem, desprovido de qualquer moral ou ética, Quincas Borba nunca consegue fazer-se compreender. Entre os que não alcançam as suas ideias, está Rubião, o herdeiro universal de todos os seus bens materiais. E aqui entra a sutilidade da tese. Sendo ele, o filósofo, um louco, percebemos que a sua tesesó poderia ser apreensível por outro louco, assim como o mundo visto e acatado por Dom Quijote só poderia ser penetrado por outro Dom Quijote. Só um louco compreenderia uma verdade que a linguagem apenas margeia, já que a linguagem que calça os métodosde apreensão da Natureza — entre eles, os do Realismo — não é a mesma que os loucos usam para apreender o mundo. Assim, entre, de um lado, a tese do “movimento de conservação” (a coisa em si) e, de outro, a linguagem (representação da coisa em si), firma-se um ruído. A linguagem corrente seria a única possibilidade, aqui, do Homem ordenar, entender e explicar o “princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível” que rege o universo. Na impossibilidade de plasmar esse “princípio único”, a linguagem tenta suprir as suas limitações apelando para as armas que possui: a declinaçãodo “número exato dos fios de que se compõe um lenço de cambraia ou um esfregão de cozinha.” Daí porque a realidade (a coisa em si) ser boa, e o Realismo (o método, a representação da coisa em si) não prestar para nada.
Tendo ao seu dispor apenas a linguagem corrente dos Homens, o real para Rubião não é o que os seus olhos veem, mas o que a sua imaginação projeta, ou como diz o narrador: há nele um abismo “entre o espírito e o coração”. Interiorano de vida simples em Barbacena, transportado para a Corte e vivendo agora como um novo-rico, Rubião acredita tanto na sincera amizade daqueles que agora o cercam (no casal Palha e Sofia, nos frequentadores diários dos almoços e jantares da sua casa, nos princípios políticos de Camacho...), quanto na perenidade dos seus recursos financeiros. Mas este abismo nós também vamos encontrar nos demais personagens. Há, entre eles, um véu que os encobre impedindo que se desvele a essência e a aparência de cada um deles. Dois exemplos: a Sofia que revela ao marido as investidas amorosas de Rubião, é também a mesma que lhe esconde o desejo que nutriu em ter uma aventura amorosa com Carlos Maria; o Palha que demonstra preocupação com os gastos de Rubião, esconde dos amigos a origem da sua fortuna: o dinheiro que Rubião lhe emprestara e que ele nunca saldara. Mesmo nos momentos mais realistas da obra, onde a narrativa busca ser a mais objetiva possível, nem sempre os fatos levam-nos a interpretá-los corretamente, pois o próprio narrador nos induz ao erro. É exemplo aqui o paralogismo que Rubião faz a partir da carta que Sofia endereça a Carlos Maria.
É dentro desse abismo entre a aparência e a essência que a tese do Humanitasvai urdindo formalmenteQuincas Borba(a morte de um é a sobrevivência do outro; a queda deste é a vitória daquele). Não só: ela é também o elo que liga Quincas Borbaa Dom Quijote(“a obra que continua eterna nos exemplares subsistentes e nas edições posteriores”, como diz o filósofo) ao tomarem, ambas, por meio diverso, a ironia, esse modo como a linguagem se refere àprópria linguagem, como forma. O mundo gira e, ao fim e ao cabo, tudo termina por confirmar o “princípio único, universal, eterno, comum, indivisível e indestrutível” do universo. Sendo um personagem quixotesco, Rubião só compreende o princípio do Humanitasquando a razão lhe é subtraída. Só a loucura lhe dá o entendimento do “movimento de conservação” da vida, de poder construir a analogia entre a palavra e as coisas, entre a aparência e a essência dos fenômenos; diverso de Dom Quijote, que só compreende o sentido real das coisas e do mundo quando, no leito de morte, a razão lhe é restituída. Mas se Quijote, em sua loucura, vivencia o “abismo entre o real e o imaginário”, Rubião (e os demais personagens) só o vivencia na lucidez. Dessa maneira, todos os princípios estéticos (Realismo e Naturalismo) ou científicos (Positivismo, Determinismo, Evolucionismo Social) que buscavam estabelecer a analogia ou a naturalização entre a palavra e as coisas terminavam, impreterivelmente, por nulificar um desses elementos. Ao mostrar que as coisas (a realidade empírica) estãosubsumidas à imaginação, e não às palavras, Machado nos revela o quão alienados estamos da realidade que nos cerca, o quanto as aparências das coisas esgarça o nosso olhar e, por decorrência, também a linguagem que deveria apreendê-la e traduzi-la.
Por fim, retomando o início deste artigo e a reedição de Quincas Borba, faremos dois breves comentários. Primeiro, é louvável a iniciativa da Penguin em restituir na íntegra os prólogos que Machado escreveu para a segunda e a terceira edições; em trazer notas de rodapé que situem o leitor em várias passagens do romance; em inserir uma cronologia da vida e da obra do autor que em nada desmerece as melhores que já foram publicadas. Segundo, louve-se o prefácio de John Gledson, um dos grandes machadiano vivos. No entanto, ao reiterar o caráter realista da obra (tese que me parece cada vez mais insustentável), ele termina por subtrair do leitor o que há de mais peculiar em Quincas Borba: a desconfiança com a linguagem, a crítica aos que tentam naturalizar Natureza e Cultura, e, por decorrência, reduzir o humano a fórmulas. Se há um realismo na obra de Machado, é o de quem sempre buscou a representação da realidade. Ou seja: o de quem toma a realidade não para contá-la tal como as coisas sucederam, e, sim, como poderiam suceder; o de quem acredita que só a linguagem fingida — a da ficção —, descompromissada com os próprios limites da linguagem, pode construir uma verdade textual que encerre e alargue a verdade da realidade empírica, pois ao reinventar esta realidade, ela pode recriar, a cada obra, um outro humano: aquele que só os loucos, em seus momentos de delírio, podem ver. Não por acaso, a verdade textual se assemelha aos sonhos e aos surtos de loucuras: elas se fatalizam à duração do tempo da leitura, do sono e dos momentos de delírio. A palavra, em Machado, diverso do uso da palavra nas Escolas Realista e Naturalista, assume o seu caráter arbitrário, e é só desse modo que ela pode revelar a magia do mundo: a do mundo da literatura.