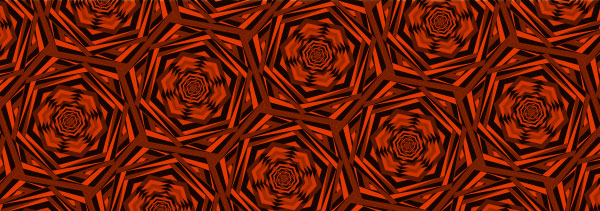
Confira o segundo texto da seção: A história da eternidade nas enciclopédias
Tomo 11, p. 61
Exploração Espacial—É a investigação, por meio de naves espaciais tripuladas e não tripuladas, dos confins do universo para além da atmosfera da Terra, e o uso das informações adquiridas para aumentar o conhecimento do cosmos e beneficiar a humanidade.
O trompete de Melancholy blues aguarda ressoar no espaço, silenciado em uma das faixas de um disco de cobre banhado a ouro. Também a agudeza do Coro Yamaguchi, a última parte da Sagração da primavera e uma canção de casamento peruana. Os sons de um trem, de um cão selvagem, de um beijo, de um navio. Imagens de folhas secas caindo no outono, do raio-x de uma mão, de uma highway em Nova York, do Taj Mahal, de um supermercado, de dunas e de graciosas dançarinas de Bali. O esquema da estrutura do DNA e mais uma porção de fórmulas matemáticas e químicas seminais aguardam, igualmente, sua propagação por outras galáxias. Em código morse, está lá, indelével: “até as estrelas, através da adversidade”. Em 1977, foram lançados no espaço dois discos feitos de placas de cobre e banhados a ouro, onde estão gravadas 122 imagens, 31 sons, e saudações em 55 línguas. Duas naves (as Voyager1 e 2) vagueiam pelo universo munidas dessas cápsulas do tempo, pequenas circunferências enciclopédicas, utópicas e ambiciosas batizadas de Golden Records, que desejam dizer, a sabe-se lá que forma de vida, quem somos nós e o que é a existência na terra. “Este é um presente de um pequeno mundo distante, um símbolo de nossos sons, nossa ciência, nossas imagens, nossa música, nossos pensamentos e nossos sentimentos. Estamos tentando sobreviver ao nosso tempo para que possamos viver no seu”, escreve Jimmy Carter, presidente do Estados Unidos, em carta assinada e datada em 16 de junho de 1977, também gravada nos discos. Talvez alguém os encontre daqui a 40 mil anos, próximos à constelação de Ophiuchus. Talvez não. Se o trompete de Louis Armstrong finalmente ressoará provavelmente não é o mais importante. Mas como definir a vida na terra em um disco de ouro lançado no espaço? Ou em uma coleção de dezenas de tomos de uma enciclopédia? Ou em um romance?
Entre a Rua do Imperador, e seu burburinho típico do centro da cidade, e o último andar da taciturna biblioteca do Gabinete Português de Leitura há uma escada suntuosa. O prédio de 1921 em nada se assemelha a sonda Voyager1, há 37 anos no espaço e cada vez mais longe do sistema solar, mas o salão principal, que toma todo o terceiro andar me fez lembrar uma espécie de espaçonave emocional, capaz de ser tanto espaço de suspensão quanto relicário, como é a Voyager com seu disco dourado que almeja dizer sobre tudo para que possamos sobreviver, nem que seja na memória dos extraterrestres. Estamos sempre fugindo da morte e do esquecimento. Os livros por dentro das estantes de madeira que quase alcançam o teto parecem pequenos tesouros retangulares, capsulas do tempo. É como estar momentaneamente do lado de fora. Me pergunto se livros também morrem.
Em uma mesa na sala de obras de referência, um homem consulta o tomo 4 da edição de 1998 de uma Enciclopédia Barsa. O livro de capa vermelha com inscrições em dourado tem mais de quinhentas páginas, e faz volume entre os dedos do senhor de 58 anos. Abre na página 173, no artigo sobre o Cristianismo. Lê, atento: Entre as numerosas setas messiânicas surgidas no mundo judeu no início do primeiro milênio, incluíam-se os discípulos de Jesus de Nazaré, antigos seguidores de João Batista. A comunidade cristã foi aceita no seio do judaísmo até o ano 65, aproximadamente quando se consumou a inevitável ruptura entre as duas facções religiosas. O artigo é longo, cheio de desdobramentos, possibilidades de flanar. Arnaldo Pereira da Silva é analista de sistemas, e apesar da relação estreita com os computadores, quando resolveu pesquisar sobre a história da religião cristã não confiou nas teclas, sites e hiperlinks. Resolveu ir ao Gabinete vasculhar as estantes com centenas de tomos de enciclopédias. Antes da popularização da internet, a enciclopédia era o primeiro passo de uma pesquisa. “Pra esse assunto que eu pesquiso, sobre a história e os fundamentos do cristianismo, eu tive necessidade de ir à enciclopédia porque preciso de muita firmeza e segurança. Na Wikipédia eu não confio, todo mundo vai lá, atualiza as informações. No livro não, tá lá impresso, ninguém mexe”, avalia seu Arnaldo. O livro único de conhecimento parece manter o mundo nos eixos, dar forma à utopia da vida sob controle, livre do caos da impermanência. Um antídoto. Segundo John Elsner e Roger Cardinal, existe um sofrimento da “patologia da completude a todo custo”.
Tomo 14, p. 281
Utopia, “Um mapa do mundo onde não aparece o país. Utopia não merece ser guardado”. Esta máxima de Oscar Wilde expressa o anseio permanente de criação de sociedade perfeita. Ideal irrealizável em sua plenitude, a utopia se materializa parcialmente, no entanto, graças ao progresso científico e tecnológico.
Em 1750, Denis Diderot escreve em seu Prospectus, apresentando o ambicioso projeto enciclopedista: “o objetivo de uma enciclopédia é o de reunir os conhecimentos esparsos na superfície da terra, expor o seu sistema geral aos homens com que vivemos, a fim de que nossos descendentes, tornando-se instruídos, tornem-se ao mesmo tempo mais virtuosos e felizes”. O termo vem da junção de duas palavras gregas, Enklikiose Paidéia(Enkikliospaideia), que significa algo como conhecimento circulante ou circular. O projeto enciclopédico moderno, nascido do pensamento iluminista, tinha como esteio uma dupla utopia que se entrevê na ideia do círculo: a de concentrar, dentro de uma publicação, todo o conhecimento humano mais atual e a de, através desse conhecimento, transformar os homens e o mundo, alcançando uma harmonia universal do saber. Em 1750 foi editado o primeiro volume por Diderot e Jean Le Rond d’Alambert.
“A história da Enciclopédia revela um nível ímpar de idealismo”, escreve a jornalista e historiadora Joelle Chevé, em artigo para a revista História Viva. Nascida primeiramente da intenção de traduzir para o francês a Cyclopaeadia do inglês Ephraim Chambers, uma espécie de dicionário publicado em 1728 em Londres, o empreendimento foi tomando um desenho próprio, e quis ir além do projeto de Chambers. “Para reforçar o novo texto, optou-se pelo uso de imagens, procedimento pedagógico que seria um dos maiores trunfos da Enciclopédia. Os temas foram apresentados sob a forma de uma árvore inspirada na do filósofo inglês Francis Bacon. A filosofia era o tronco, enquanto a teologia foi destronada e relegada a um ramo, em companhia das ciências ocultas e da magia!”, diz Chevé. “O tom estava dado: a Enciclopédia, dicionário racional das ciências, das artes e dos ofícios era ao mesmo tempo uma obra de informação e um manifesto”. O desejo de inaugurar uma nova era tornava-se explícito, e o ar messiânico tomou grandes proporções. Ser um enciclopedista era ser um revolucionário numa máquina de guerra contra o obscurantismo da religião e a favor do homem que conhece sua origem e seu destino. Em 1759, o parlamento de Paris condenou a obra, e a igreja a acrescentou ao index de livros proibidos. Mas os volumes continuaram sendo comercializados, com vendas alavancadas pela agitação política que engendrara. Apenas em 1772 foi publicado o último tomo. A essa altura, artigos técnicos, por exemplo, já se encontravam ultrapassados.
Na estante do Gabinete Português estão 24 tomos da Encyclopaedia Britannica, divindindo espaço com mais outras dezenas de edições da Mirador, O thesouro da juventude, Barsa, Grolier universal, Llelo universal, Larrouse Delta, além dos mais diversos dicionários que espantam pela especificidade dos temas. Na capa vinho, em um brasão de letras douradas está gravado o ano de 1768, data da primeira edição. No editorial de 1964 encontro escrita a frase “the britannica is never old”. A enciclopédia como libelo contra o tempo, como um totem do saber que nunca envelhece: essa ideia perde-se sufocada no caldo do mesmo tempo contra o qual luta, mas ao olharmos amplamente, independentemente da utopia do controle do conhecimento haver emergido, não pode-se cessar de fazê-lo. “Buscamos sempre uma ordem a partir dos princípios de organização reconhecidos, mas nessa ordem incide sempre o arbitrário, sempre o instável. Mas admitir tais arbitrariedade e instabilidade não impedirá que sigamos classificando e tentando controlar o caos da vida”, reflete Maria Esther Maciel, escritora e doutora em letras pela UFMG. O caos é inevitável, mas a tentativa de controle também é inevitável.
Arnaldo senta e levanta algumas vezes das cadeiras da sala de referência, explorando diferentes tomos. Duas grandes janelas em meia lua mostram o lado de fora do prédio. A placa com o nome de um banco colore o vidro de vermelho da espaçonave pousada no bairro de Santo Antônio. O analista lamenta o fim das impressões, enquanto abre um exemplar com a letra F. Em um mesmo lance de páginas lê-se Fitzgerald, F. Scott, Flagelados, Flamboyant, Flamenco. “É uma pena que a enciclopédia tenha chegado ao ponto de morrer. Imagina perder os livros...”, lamenta.
Tomo 8, p. 156
Internet—A década de 1990 assistiu a uma revolução tecnológica que transformou os modos de comunicação nos níveis profissional e pessoal. O sistema conhecido como internet é formado por um conglomerado de computadores unidos por linhas de comunicações que permitem o intercambio imediato de todo tipo de informação entre pessoas situadas em qualquer parte do mundo.
Em 2012 foi anunciado, aos quatro cantos do mundo, o fim das edições impressas da Enciclopédia Britannica, depois de 244 anos de atividade. “O resultado de todo esse processo, que tem como função alegórica representar a complexa sintaxe do mundo, não poderia ser senão a fragmentação dessa mesma sintaxe, a revelação da vertigem caótica da realidade circundante”, escreve Maria Esther Maciel. A pesquisadora acredita que, hoje, o projeto enciclopédico já abandonou as pretensões de ser o inventário completo de todos os saberes sobre as coisas do mundo para ser um espaço móvel de articulação, combinação e invenção, assumindo um caráter menos totalizante que hipertextual e instaurando uma circulação livre e descentrada dos conhecimentos. Uma rede.
Hoje a Eniclopédia Britannica é acessível apenas através de uma plataforma paga na internet, que permite atualizações a cada 20 minutos. Questionada sobre a atual inviabilidade das enciclopédias impressas anualmente, Patrícia Palma, representante da Britannica no Brasil, afirma que a empresa acredita na reinvenção, mas aposta concomitantemente na demanda por informação confiável. Ou seja, acredita na enciclopédia atualmente como um projeto de curadoria de informações. “O ponto é que na internet aberta você vai fazer uma pesquisa no Googlee encontra uma porção de informações aleatórias. Por exemplo, vou buscar Picasso e acontece de apareceram em quadros de Monet, busco o rio Amazonas e tenho fotos do São Francisco. A popularização da internet não inviabiliza o conteúdo curado porque é a garantia de um conteúdo de qualidade”, defende.
Na contracorrente está a enciclopédia Barsa, que completa 50 anos de existência e mantem-se em contínua atividade, ampliando sua atuação com DVDs, aplicativos, plataforma online, mas sem abandonar os volumes impressos. O projeto Barsafoi idelalizado por Dorita Barrett, herdeira da Britannica, que refutou a ideia de promover apenas uma tradução, para o português, do original. Em vez disso organizou um grupo expressivo de intelectuais brasileiros, como Antonio Callado, Oscar Niemeyer, Jorge Amado e Antonio Callado. A primeira edição esgotou-se em oito meses. “Para nós, no dia em que o mercado não quiser os volumes, estaremos consolidados no eletrônico. Ou na rede. É o que a Britannica fez, uma estratégia de negócio totalmente pensada. Não foi um modelo de negócio que resolveram da noite para o dia”, avalia Sandra Cabral, diretora de marketing da Barsa.
Arthur Grupillo, doutor em filosofia e professor da UFSE, vê o próprio ser humano como uma tentativa de dar ordem ao caos, mas enxerga o desejo obsessivo, de reunir “num único livro” a totalidade do conhecimento essencial do mundo como um projeto do homem moderno, e que as tecnologias e os bancos de dados intermináveis reunidos na internet são uma alegoria ainda mais perfeita da Biblioteca de Babel de Borges. “O homem moderno, sim, é que tem ambição de sistema, de catalogação, de organização da informação para o conhecimento completo da natureza, da vida e da história. O enciplopedismo é um iniciativa do século 18, no iluminismo. Alguns sistemas filosóficos, como o de Hegel, foram também ambiciosos a este ponto de ser uma teoria de tudo. E as tecnologias da informação tentam fazer algo parecido. Mas o resultado é, novamente, o oposto do que se pretendia. Com tantos bancos de dados, temos hoje muito mais caos de informação do que antes”, acredita.
Assim como o disco de ouro da Voyager, compilado por cientistas e políticos norte-americanos, brancos, de classe média que fizeram com que o mundo fosse apresentado ao resto do universo como uma totalidade que já de saída descamba para a incompletude, para a parcialidade, o projeto enciclopedista, na sua essência, cria e propaga a ilusão de uma comunidade humana uníssona, que controla a natureza através da cultura. Mas segundo Olga Pombo, professora e coordenadora do Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa, a enciclopédia é um projeto aberto, labiríntico e paradoxalmente cartográfico. “Há na enciclopédia um virtuoso efeito de modéstia”, afirma. Por partir de um projeto tão totalizante, a enciclopédia “dá-nos a ver quão pouco sabemos do mundo que nos rodeia e faz pressentir o não saber”.
Para realmente alcançar seus objetivos, um projeto enciclopédico, segundo Umberto Eco, teria que ser um projeto de natureza desordenada e de formato incontrolável, e “praticamente deveria fazer parte do conteúdo enciclopédico de cãotudo o que sabemos e poderemos saber sobre os cães, até a particularidade por que minha irmã possui uma cadela chamada Best — em suma, um saber incontrolável até para Funes, o Memorioso”, escreve.
Provavelmente inquietado pelas mesmas questões que Eco, Borges, não sem ironia, pensa uma enciclopédia com outros critérios taxinômicos. Revira o universo ao citar “uma certa enciclopédia chinesa”, que inclusive inspira Foucault a escrever As palavras e as coisas. Na citada enciclopédia, os animais se dividem em: “a) pertencentes ao imperador, b) embalsamados, c) domesticados, d) leitões, e) sereias, f) fabulosos, g) cães em liberdade, h) incluídos na presente classificação, i) que se agitam como loucos, j) inumeráveis, k) desenhados com um pincel muito fino de pêlo de camelo, l) et cetera, m) que acabam de quebrar a bilha, n) que de longe parecem moscas”. Foucault então pergunta: “onde poderiam eles jamais se encontrar, a não ser na voz imaterial que pronuncia sua enumeração, a não ser na página que a transcreve? Onde poderiam eles se justapor, senão no não lugar da linguagem?”

Tomo 13, p.494
Taxonomia— É o ramo da biologia que se ocupa da identificação, nomenclatura e classificação dos seres vivos e extintos. A partir de uma série variada de organismos, o taxonomista cria uma hierarquia de agrupamentos, ou taxa, entre os quais se estabelece uma relação de ordem.
Iza Correia, Almerina da Silva, Maria Limeira Forte, Dalmira Biana, Lucia Dias, Josefina Botelho, Maria Manuca, Luarinda Bernardo, Alice do Santos, Marlene Leone. Na face interna do manto de apresentação de Arthur Bispo do Rosário, há centenas de nomes de mulher bordados em linha azul. Sapatos, garrafas, botões, pentes, canecas, garfos, colheres, carretéis, funis, tecidos formam, como listas físicas, um inventário de um mundo para ser apresentado a Deus no dia do juízo final, com “todo o material existente na terra dos homens”. Bispo, que era esquizofrênico paranoico, precisa organizar tudo, e para isso trabalha incansavelmente em sua obra, de um impacto visual retumbante. A tarefa de Bispo é semelhante ao projeto enciclopédico, assim como parte das obras de Mallarmé, Georges Perec, Dante, Ítalo Calvino, Milorard Pávitch, Sta Hidegarda de Bigan, Plínio o velho, Borges, Peter Greenaway.
Maria Esther Maciel pesquisa o que chama de “poéticas do inventário”, onde a pulsão enciclopedista beira o jogo. Inventariar, catalogar, enumerar, são atividades vistas criticamente por estes artistas, que se utilizam disso para repensar o humano e ironizar a pretensão de abarcar o mundo. “Saber todas as coisas não passa de uma presunção humana, já que segundo Borges ‘não sabemos o que é o universo’, e ‘não há universo no sentido orgânico, unificador, que tem essa ambiciosa palavra’. Qualquer tentativa de representar essa múltipla complexidade está fadada ao fracasso”, reflete a pesquisadora. São ancorados no fracasso que estes artistas e intelectuais constroem suas reflexões e suas obras, tentando criar “novos mundos e novos sistemas ou antissistemas de classificação”. “Além de Perec, que levou as classificações às últimas consequências, eu mencionaria Bouvarde Pécuchet, de Flaubert, O homem sem qualidades, de Robert Musil, Ulissese Finnegans Wake, de James Joyce, dentre outros”, enumera.
“ESCADARIAS, 1. Certo, a história poderia começar assim, aqui, desta forma, de maneira um tanto lerda e lenta, neste reduto neutro que é de todos e é de ninguém, onde as pessoas se cruzam quase sem se ver, onde a vida do prédio repercute, distante e regular. Do que se passa por trás das pesadas portas dos apartamentos só se percebem no mais das vezes os ecos perdidos, os fragmentos, os esboços, os contornos, os incidentes ou acidentes que se desenrolam nas chamadas “partes comuns”, esses leves ruídos de feltro que os gastos tapetes de lã vermelha abafam, esses embriões de vida comunitária que vão sempre se deter nos patamares. Os habitantes de um mesmo prédio vivem a apenas alguns centímetros uns dos outros, uma simples divisória os separa, partilham os mesmos espaços que se repetem ao longo dos andares; fazem os mesmos gestos ao mesmo tempo, abrir a torneira, dar a descarga, acender a luz, pôr a mesa, algumas dezenas de existências simultâneas que se repetem de andar em andar, de prédio em prédio e de rua em rua”.
Nesse trecho de A vida, modo de usar, do escritor judeu polonês Georges Perec, as particularidades de um condomínio em Paris, situado no endereço fictício da rua Simon-Crubellier, uma parte do edifício começa a ser descrita. Essa descrição vai beirar, durante o romance, à exaustão. Cada capítulo (são 99) é dedicado a descrever um apartamento, hall e escadarias, assim como a vida dos moradores atuais e antigos. Os objetos sobrepõem-se aos homens até que a existência humana pareça ter menos força de permanência que as coisas criadas por ela. Anexada ao livro, uma planta do prédio, uma verdadeira babel.
Tomo 2, p. 266
Torre de Babel—Segundo o antigo testamento, para celebrizar seus nomes, os descendentes de Noé decidiram construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. A fim de castigá-los pela soberba, o Senhor confundiu-lhes os idiomas e dispersou-os sobre a face da terra.
Numa chácara na rua Gaona, na cidade de Ramos Mejía, Bioy Casares janta com Borges. Os escritores conversam a respeito de Uqbar, um país entre Iraque e Ásia Menor, mencionado na The Anglo-American Cyclopaedia, publicada em 1917 como cópia literal da Enciclopédia Britannica de 1902. Os escritores reviram os tomos e índices mas não conseguem encontrar o verbete. Mais tarde, uma outra enciclopédia, conta a história total de Tlön, um planeta imaginário, “com suas arquiteturas e seus naipes, com o pavor de suas mitologias e o rumor de suas línguas, com seus imperadores e seus mares, com seus minerais e seus pássaros e seus peixes, com sua álgebra e seu fogo, com sua controvérsia teológica e metafísica”. O discurso completo sobre um mundo que pode ou não existir está feito no conto Tlön, uqbar, orbis tertius, publicado em Ficções.
Em 1928 Jorge Luís Borges publica O idioma dos argentinos, e vence o Segundo Prêmio Municipal de Ensaio. Investe todo o prêmio na compra da 11ª Edição da Enciclopédia Britannica. Torna-se obcecado pela edição. Chega a escrever em um dos seus poemas, depois que a cegueira o toma:
“En Atenas me fue dado este sueño. Frente a mí
en um largo anaquel, había una fila de volúmenes.
ran los de la Enciclopédia Británica, uno de mis
paraísos perdidos”
“Parece que Borges vê nas enciclopédias nem tanto a utopia ilustrada da reunião total do conhecimento, mas o fragmento em si, a possibilidade de que cada fragmento dos infinitos que compõem uma enciclopédia seja em si mesmo muitos fragmentos em desdobramento contínuo. As enciclopédias para Borges sempre foram um bom motivo para praticar o humor e a ironia, para tergiversar, para ler de outro modo, nunca são textos meramente informativos ou formativos, mas de fato uma espécie de ficção, que pode ser lida como ficções. Nesse sentido, a enciclopédia é, mais do que um inventário poético, um modelo de como ler, um local privilegiado para pensar toda uma teoria da leitura”, reflete Alfredo Cordiviola, especialista na obra de Borges e professor de Teoria da Literatura da UFPE.

Borges faz mergulhos constantes na problemática das catalogações, das enciclopédias, das bibliotecas, das taxonomias. O escritor retorna sempre às classificações e aos inventários como parte de uma poética, mas também como parte de uma investigação filosófica. “A lógica que guia a distribuição dos conteúdos e os critérios de ordenamento são questões caras ao argentino, que parece se divertir com as bibliotecas e os livros como labirintos feitos para que as pessoas e os leitores se percam”, comenta Cordiviola.
A enciclopédia, para o pesquisador, é a metáfora do Aleph, que coloca o universo em um espaço limitado. “A enciclopédia também é um objeto mínimo que aspira a conter tudo”, diz. O Alephseria a realização de uma utopia.
“Cada coisa (o cristal do espelho, digamos) era infinitas coisas, porque eu a via claramente de todos os pontos do universo. Vi o populoso mar, vi a aurora e a tarde, vi as multidões da América, vi uma prateada teia de aranha no centro de uma negra pirâmide, vi um labirinto roto (era Londres), vi intermináveis olhos próximos perscrutando-me como num espelho, vi todos os espelhos do planeta e nenhum me refletiu”, escreve Borges no conto citado, em um tortuoso parágrafo no qual descreve tudo o que vê ao deparar-se com o lugar onde todos os lugares, de todos os ângulos, podem ser vistos. Termina o parágrafo dizendo: “vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto e senti vertigem e chorei, porque meus olhos haviam visto esse objeto secreto e conjetural cujo nome usurpam os homens, mas que nenhum homem olhou: o inconcebível universo”. Ainda neste conto, Borges lamenta a impossibilidade da sua linguagem, que é sucessiva, dar conta da realidade do Aleph, que é simultânea e total. Daí que a existência do Aleph é possível desde que não passe pela linguagem. Dizer não dá conta do mundo. “É isso que Foucault vai pegar no famoso prefácio de As palavras e as coisas: a enciclopédia não como harmonia universal, mas como absoluto caos, como evidência da impossibilidade de catalogar o real”, afirma Cordiviola.
Em A Biblioteca de Babel, Borges mexe com a contradição que é o desejo de autotransparência completa do conhecimento humano. Uma biblioteca que contivesse todos os livros possíveis, conteria a teoria verdadeira do mundo e também a refutação desta mesma teoria. Sem contar com o problema lógico de saber se ela poderia conter o “catálogo dos catálogos”, que certamente não poderia conter a si mesmo. Esses paradoxos servem para ridicularizar esse desejo de completude na organização do saber, é um desejo vão, isto é, uma “vaidade”, naturalmente, assim com a torre, destinada ao fracasso. “O universo (a que outros chamam a Biblioteca) compõe-se de um número indefinido, e talvez infinito, de galerias hexagonais, com vastos poços de ventilação no meio, cercados por parapeitos baixíssimos.”, escreve Borges no conto citado. “Eu afirmo que a Biblioteca é interminável”.
O ar-condicionado da sala de referência finalmente esfria o dia quente do Recife, mas Seu Arnaldo fecha as enciclopédias, coloca-as de volta nas estantes, em ordem. Sai com as suas anotações, mas a biblioteca ainda não lhe disse tudo o quer saber sobre o pedaço de mundo que elegeu. “Estou pesquisando há meses, já fui em várias bibliotecas. Algumas não deixam nem a gente tocar nas coleções”, conta, enquanto deixa o prédio do Gabinete Português de Leitura, descendo a escadaria e mergulhando novamente nas buzinas e vozes misturadas das gentes da rua do Imperador.
Tomo 12, p. 321
Retrato— O desejo de perpetuar a existência transitória do indivíduo no que este tem de patente – a expressão fisionômica – acha-se na base da pintura e da escultura de retratos. Nas sociedades burguesas, a partir do século 19, os pintores encontraram no retrato uma fonte de renda nada desprezível.
Em 2013 cientistas anunciaram que a Voyager encontra-se finalmente fora do Sistema Solar, a cerca de 19 milhões de quilômetros da terra. Agora, com seus sinais captados por uma rede de radiotelescópios que vai do Havaí à ilha caribenha de Saint Croix, é apenas um minúsculo ponto azul no infinito com um mundo desenhado por dentro.
Ricardo Piglia, no prefácio de O último leitor, conta a história de um fotógrafo que mantém uma miniatura delirantemente perfeita da cidade de Buenos Aires em um quarto de seu apartamento. Cogita-se que, na verdade, a miniatura guie a cidade de grandes proporções, que a representação seja o motor do real. Pois os homens escrevem os livros ou estes, em alguma medida, escrevem os homens?
“Um homem se propõe a tarefa de desenhar o mundo. Ao longo dos anos, povoa um espaço com imagens de províncias, de reinos, de montanhas, de baías, de naus, de ilhas, de peixes, de moradas, de instrumentos, de astros, de cavalos e de pessoas. Pouco antes de morrer, descobre que esse paciente labirinto de linhas traça a imagem de seu próprio rosto”, responde Borges.
Confira o segundo texto da seção: A história da eternidade nas enciclopédias