
O destino do poeta Manoel de Barros, sina que ele mesmo ajuda a tramar e da qual tira bom proveito, é ser confundido com seus versos. Lemos os poemas de Manoel e, pouco a pouco, nos convencemos de que ele é um homem que não é. Mas, tomado pelo que não é, ele pode, enfim, realizar o sonho que constitui a poesia: ser apenas verbo. “Não saio de dentro de mim nem para pescar”, ele escreveu no Livro sobre nada. No mesmo livro, porém, também está escrito: “Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira.” A qual dos dois poetas seguir? Ao Manoel que jamais sai de si, sempre concentrado no que é, ou àquele que, além de estar ausente, desmanchando o mundo na borra das palavras, escreve sobre coisa alguma? A melhor solução, no caso de Manoel de Barros, é não excluir nenhum dos dois. Melhor solução, mas também a mais difícil, como costuma sempre ser.
A pressa e a aflição em fixar classificações levaram Manoel de Barros a ser tratado, em geral, como “o poeta do pantanal”. Logo o imaginamos, em consequência, com os pés afundados no charco, caminhando entre bois sonolentos numa paisagem úmida, um chapéu de couro e um cigarro de palha deslizando à frente do horizonte. Manoel vive em Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul e do pantanal mato-grossense. Herdou uma fazenda na região do pantanal e é de sua exploração que, hoje, sobrevive, e não dos versos. Se falamos com Manoel por telefone, encontramos um homem avaro nas palavras, retraído, quase paralisado pelo pudor; e se o provocamos com o convite para uma entrevista, ele se esquiva com delicadezas assim: “Não vale a pena, você vai voltar de mãos vazias.” É o nada, ele adverte, que iremos encontrar. É difícil não concluir que se trata de um homem arredio, que prefere ficar escondido no pântano a se expor às grandes luzes; e que, se escreve poesia, é só para externar essa inapetência para o mundo dos homens, pois parece se sentir muito melhor entre as coisas imóveis e os bichos tristes que entre os seres falantes.
Quando lhe pedi pela primeira vez uma entrevista, Manoel tentou me desencorajar. “Você erra em esperar coisas de mim. Sou só um bugre perturbado”, ele me assegurou, e parecia estar sendo mesmo sincero. As palavras lhe pesavam, sua voz era um fio a se perder naquele interurbano, e eu imaginei um homem magro, de calças arregaçadas, pés atolados na terra, preso à linha de um telefone que ele arrastava, como um bicho sujo, até o quintal. Eu o vi agachado entre passarinhos, os pés metidos em chinelos de couro, o chapéu torto recortando a testa, a mastigar um toco de raiz, uma folha verde e amarga, ou a chupar jabuticabas, enquanto falava cheio de medo. Um homem em sua varanda, entre trepadeiras, moringas e espreguiçadeiras antigas, ou no fundo de um quintal, entre galinhas, cachorros alvoroçados e um cheiro de feijão a escorrer de dentro da casa.
Eu queria uma entrevista, e Manoel, com delicadeza, me negava. Ouvindo-o, eu consolidei a imagem de um homem arisco, desgarrado do mundo, que lutava contra o sucesso de sua poesia e não sabia o que fazer com ele. “Não tenho nada a dizer”, Manoel argumentou. “Se você vier, vai se decepcionar comigo. É melhor que não venha e não se decepcione.” Eu ainda argumentei que isso não me importava, que estamos sempre nos desiludindo com as coisas, e que é nesse desapontamento, que na verdade é mais um susto, que a força da arte está guardada. Manoel, paciente, respondeu que admirava minhas razões, mas que simplesmente não tinha o que dizer, e que também não queria aparecer. “Não sou dado a essas coisas de imagem”, disse, levando-me a convencê-lo de que iria sozinho, não levaria um fotógrafo, mas nem isso o acalmou. Usei argumentos mais fortes, quis insistir ainda uma vez, mas sentia que Manoel estava recolhido a um mundo delicado, construído por objetos perecíveis, um panorama quebradiço e sensível, e tive medo de feri-lo.
Na verdade, eu já estava atolado nas palavras e, esbarrando no que é mesmo impossível, não conseguia separar o poeta das coisas que ele escrevera. Eu tinha terminado de ler o Livro de pré-coisas, onde encontrei ditos assim: “As coisas que acontecem aqui acontecem paradas. Acontecem porque não foram movidas. Ou então, melhor dizendo: desacontecem.” E foi a partir de frases como essa que, antes de conhecê-lo, eu construí meu retrato pessoal de Manoel de Barros, a figura de um tímido a fazer versos inocentes construídos só de coisas, que na verdade me era muito vantajosa, pois não me colocava em questão. A voz hesitante do poeta vinha confirmar esses pensamentos odiosos. Eu não devia mesmo ir: se fosse, corria o risco de desorganizar aquele mundo tão imóvel, e causaria grande estrago por pouco, já que não traria de volta grande coisa. E, com o peito estufado de ideias, pensei que talvez até tivesse exagerado em meu fascínio pela poesia de Manoel de Barros, que havia muitos anos me dedicava a ler. Talvez, ainda me consolei, eu devesse primeiro reler seus livros, e então veria o que não desejava ver: que eram apenas exercícios sem malícia, jogos de um espírito casto, brincadeiras — e eu emprestava um sentido simplório a essa palavra.
Logo à entrada do Livro de pré-coisas, num tom que é quase de ameaça, está dito também: “Este não é um livro sobre o Pantanal. Seria antes uma anunciação. Enunciados como que constativos. Manchas. Nódoas de imagens. Festejos de linguagem.” Eu devia ter prestado atenção. Se pudesse ler o que não consegui ler, veria que, naquela poesia torta, as coisas não se simplificam, mas, ao contrário, se complicam. Na página 31 do Livro de pré-coisas está escrito: “No pantanal ninguém pode passar régua. Sobremuito quando chove. A régua é existidura de limite. E o pantanal não tem limites.” O pantanal, pensei com minha pressa de jornalista, é Manoel — os limites borrados transformam homem e paisagem em uma só entidade. É Manoel quem não tem limites, e, em consequência, seu retrato não pode ser traçado. Mas eu, o repórter teimoso, insistia em querer penetrar naquele mundo inacessível, que ficaria bem melhor se o deixassem quieto. Se olhasse com mais atenção, perceberia que tudo estava, afinal, em seu lugar. Se fosse um homem decente, desligaria o telefone.
Eu estava errado, e só muito depois pude compreender a origem desse erro. Naquele jogo, o ingênuo era eu, e não Manoel. Ansioso para formar uma imagem daquele poeta cujos versos me enfeitiçavam, construí, acreditando na poesia, o “meu” Manoel de Barros. Meu engano, podia agora me dar conta, começara ao ler o Livro de pré-coisas, em que Manoel traça o retrato de Bernardo, um homem-coisa, mistura de ser humano e espantalho, que há muito se recusa a falar. Em sua cabeça, os pássaros e as galinhas se aninham; filhotes de porcos, cachorros, bezerros saltam para seu colo. Mesmo mudo, ou talvez por isso mesmo, Bernardo tem o dom de reger a natureza. Manoel descreve: “Era um ente irresolvido entre vergôntea e lagarto. Todos que externam desterro sentavam nele. Sua voz era curva pela forma escura da boca.” O pântano estava em suas mãos.
O fascínio do poeta por Bernardo me levou a pensar que ele via naquele homem um rascunho de si mesmo. E eu, açodado na busca de uma imagem que me consolasse, apressei-me em tomar Bernardo por Manoel, o que só me permite pensar no número de tolices que cometemos em nome da poesia. Dissolvidas uma na outra, as duas imagens (uma arrancada do texto, outra de minha imaginação) se fundiram. Surgiu entre elas um terceiro: o “meu” Manoel, personagem que vinha sintetizado naquela voz, prestes a quebrar, que me respondia pelo telefone. O jornalismo é uma espécie de alçapão, que traga a realidade e a digere; é uma máquina de enganos. Não era a hora, porém, de ter uma crise de consciência; ao contrário, era com a crise que eu devia trabalhar.
Resolvi, por isso mesmo, que não desistiria. Em telefonemas seguidos, negociei com Manoel de Barros um encontro, que ele sempre tratava de adiar. “Você está perdendo tempo comigo”, insistia. “Procure uma pessoa que tenha coisas a dizer.” Por fim, só porque fui desagradável e insistente, ele aceitou responder por escrito a algumas perguntas, contanto que eu as enviasse por carta e ele pudesse desprezar as que não o interessassem. Vendo que essa era a opção que me restava, concordei. Apressei- me em redigir minhas perguntas e as despachei pelo correio numa tarde de janeiro de 1996. Depois, bastante desanimado, pensei: “São perguntas que ficarão para sempre aguardando uma resposta.” Como os animais tristes que se espalham, lentos, pela paisagem do pantanal, indo e vindo entre as cheias, simplesmente esperando. “Vou responder devagar e do meu jeito”, ele me disse, e eu tentava me apegar a essas palavras de consolo, mas sabia que elas eram só uma recusa branda. Talvez nem viesse a ler minhas perguntas, que ficariam guardadas em algum fundo de gaveta, esperando que um dia alguém, sem nem mesmo lê-las, as jogasse fora.
***
Quase dois meses depois, encontrei em meu maço de correspondência um pequeno envelope, endereçado em letra miúda, talvez infantil. Olhei o remetente: era ele. “Deve estar se desculpando”, pensei, e mesmo assim me sentia feliz. Eu estava enganado. Em folhas amarfanhadas, do tipo papel ofício, Manoel respondia pacientemente, datilografando com esmero de estudante, cada uma de minhas perguntas. Respostas contidas, mas sinceras, que reafirmaram a imagem de um homem tímido, para quem as palavras têm um perigoso poder de erosão. Elas me renderam, ainda assim, uma entrevista, publicada depois em O Estado de S. Paulo. E, a começar pelas folhas castiças em que vieram escritas, confirmavam a figura de homem puro e arredio, dado a poucas manifestações de expansão. Havia ainda um bilhete anexo, rabiscado à margem: “Aí está o que pude fazer. Peço desculpas pela demora.” Manoel corrigiu os erros com esferográfica, numerou metodicamente as questões e, como um aluno aplicado, grampeou as páginas. Depois, com perícia de agrimensor, dobrou as folhas até elas caberem no pequeno envelope.
As respostas traziam, porém, ideias bastante tensas, e minha imagem do poeta primitivo, debruçado entre aves e galinhas, acocorado à beira de um quintal, começou a tremer. Diante de uma primeira pergunta burocrática que tratava das relações entre sua poesia e o regionalismo, Manoel abriu sua resposta assim: “Há sempre um lastro de ancestralidades que nos situam no espaço. Mas não importa muito onde o artista tenha nascido. O que marca um estilo literário é a maneira de mexer com as palavras. Poesia é um fenômeno de linguagem.” Talvez estivesse citando algum autor refinado que acabasse de ler, pensei, ainda resistindo. E, invertendo o susto, me convenci de que Manoel devia ser um homem mais tímido ainda do que pensei, pois precisava se esconder atrás das palavras dos outros, citar autores, para falar. Mais adiante, porém, o susto se confirmou. “De minha parte, confesso que fujo do regionalismo que não dê em arte, que só quer fazer registro”, ele escreveu. “Não gosto de descrever lugares, bichos, coisas da natureza. Gosto de inventar. Quem descreve não é dono do assunto; quem inventa é.” À frente um pouco, Manoel filosofava ainda: “Exploro os mistérios irracionais dentro de uma toca que chamo lugar de ser inútil.” E dizia também: “Tenho medo que a ciência acabe com os cavalos, com a luz natural, com as fontes do ser.” Eu começava a vê-lo como um Rousseau, que tivesse trocado as florestas de Montmorency pelo pântano mato-grossense; a imagem do jeca pantaneiro, desconfiado e temente às palavras, começava a se desfazer.
Essas confissões me levavam, enfim, a suspeitar de que eu tinha inventado, por comodismo, por inércia, por apego aos clichês que estão sempre rondando a escrita, um Manoel errado. A carta me apontava a fonte de sua poesia: o mundo das inutilidades, das coisas sem préstimo, da linguagem errante — e não o mundo prático e enlameado do pantanal. Essa era a verdade: eu me sentia traído, porque, em meio ao pântano das palavras, não encontrava o retrato que tinha concebido; em seu lugar aparecia outro, que me enchia de susto. Mas, e se aquele filósofo da linguagem que respondia minhas perguntas também fosse só um personagem? Se ali também, naquelas linhas, a poesia, e não a verdade, desse as cartas? Quem, afinal, falsificava quem? E, mais uma vez, eu começava a afundar no pântano das palavras.
Em busca de um chão, tratei de voltar à carta, mas, para meu desespero, ela me trouxe ainda mais incertezas. Perguntei-lhe qual era o papel da ignorância na atividade poética. Ele, para derrubar minha imagem de vacas silenciosas e campos alagados, disse: “Gosto de ver o que não aparece. Um que não era o adivinho de Tebas, o Tirésias, um que era apenas o Pote-Cru, andejo de beira de rios, eirado em grotas de preá, me disse um dia: Eu tenho vaticínios de lugares.” Pote-Cru se parecia com os adivinhos, os videntes, os bruxos, os urgos, os demiurgos, os curandeiros, os magos, gente que “usa muito a ignorância para nos conhecer”, o poeta acrescentava. Ali estava não só um homem que sabia pensar, mas que também conhecia os artifícios do pensamento. Um homem preocupado com o futuro, intrigado com a perpetuação da natureza, que me dizia: “Tenho medo que a ciência acabe com os cavalos, com a luz natural, com as fontes do ser.” Medo de que o idioma não sirva mais para celebrar, que se torne apenas um instrumento pragmático, cheio de objetivos e sem nenhum espírito. E de que, assim, o ser não possa mais comungar com as coisas. “A imaginação não vai mais desabrochar, porque os nossos desejos e fantasias serão realizados”, Manoel me dizia, e era como se pudesse olhar para a frente e ver algo muito claro, mas que me escapava. Meu Manoel tinha desaparecido atrás daquela fala, e um outro sujeito, um Manoel muito diferente do meu, ocupava seu lugar. E, ainda sem entender muito bem, eu tive que me conformar. O meu Manoel não existia, só me restando retornar ao ponto de partida.
***
Mais de um ano depois, só porque eu não parei de insistir, Manoel de Barros aceitou me receber pessoalmente. Teimou que nada tinha a dizer além dos versos, que ia me decepcionar, mas disse que, se eu queria mesmo ir, que fosse. Em um voo da rota São Paulo - Campo Grande, cheio de dúvidas, passei a meditar sobre o homem que me esperava. Tentava, ainda sem saber em que referências me fixar, compor um retrato mais nítido do poeta. Uma tempestade fez o avião se agitar como um peixe erguido da água. Parecia ser um sinal: a poesia de Manoel me deixava assim, vendo presságios por todos os lados. Tratei de me distrair do medo me entregando à Gramática expositiva do chão, livro que reúne toda a obra de Manoel de Barros, desde os Poemas concebidos sem pecado, de 1937, até O guardador de águas. Mais uma vez, porém, os versos vinham mais para perturbar que para esclarecer. Uns versos assim: “Depende a criatura para ter grandeza de sua/ infinita deserção./ A gente é cria de frases./ Escrever é cheio de casca e de pérolas.” Ou assim: “Sou mais a palavra com febre, decaída, fodida,/ na sarjeta./ Sou mais a palavra ao ponto de entulho.” A sujeira que envolve os poemas de Manoel não é obra da natureza; é, sim, o resultado de uma longa e difícil depuração.
A aterrissagem em Campo Grande, depois de longa espera pelo que o piloto denominou “uma brecha”, foi dramática — o aparelho, ciscando o asfalto, por pouco não rompeu a cabeceira da pista. Nessa chegada tumultuosa, todos os meus temores pareciam se confirmar: eu pisava, finalmente, um território primitivo, de natureza revolta e homens calados, avesso a tudo o que viesse da cidade grande. Ainda me consolava: talvez agora sim eu viesse a encontrar o meu Manoel verdadeiro. Cheguei a pensar se aquelas respostas de um ano antes não foram ditadas por alguém, um assessor editorial, um filho universitário, um copidesque. A que ponto chegava o meu medo! O aparelho agora se movia rumo ao terminal de desembarque, mas eu ainda suava frio.
Nesse ponto, era a minha própria imagem, e não a de Manoel, que vacilava. “Manoel me achará ridículo com minhas teses de geladeira e minhas anotações de estudante”, pensei. Levava seus livros rabiscados a caneta, com destaques, comentários rápidos, esboços de perguntas. Levava também um caderno de capa grossa e minha lista lamentável de inquisidor. Tentarei me agachar no quintal ao seu lado; cairei de quatro na lama e voltarei com as calças borradas. Tentarei acompanhá-lo em seu silêncio meditativo; mas afundarei no grotesco, serei ridículo como esses repórteres simpáticos que habitam a tela da televisão. Tentarei agradá-lo com insinuações a respeito de meu amor pela vida natural, pelo pântano e pela ecologia; ele entenderá que trapaceio, que não sou de confiança, e me odiará. E se fechará em seu silêncio de pedra e não poderei fazer entrevista alguma, e, como ele mesmo predisse, voltarei com as mãos vazias. Manoel, o sábio, me colocará em meu lugar: o de repórter curioso, disposto a fixar uma imagem, a domesticar seu entrevistado, quando ele, previdente, se esquiva e me escapa. Será um homem medroso e quieto que irá me receber, e eu estarei me apoderando de sua vida pacata e, com minhas perguntas, estarei destruindo o desenho cristalino de seus versos. Eu, o invasor — que figura patética e digna de desprezo. E o poeta que tanto prezo, que tanto me perturba, que vim lendo vorazmente em minha poltrona de avião, só sentirá repugnância.
Atravessei a cidade. A primeira impressão foi um desapontamento, mas devia ser o cansaço. De meu quarto de hotel, telefonei para avisar que já estava em Campo Grande. O próprio Manoel atendeu e se mostrou surpreso que eu tivesse mesmo ido. “Então você viajou tanto só para conversar comigo?”, perguntou, sem acreditar. Minha chegada parecia criar um fato implacável. Ele não acreditava que eu fosse, e, por isso, a entrevista não lhe dava medo; tinha se acostumado à ideia da devassa porque acreditava que eu desistiria antes de ir. Mas eu tinha ido, e a entrevista que não o incomodava passava a incomodar. Eu, o repórter, existia mesmo — não era só um efeito marginal de seus versos, um eco do poema sobre o mundo. Também os poetas, não só os jornalistas, têm a ilusão de poder dominar o mundo com suas palavras, e Manoel de Barros não seria uma exceção a essa regra. Jornalistas ou poetas, quando falamos, todos mentimos, pois as palavras não passam de um instrumento imperfeito — mas é na imperfeição, também, que guardam sua beleza.

Marcamos nosso encontro para as dez horas da manhã seguinte. No café da manhã, limito-me a algumas fatias de mamão, um suco de maracujá, umas laranjas. Quero ter o espírito leve para me defrontar com o poeta. Para ser digno dele. Quero estar sincronizado com seu mundo de delicadezas. Quero ser sutil, o mais sutil que puder, para controlar meu arsenal de perguntas e não massacrá-lo. Esforço-me para estar à altura de Manoel, mas devo ser sincero: imagino-me ainda rastejando no pântano, às escuras, em busca de um retrato; mas ao fim só me restará o silêncio, pois o poeta deixará minhas perguntas sem resposta. Sim: a entrevista será um fracasso. Eu farei longas perguntas que ele responderá com monossílabos, ou com grandes vazios. Talvez esteja velho demais, eu penso, e lhe falte paciência. E sou ainda mais cruel: talvez esteja envolvido demais com suas galinhas, suas jabuticabas e seus potes de doces caseiros e não possa perceber a importância do que acontece. Serei então um repórter ríspido diante de um poeta distraído. Mesmo sem desejar isso, ocuparei o posto do torturador. E, quando voltar ao hotel, só terei comigo um grande remorso.
Quando o táxi me deixa à frente de sua casa, na Rua Piratininga, porém, sou tomado pelo primeiro espanto. Por um breve instante, tenho certeza que errei. Apresso-me a conferir o endereço: ele está correto. Combina com o que está anotado, mas não com o que eu esperava encontrar. Sou obrigado a admitir que é ali mesmo. O muro é alto, impecável em seu cimento lustroso, impessoal, e há uma porta bem trancada, discreta, com um moderno interfone. Eu, que esperava uma varanda ladrilhada dando para a rua, uns cachorros latindo, o piado de pássaros em gaiolas de bambu, um cheiro de bolo vindo da cozinha, topo com uma muralha que brilha a cera, uma calçada recém-varrida e uma fechadura de segurança. Volto a abrir a agenda para confirmar o número da casa. É esse mesmo: só me resta admitir que essa é a casa de Manoel de Barros.
Ainda desconfiado, toco a campainha. Manoel, ele mesmo, vem me atender. É baixinho, sim, mas gorducho, com o ar bonachão, e uma certa sofisticação contida, uma nobreza que me desarma. Eu esperava um homem encurvado com calças arregaçadas; sou recebido por um sujeito que veste impecáveis calças sociais, camisa de linho, óculos modernos. Ele mora numa casa de arquitetura arrojada, ainda que discreta, espremida em espaços estreitos e bem planejados. A natureza, que eu supunha farta e caótica, é substituída pelo paisagismo. Árvores de espécies diferentes se enfileiram ao longo da parte interna do muro, impecáveis como talheres perfilados num bufê. O sol só pode entrar pelas frestas estreitas que os arquitetos lhe deixaram. Os jardins, murados com esmero, têm terra seca e bem tratada. O pantanal, com seus exageros, sua inconstância, seu horizonte vazio, está muito longe dali. Não vejo, na verdade, qualquer sinal dele.
Seguindo os passos de Manoel, entro na casa, que continua a desmentir tudo o que eu tinha imaginado. É uma casa burguesa, reluzente, com objetos distribuídos em posições estratégicas, móveis sólidos, tapetes aconchegantes, peças dispostas em ordem meticulosa, como num cenário. Há um cheiro de desinfetante que barra qualquer resto de odor natural. A claridade é controlada por um jogo bem arquitetado de pontos de luz. Água, só a mineral disposta em uma jarra na mesinha de centro. Recostado em um sofá, com o semblante plácido, levemente desanimado, Manoel de Barros se parece mais com o fazendeiro que de fato é. Quando começamos a conversar, ouço suas palavras retas, sem ambiguidades, o discurso seco de um senhor respeitável, e não a fala torta da poesia que eu vim lendo no avião. Chego a procurar os livros espalhados pelas estantes, releio os títulos nas lombadas, mas nem assim me convenço de que estou diante do homem certo. Manoel, aos oitenta anos, é um gentlemanque toma uísque importado, veste roupas vincadas, cita autores da moda, diz piadas convenientes e se esconde em gentilezas. Onde está o outro Manoel, aquele que inventei? O Manoel verdadeiro fala, e enquanto fala eu o olho e penso no outro Manoel de Barros que imaginei existir em seu lugar. Só me resta admitir que caí numa armadilha que provavelmente eu mesmo ajudei a armar.
A sala está decorada por telas abstratas, tapeçaria fina, plantas ornamentais apenas simulando a natureza, agora tomada como uma peça de museu, uma lembrança tênue disposta entre livros de Benjamin, Kafka e Barthes. A arrumação é impecável, indicando que empregados zelosos passaram por ali pouco tempo antes, retocando a cena para a minha chegada. É um mundo sensato e artificioso, em que os objetos se apresentam como peças numa vitrine, em um cenário nada parecido com a grande desordem que, os poemas me dizem, rege a vida no pântano. Num pequeno terraço, armado entre muros altos que cercam a frente da casa, um conjunto de móveis de jardim se impõe em meio a plantas aparadas, aguadas, perfeitas. Chego a me perguntar, um pouco tonto, se elas são verdadeiras, ou se estou sendo iludido por peças artificiais. Minha insegurança aumenta. Manoel fala, eu anoto, tudo funciona como o previsto, e, no entanto, alguma coisa não corresponde ao que devia ser. Falta aquilo que os poemas, traiçoeiros, me levaram a imaginar. Agora pago o preço de minha imaginação apressada. Todo repórter é assim: um falsário.
Eu o fantasiei magro e triste, mas ele é gorducho e tem o vigor de um empresário feliz. Eu imaginei um homem quieto e inadaptado, e ele é um senhor firme, que se move com nobreza e não esconde o desencanto. Eu imaginei um homem ingênuo, que passasse os dias entre cachorros e passarinhos, catando frutos no mato, os pés metidos na terra, e agora devo aceitar que Manoel de Barros não é a figura que eu tirei de seus poemas. Poemas e poeta estão separados por um abismo, e é ele que, a partir de agora, deve me interessar. A poesia está nessa divisão, é essa fenda que se abre à minha frente.
Tento controlar minha decepção e começo a expor minhas perguntas, anotadas em uma caderneta. Mas, quando as leio em voz alta, elas parecem ridículas e tenho a sensação de que as dirijo ao interlocutor errado. Manoel parece perceber meu incômodo e, elegante, tenta me ajudar. Ele passa a rememorar, sem que eu saiba como chegamos a esse assunto, uma longa viagem sem destino que fez pela América Latina quando era apenas um rapaz. O jovem Manoel desprezava os cenários luxuosos oferecidos pelo turismo; só queria visitar lugares decadentes, sem futuro, paisagens destroçadas. “O que você fazia durante a viagem?”, pergunto. “Não fazia nada”, ele me diz, “eu simplesmente existia.” Viagem de intoxicação, em que a paisagem foi se entranhando em seu corpo, curtindo-o, moldando-o para os versos. Nas estradas desertas, entre goles de chicha e noites maldormidas nos batentes de postos de gasolina, vestindo agasalhos surrados e comendo mal, ele começou a ruminar o Livro sobre nada. Ainda não sabia que aquilo que mastigava era um livro, mas isso não importa.
A ideia veio de uma frase de Gustave Flaubert: “O que eu gostaria de fazer é um livro sobre nada”, ele escreveu. Um livro sobre desutilidades, sobre coisas inúteis, sem serventia. Há no Livro sobre nadaum personagem, Mano Preto, que “não tinha entidade pessoal, só coisal”. Um personagem despido das coisas humanas. Na trilha da Bolívia, empoeirado, sem destino, Manoel já buscava o coração das coisas, sabendo que ele está onde nada que é útil importa, mas só o inútil tem valor. Daí procurar as paisagens limítrofes, miseráveis, cheias de homens decaídos. Manoel fala mansamente, mas vai ligando as histórias, remetendo umas às outras, e com isso, sem que eu perceba, me tira o comando da conversa; posso também perceber que minha lista de perguntas não dá conta do poeta. Mais uma vez, minha estratégia de repórter falha. Já estou, porém, me acostumando, e tudo se torna mais fácil depois que aprendi que é nesses fracassos, quando a realidade desmente minhas suposições, que o texto aparece. Em dado momento, Manoel se recorda do avô que tinha o hábito de ler com o livro de cabeça para baixo. Estava “deslendo”, ele explica. Também eu devo me esquecer da lógica para começar a entender Manoel. Devo deixar de ser jornalista, devo deixar de querer dominá-lo para, só então, ter a oportunidade de compreender. Não sei se conseguirei.
Manoel não coube na profissão que decidiu exercer — a de advogado. Depois da viagem à Bolívia, ele voltou para a vida comum das cidades e, para não decepcionar a família, formou-se em Direito. Tentou adaptar-se à rotina de escritório, delegacias e tribunais, mas não pôde ir em frente. O primeiro sinal desse desarranjo veio no dia em que, diante de um juiz togado, quando se preparava para começar uma defesa, vomitou em cima do processo. “Ali estava o meu nojo”, diz. “Eu simplesmente não podia.” Tempos depois, convidado para ler uns versos de Louis Aragon em um estúdio de rádio, o poeta desmaiou sobre o microfone. Ali estava seu limite. Passou, com dificuldades, a se entender. A poesia começava a se impor.
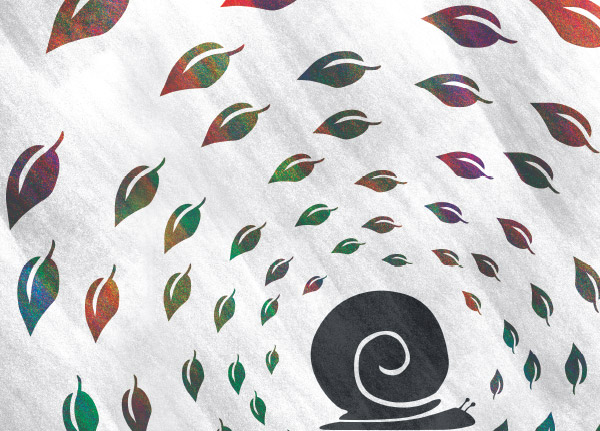
A palavra, para Manoel de Barros, não existe para ser dita, mas sim escrita — pois só as margens do papel podem sustentar sua natureza líquida e volúvel. As entrevistas que tem hábito de conceder, sempre por escrito, já se tornaram célebres: uma série delas fecha a Gramática expositiva do chão. Espanto-me que agora ele aceite falar; e que fale com tanta desenvoltura. Mas é Manoel, o fazendeiro do pantanal, quem fala de Manoel, o poeta do pantanal. A cisão é visível — ou sou eu quem ainda precisa dessas divisões para suportar um personagem tão contraditório. Só posso concluir que o poeta é mudo e que, tomado assim pelo outro Manoel mais prolixo, tem a chance ímpar de se esconder e, ainda assim, de se expressar. Irrito-me: não consigo ter ideias simples a respeito de Manoel de Barros. Caio em sua armadilha.
O poeta tanto batalhou com as palavras que, ao jogá-las no papel para compor seus poemas, descobriu: “Minhas palavras sofrem de mim.” A lembrança desse verso, que me vem à cabeça como uma evocação de meu próprio sofrimento, faz Manoel de Barros se entusiasmar. O rosto vermelho, ele se agita no sofá, dando os primeiros goles no uísque de fim da manhã, um uísque aguado, e diz: “Poesia é coisa muito pessoal.” Vem-me à mente a célebre frase de Felisdônio que abre O livro das ignorãças: “As coisas que não existem são mais bonitas.” Talvez eu ainda prefira o meu Manoel que não existe. Espero que ele não possa ler meus pensamentos. Eu o imaginara como um homem plantado na terra, mas a terra para Manoel de Barros é só um trampolim, do qual ele salta para o inexistente. É ele quem diz: “Poesia é voar fora da asa.” Entregar-se à queda e se espalhar nas coisas miúdas, nas inexistências a que ninguém dá atenção. Manoel quer desinventar objetos e colocar em seu lugar a palavra oca — só palavra, revirada como uma folha que secou. A palavra falada comunica. Já a palavra escrita entorta. Escrever poemas é empenar o mundo, que não passa de um grande depósito de objetos quebrados.
Manoel foi criado numa fazenda do pantanal. O pai era arameiro — viajava, levantava acampamento na paisagem vazia e depois se punha a fincar estacas e a fixar cercas de arame. A delimitar o nada. Menino, o poeta vivia ali, cigano, entre formigas, cachorros, lagartos, mosquitos, a render seus dias às miudezas. Às insignificâncias. Depois, o pai o mandou estudar com os irmãos maristas. Foi no colégio de padres que ele, como se estivesse em Coimbra, teve a chance de ler Camilo, Eça, Herculano. E descobrir que Vieira, o padre poeta, era um pregador da palavra, e não da divindade. Vieira, que a igreja insiste em ver como um profeta, atribuía caráter sagrado às palavras, e não às esferas superiores. As palavras eram os reflexos de um deus tênue, distante, de quem só elas restavam, como uma casca depois que a ferida secou. Deus é a ferida. E Manoel, lendo Vieira, aprendeu a se interessar mais pelas cascas, pelas pegadas, nelas encontrando a verdadeira beleza.
O jovem Manoel de Barros mudou-se para o Rio de Janeiro, onde morou em pensões, estudou e fez agitação comunista. Essas lembranças, embora bastante triviais, sem nenhum enlevo especial, o emocionam. Conforme nossa conversa avança, Manoel se ampara mais e mais no passado, e isso, eu percebo, o alivia. O passado o recorta em muitos pedaços, põe no lugar do homem de hoje uma série de personagens virtuais — inexistentes e, só por isso, poéticos. “Eu sou muitas pessoas destroçadas”, ele escreveu. Sente-se melhor nessa posição de guia, como se não falasse de si, mas apenas apontasse para outros homens que já foi. Não precisa de heterônimos: Manoel é, em si mesmo, um nome em fragmentos. Aos treze anos — está dito no Livro das ignorãças —, ele descobriu que não se interessava pela beleza das frases, mas sim pelas doenças que nelas se escondem. As falhas, os vazamentos, as imprecisões, os sentidos dúbios, as ciladas. Um dia, comunicou ao padre Ezequiel, seu preceptor espiritual, esse gosto esquisito. O padre disse: “Manoel, isso não é doença, pode muito que você carregue para o resto da vida um certo gosto por nadas.” E completou com a frase síntese: “Há que apenas saber errar bem o seu idioma. Nada mais.” É inusitado que uma lição de tanta destemperança, de tanta malandragem diante da língua, tenha vindo justo de um sacerdote. Lição que perdurou até se transformar no segredo do poeta.
***
Manoel se cansa das palavras e me convida para o almoço. Uma salada verde, um frango com arroz, frutas da estação na sobremesa. Um longo silêncio. Stella, sua mulher, parece mais prática. Deve encontrar os documentos de um jazigo de família que vai ceder aos parentes de um ex- empregado que acaba de falecer. Manoel a olha, como se aquilo não existisse. E eu me vejo ali, naquela armadilha do poeta, diante de um homem sério que desconheço. Ele mastiga devagar, pontuando o silêncio. Pede um pouco mais de salada, um guardanapo, uma taça para a água. Não precisa de mais. Tenho muitas perguntas a fazer, mas nenhuma delas parece caber naquele silêncio. Mastigo, e me ouço mastigar, como uma interferência naquela zona de delicadezas em que Manoel de Barros existe. Quanto à natureza, com seus murmúrios e chiados, agora parece muito distante. Manoel de Barros, o poeta da natureza, o versejador do pantanal, o guru dos ecologistas, não existe. “A coisa mais fácil que existe é fixar rótulos”, digo num arroubo, pensando nesses rapazes dos supermercados que andam entre as prateleiras com seus marcadores de preços nas mãos. A vida é outra coisa.
Depois, Manoel me deixa sozinho por uma ou duas horas: deve assinar uns documentos em seu escritório, no centro de Campo Grande, e seria muito maçante acompanhá-lo, argumenta. É a vida civil do poeta, que ele, envergonhado, prefere esconder. “São bobagens”, me diz. “Eu resolvo rápido.” Nessa semana, não tem viagens marcadas para o pantanal, aonde vai regularmente para inspecionar as fazendas. Viaja de avião, escondido sob óculos escuros, com a maleta de empresário sob o braço. Lá, é apenas um fazendeiro, o poeta desaparece. Digo que gostaria de marcar a visita de um fotógrafo à fazenda para uma seção de retratos, mas ele desconversa. Quem administra a fazenda não é o poeta, mas outro homem por acaso também chamado Manoel de Barros, e não lhe agrada a ideia de que eu os tome pela mesma pessoa. Isso eu posso entender sem grande esforço.
Enquanto o espero, percorro algumas livrarias do centro de Campo Grande em busca dos livros do poeta Manoel de Barros. Nas vitrines, nem sombra deles. Também não há sinal nas estantes mais destacadas, ou mesmo naquelas dedicadas à poesia. “Talvez estejam esgotados”, me consolo. Dirijo-me ao caixa de uma livraria para tomar informações. “Manoel de quê?”, o rapaz da caixa pergunta. Peço a presença do gerente, mas também ele só tem uma ideia vaga de quem se trata. “É um romancista aqui do Mato Grosso, não é?”, me pergunta. “É aquele autor que escreveu...”, e o nome do livro não lhe sai. Fico em silêncio, esperando para ver até onde suas dúvidas irão levá-lo. “Manoel de Barros, Manoel de Barros...”, ele repete, enquanto folheia um caderno com folhas em espiral. Por fim, depois de consultar catálogos e listas datilografadas, encontra um exemplar do Livro das ignorãças. “Ah, então é isso”, diz, perplexo. Em muitas livrarias, não só os livreiros não sabem que Manoel existe, como também não há um só exemplar de seus livros. Um deles me pergunta: “É um padre?” Ensaio um sermão sobre a ignorância, mas desisto nas primeiras frases. Saio enfurecido. “Como pensar em um padre?”, resmungo, mas logo me recordo que também eu tomei o poeta por um homem que ele não é. E, constrangido, trato de esquecer o episódio.
No meio da tarde, conforme o combinado, Manoel e eu nos reencontramos no centro de Campo Grande. Começamos a caminhar, sem destino, para que ele me mostre a capital. O poeta me conta que gosta de dar longas caminhadas, às vezes em plena madrugada, só para meditar. O que é meditar? — pergunto. “Ora, é pensar em nada”, diz, com uma risada. Leva, apesar dos confortos de que pode dispor, uma vida comum. Seu luxo é sair duas ou três noites por semana para tomar alguns chopes com um grupo de psicanalistas. Único homem entre as discípulas mato-grossenses do psicanalista francês Jacques Lacan. “Elas acham que sou meio lacaniano”, ele me diz, sem disfarçar a ponta de humor, mas também a vaidade. “Eu falo, e elas ficam impressionadíssimas.” Chego agora a um Manoel ainda mais sofisticado, que se embrenha em discussões sobre a função da língua e se corresponde com o psicanalista carioca M. D. Magno, outro discípulo, um tanto controvertido também, de Lacan. “A palavra é o nascedouro que acaba compondo a gente”, Manoel me diz, fazendo Lacan tremer de felicidade em seu túmulo. Essa frase poderia estar num dos célebres seminários e ninguém se surpreenderia. Jacarés, mosquitos e cachorros, sinto-me obrigado a concluir, também conduzem ao inconsciente. “Tudo é palavra”, comenta Manoel, roubando meu pensamento, ciente de que um jacaré vale tanto quanto um ato falho, pois ambos são apenas efeitos da língua. A rigor, não existem.
Depois, de volta à casa, ele se oferece como cicerone e me conduz em uma visita cômodo a cômodo, a pose de grande senhor estampada em cada gesto. É uma casa moderna, que se volta toda para o centro, dando a impressão de ser muito maior do que realmente é. Manoel não se cansa de admirar esse engenho da arquitetura, que contrasta com sua fazenda de doze mil hectares, onde ele cria cinco mil cabeças de gado e, diz-se, tem até um pequeno avião — mas ele não gosta de confirmar. “Nada temos, só as palavras”, emenda. É um empresário do campo que, nas horas de lassidão, se diverte com formigas e palavras tolas. Um pai de família meio deprimido que passa a tarde lendo filósofos antigos e ouvindo sinfonias alemãs. Um sedutor que frequenta bares e ouve teorias difíceis só para desfrutar da companhia de mulheres bonitas. O homem que tenho à minha frente, Manoel de Barros, é tudo isso em um só.
A casa, cuja planta traz a assinatura de dois prestigiados arquitetos do Mato Grosso, tem um desenho em labirinto — como se quisesse expulsar o mundo exterior com suas selvagerias. Escadas reluzentes, paredes claras, móveis restaurados, telas modernas, indícios irrecusáveis dos confortos da civilização. A chave do pequeno escritório, lugar secreto que deixa para o fim da visita, fica, como nos filmes de mistério, sobre o batente da porta. É um cômodo minúsculo, atulhado de livros, peças de artesanato, fotografias. Há uma velha mesa de madeira na qual Manoel escreve — sempre em cadernos minúsculos, que ele mesmo fabrica, agrupando folhas coloridas com um velho grampeador. Objetos dispostos sobre a mesa revelam um pouco mais a respeito do poeta: brinquedos antigos, folhas mortas, fotografias, caixinhas, bonecos, um ovo engessado. É o poeta das miudezas.
Ponho-me a imaginar que grandes tesouros Manoel guardará naqueles cadernos minúsculos, que versos estarão ali recolhidos, em repouso, esperando apenas a hora de se converterem em livros. Ele se detém diante de um ou outro objeto, mas, como um guia experimentado, não se senta, nem me convida a sentar. Estamos de passagem em um território secreto, em que as coisas não devem ser tocadas nem examinadas, mas apenas evocadas. Todas as manhãs, quando se tranca em seu escritório, Manoel deixa a ordem expressa de que nada, mas nada mesmo, deve interrompê-lo. É como se estivesse em outro lugar, muito distante de casa, ainda que só uma porta o separe da família. “A gente precisa desses artifícios”, ele pondera. Nessas horas secretas, em que ninguém sabe exatamente o que se passa ali dentro, Manoel pode estar escrevendo, mas pode também estar lendo, meditando, ou só olhando o tempo passar. A poesia, para ele, é a ausência de método, é um sobressalto — e sustos não cumprem agenda, nem têm hora certa para acontecer.
Manoel gira a chave com cuidado e volta a colocá-la sobre o batente da porta. “Muito obrigado”, eu me limito a dizer. O poeta já não se esforça mais para esconder o cansaço, e, depois de passar sete horas a seu lado, trato de me despedir. De volta ao hotel, ainda perplexo com o retrato que encontrei, procuro algum consolo nos versos. Leio e releio, buscando o laço que une aquele homem sereno e austero que conheci aos poemas desassombrados que escreve. Passo a noite em claro, enleado na lama das palavras; elas têm uma força movediça, e quanto mais me debato, mais afundo. Ao tomar o avião de volta para São Paulo, carrego comigo só um esboço de retrato. Uma figura imperfeita, meio torta, com lados que não se correspondem e pontos borrados, que apenas evoca o personagem que conheci. Ocorre-me que retratos existem para representar as pessoas, mas o que carrego comigo só desrepresenta — e engasgo, surpreso, com a palavra que acabei de roubar de Manoel. Ele tinha me advertido que a poesia, como uma dessas epidemias que às vezes se espalham no gado, também contamina. Conformado, decido me entregar ao gozo da peste.
* Esse texto foi publicado originalmente em Inventário das sombras (Record, 1998)