
"Nós morremos. Esse talvez seja o sentido da vida. Mas nós fazemos linguagem. Essa talvez seja a medida de nossas vidas."
Há uma ternura ancestral no grave de sua voz, como se sua fala, de uma austeridade estranhamente doce, carregasse a soma do canto de alegria e dor de todas as mulheres negras que vieram antes. Palavras pausadas, conduzidas na serenidade de uma sabedoria acumulada naquelas que morreram para deixar viva a linguagem com a qual caminharam. No dia 7 de dezembro de 1993, Toni Morrison subiu ao púlpito do Stockholm Concert Hall, na Suécia, para conjurar, com essa voz de pássaro mensageiro, a história da linguagem, como ela mata, mas também faz nascer; como oprime, mas também liberta. Naquele dia, ao receber o primeiro prêmio Nobel de Literatura dado a uma mulher negra (primeiro e único até agora), a escritora usou da ferramenta que mais lhe apraz, a alegoria, para materializar na figura de uma anciã cega a equivalência entre a linguagem e o processo, a tantos negado, de autorreconhecimento: “Você, velha senhora, abençoada com a cegueira, pode falar a língua que nos diz apenas o que a linguagem é capaz de fazer: ver sem imagem. A linguagem por si só nos protege do horror das coisas que não têm nome. A linguagem por si só é meditação”.
Foi por ter sido impedida de acessar o significado de uma certa linguagem que Ycidra, mais conhecida como Cee, teve o seu corpo violado. Uma das personagens centrais do mais novo livro de Toni Morrison a ser publicado no Brasil sofre na carne as consequências dos significados que lhe foram vedados. Pois a linguagem, essa coisa viva, pode ser manipulada tanto para que se vejam as coisas que não estão dadas, quanto para se ceguem os olhos diante daquilo que ali está. Cee, jovem negra de visão perfeita, não soube reconhecer a carga violenta que carregava a palavra “eugenia”, quando entrou na biblioteca daquele homem branco da ciência, respeitado por todas as palavras que o distinguiam dos demais. Os livros cujas capas falavam em “grande raça” passaram por seus olhos como se fossem papéis em branco. A Cee não foi dado ver o que estava por vir.
Voltar para casa é o sétimo livro de Chloe Anthony Wofford, vulgo Toni Morrison, que a Companhia das Letras publica no país (antes, já em 1977, a editora Best Seller havia publicado, também da autora, A canção de Solomon). Com esse novo título traduzido, a escritora retoma temas que, em maior ou menor medida, passam por toda sua literatura (porque passam por todo seu corpo): assombrações de um passado perturbador, racismo, sexismo e, algo muito pontual na sua escrita, a força de mulheres que, juntas, erguem escudos intransponíveis para o saber que segrega, categoriza e define. Mesmo porque, como a autora já escreveria em seu romance mais reverenciado, Amada, quem estabeleceu que “as definições pertencem aos definidores, não aos definidos” foram os homens brancos. Nas esquinas de suas histórias, Toni Morrison deixa soprar o vento de uma linguagem que está ali para fragmentar as definições registradas no cartório dos “vencedores”, seja a demarcação do que é belo (O olho mais azul), da intolerância (Paraíso), de pátria (Compaixão) ou do que significa o amor materno (Amada). Em Voltar para casa é o próprio sentido de “casa” que se quebra no chão, seja como espaço físico, seja como uma questão identitária.
Quando Frank Money volta de uma guerra aonde foi enviado para matar o outro que é ele mesmo e, paralelo a isso, sua irmã Cee adoece misteriosamente, confissões são, pouco a pouco, postas sobre a mesa. Seja na voz do próprio Frank em cartas dirigidas à narradora, seja na narrativa em terceira pessoa que conduz os fatos. Mas, ao contrário do que seria de esperar em uma história de heróis partidos, Toni Morrison não oferece a Frank Money a sua esperada redenção. Pelo contrário, ela termina por entregar-lhe dores outras que ele sequer havia registrado, esvaecendo da lembrança de sua infância a imagem de imponentes cavalos, e colocando no seu lugar a latente presença do assassinato contumaz de homens negros naquele mesmo terreno onde os cavalos desfilavam. Na narrativa cedida a Frank, a força sublime da natureza – cavalos que se erguem como homens – termina por ser substituída pelo espetáculo pétreo do horror humano – o corpo negro que cai de um carrinho de mão.
Em lado oposto, para Cee, maltratada na infância por sua madrasta e ensinada desde sempre a se curvar diante dos outros, é justamente a celebração da natureza que a salva, resgata, redime. É invocando os saberes da terra, e nunca dos homens, que as mulheres mais velhas (aquelas de “olhos que já viram tudo”) tomam conta do seu corpo doente e saram-no. Uma vez recuperada, Cee escuta de uma delas: “Não deixe os outros decidirem quem você é. Isso é escravidão”. As definições, por fim, nas mãos daqueles a quem gentebranca se acostumou a definir.
Toda essa história se passa nos 1950. Atravessam-na relatos de violência que surgem de fora para dentro (Cee), e de dentro para fora (Frank), críticas contundentes às heranças ideológicas da medicina ocidental, revisão de fábula (Frank e Cee podem ser lidos como os irmãos João e Maria, procurando ambos por alguma salvação) e mesmo exercícios metalinguísticos sobre confrontos diretos entre a voz narradora e a voz em primeira pessoa do personagem central (Frank rebate opiniões da narração sobre o que ele sentiu em determinados momentos). Mas se existe algum extrato latente neste e em absolutamente todos os outros romances de Toni Morrison, ele é o comprometimento da escritora com a sua própria história, leia-se, com as lembranças de seus pais contando a ela e aos irmãos contos e lendas de origem afro-americana, com o fato de ela ter sido a única aluna negra na sua turma de high school, com todas as vezes em que ela teve que cruzar a rua quando um homem branco vinha na direção contrária (“mas se fosse um homem negro, eu corria em sua direção porque ele podia também me proteger”, diz ela em um documentário da BBC), com a memória viva de uma amiga na infância que pedia a Deus para ter olhos azuis, mas Deus não a escutava.
Curiosamente, há uma abordagem muito particular da obra dessa escritora no Brasil, onde se parece desviar, ou ao menos minimizar, o cerne étnico de seus romances. Quando Toni Morrison veio ao Brasil em 2006 para a Feira Literária de Paraty (Flip), já reconhecida como a grande dama da literatura norte-americana, a grande imprensa brasileira registrou sua passagem ressaltando o fato de ela ser um “prêmio Nobel”, raramente pontuando aspectos estéticos/políticos de sua obra. Em tese de doutorado da UFRJ, apresentada em 2015, sobre o impacto e as diferenças das traduções de Amada no Brasil, a pesquisadora Luciana Mesquita, é pontual na observação: “Com relação às referências a Morrison em revistas e jornais de grande circulação no Brasil, o que geralmente se observa é seu nome sendo citado como parte de reportagens sobre assuntos variados e não com foco em sua carreira ou na publicação de seus livros em nosso país. (...) Ao chegar ao contexto cultural brasileiro, Morrison é normalmente destacada como uma romancista estadunidense de sucesso e ganhadora de diversos prêmios literários. Ou seja, sua trajetória de engajamento político em questões referentes aos negros em seu país é bastante atenuada e, em alguns casos, simplesmente silenciada”.
É sobre esse silenciamento de que falava Toni Morrison lá em dezembro de 1993: “Há e haverá uma linguagem mais sedutora, mutante, criada para sufocar as mulheres, empanturrá-las garganta abaixo, como se fossem gansos produtores de patê, com suas próprias palavras indizíveis e transgressoras; haverá mais da linguagem de vigilância disfarçada de pesquisa; de política e história calculadas para silenciar o sofrimento de milhões”. Ao criar um discurso notadamente político no momento em que recebia um Nobel, a escritora não deixava margens para erro: sua literatura era, sim, um manifesto, não apenas porque o próprio ato de escrever é resistência, mas porque no caso dela e de tantas outras mulheres negras, a forma, as histórias e até os nomes dos personagens são testemunhos de um olhar e uma dicção que é marcada, mas nunca delimitada, pela vivência de seus corpos no mundo. E todos esses corpos – todos – sofreram e sofrem algum tipo de opressão de raça e gênero. Negar isso é tentar apagar mecanismos de linguagem que estão ali não para oxigenar ideias, mas sufocá-las.
“Ela não escreve romances sobre o racismo. Ela escreve de dentro do racismo. Ou melhor, de dentro da condição do negro na sociedade branca. Não são romances ensaísticos, são ficções excelentes que se passam no mundo afro-norte-americano com suas especificidades culturais, das quais o racismo é uma das condicionantes. Essa ‘internalidade’ da questão do negro atribui potência ao texto. Além das situações dramáticas e do situar as histórias na História”, diz José Rubens Siqueira, tradutor dos lançamentos da escritora pela Companhia das Letras, alguém que, como poucos, entende, por exemplo, que a aproximação entre a escrita de Toni Morrison e a oralidade das culturas de matriz africanas não são acidentais.
Falar de uma nova tradução de Toni Morrison no Brasil é, portanto, falar também de um estranho distanciamento entre as crescentes inquietações acadêmicas sobre a literatura produzida por escritoras negras brasileiras e o parco interesse por essas mesmas autoras pelas instituições legitimadoras do valor artístico de cada obra (premiações, feiras literárias e a chamada grande imprensa). Quem tenta silenciar o engajamento político de Toni Morrison e o profundo impacto que ela tem na comunidade negra de leitores e escritores são as mesmas pessoas que não publicaram ainda nos “grandes jornais” o texto sobre como Carolina Maria de Jesus fundou uma perspectiva do olhar na literatura brasileira, as que ainda não escreveram na capa do caderno cultural sobre como Conceição Evaristo é leitura fundamental para se entender os conflitos do país desenhado na arquitetura do quarto de empregada, e são também as pessoas que ainda não reconheceram que Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves (editora Record) é uma das obras mais basilares da literatura brasileira nesses últimos anos, e que é no mínimo estranho que o único prêmio recebido por esse romance histórico tenha vindo de uma instituição cubana*.
Subestimar a cor de Toni Morrison e de seus personagens em uma crítica literária é também um movimento que valsa com um acontecido de janeiro deste ano, quando censuraram um outdoor na cidade de Ilhéus, na Bahia, onde se liam os versos-flecha da poeta Lívia Natália, numa adaptação da "Quadrilha" drummondiana: “Maria não amava João/Apenas idolatrava seus pés escuros/Quando João morreu/Assassinado pela PM/Maria guardou todos os seus sapatos”. Em “nota de escurecimento”, a poeta rebateu na época: “Esse poema apenas diz uma verdade que todos nós engolimos e sua ampla recepção apenas reforça a sua força e a força da literatura, numa sociedade tão desprovida de sensibilidade”.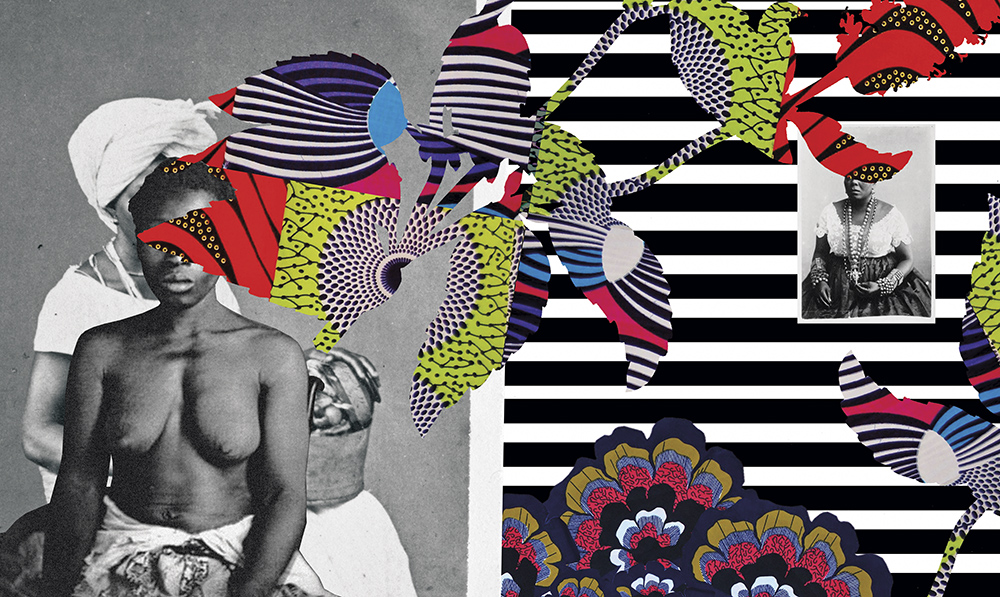
INFLUÊNCIAS E LEITURAS
Eis então que, por ocasião do lançamento de Voltar para casa, é preciso reconhecer o impacto da obra de Toni Morrison no Brasil a partir de quem a lê com olhos de uma afetuosa cumplicidade, de quem produz e atravessa a literatura com questões de identidade que se articulam e dialogam com esse lugar de onde fala a escritora norte-americana. Escritoras como a poeta Nina Rizzi, cuja leitura de O olho mais azul, primeiro romance de Toni Morrison, a fez escrever versos como estes: “Enquanto cai a neve/ela chora sua cor./Com nacos de tijolos arrancados da parede/esfrega-os na pele até ser encarnada/como os brancos, horas sob o sol a pino./Chora, feliz:/quando estancar o sangue, não/sobrará essa cor de menino carvoêro/(o professor disse que essa é a pior/forma de energia, e esses meninos/escravos sem dono)/será apenas ela,/quase como quase/todas suas bonecas”.
“Certamente esse livro, cujo original li já com uns 20 anos, deu a mim olhos de olhar os ‘outros’ com mais empatia e continua reverberando ainda hoje, quando entro em lojas de brinquedos e ainda são unânimes as bonecas brancas de olhos azuis, quando leciono, quando conto histórias para crianças”, ela escreve. “Toni Morrison diz ‘conta-nos a tua história’, e é isto, só você pode contar a sua história. Se me permito neste momento contar que, ao ter a pele branca, mas os cabelos encarapinhados e os traços negros e como isso me colocou em um ‘não lugar’, ou um lugar de se apontar o dedo ‘não é negra!’/ ‘não é branca!’, é porque só eu posso dizer isso; do mesmo modo, só eu posso dizer que dormi na rua e como isso estilhaça minha memória”, frisa Nina.
Ana Maria Gonçalves, cujo romance mais conhecido, Um defeito de cor, nasce de uma profunda pesquisa histórica inspirada numa personagem real, Kehinde/Luísa, pega ainda criança na África Ocidental e feita escrava no Brasil, afirma que a qualidade da escrita de Toni Morrison é fundamental para que ela sinta proximidade com sua literatura, mas que “a outra coisa muito importante para mim na obra dela é a centralidade nas questões ditas negras, nas coisas que a incomodam, sem concessões. A questão da representatividade acontece quando o livro chega às pessoas que têm os mesmos questionamentos que você, ou que descobrem que têm depois da leitura. Aí não é uma questão de falar por alguém ou para alguém, mas junto”. Foi motivada por questões sobre sua identidade de pele que Ana Maria escreveu Um defeito de cor. “Sendo mestiça, usufruí, durante muito tempo, do privilégio de não ter que me pensar como negra, de não ir atrás da história que define o que é ser negra. Kehinde sou eu, assim como quase todos os outros personagens não históricos presentes no livro. Costumo dizer que sou mulher, negra e escritora, e essas três coisas, separadamente e influenciadas uma pela outra, marcam o que escrevo a partir das minhas experiências em cada um desses universos.”
“A literatura de grandes escritoras negras, como Morrison, Alice Walker e Zora Neale Hurston me marca porque ali há um desnudamento de nossas angústias para além do racismo óbvio, que nos minoriza por causa do nosso tom de pele. Elas combatem, com sua narrativa incisiva e poética, um racismo que dissemina seus efeitos na nossa subjetividade, nos nossos sentimentos. Que nos aprisiona em grades invisíveis, rouba nossa voz e mata partes da nossa crença fora e dentro de nós. E é isso que essas mulheres fazem, e nos ensinam, generosamente, a fazer”, acredita Lívia Natália que, além de poeta, é pesquisadora, na UFBA, da literatura escrita por mulheres negras. Questionada sobre os reflexos que a estrutura racista brasileira geram no mercado editorial, ela não é menos incisiva que sua poesia: “Eu escrevo literatura, e precisamos nós todas sermos estudadas, lidas e publicadas pela força do nosso texto. O prêmio Jabuti recebido por Conceição Evaristo (que foi terceiro lugar na categoria Contos pelo livro Olhos d’água) é prova de que somos competentes no trabalho com a palavra. O mercado editorial precisa se abrir aos nossos livros. Senão a gente vai arrombar a porta, entrar por outras vias, fundar nossas editoras! Essa demanda é crucial”. A pontuar que, no Brasil, existe a editora, a Pallas, trabalhando desde 1975 com um catálogo de ficção e não ficção de temas afrodescendentes. É a mesma que publica Conceição Evaristo e a também premiada escritora cubana Teresa Cárdenas. E há também a Mazza Edições, fundada por Maria Mazarello Rodrigues, dedicada também a publicar livros, ficção e não-ficção, com foco na cultura afro-brasileira.
Nina Rizzi esclarece, por fim, que há uma evidente alteridade facilmente percebida na escrita de quem, por muito tempo, esteve no “lugar de silêncio”. “Os registros de mulheres escritoras negras são muito recentes, mas isso significa que elas não escreveram? E que, então, precisamos de um centro para falar sobre a periferia? A mesma dimensão histórica das conquistas precisa ser dada ao genocídio de índios, à escravidão. Eu quero ler e ouvir a voz das pessoas implicadas diretamente nesses processos, eu quero ouvir a história das periferias, ditas (e escritas) por elas mesmas. Então, quando lemos uma história de cunho social, de gênero, de raça, escrita por elas mesmas, as ‘sujeitas viventes’, ela nos acerta muito mais exatamente. Enfim, quando a voz da escrita é uma mulher negra, percebemos que ela, a mulher negra, sempre esteve no ‘lugar do silêncio’, na fala do outro; a maioria, senão todas as mulheres negras que leio, carrega na escrita esse lugar e nos permitimos, no ato da leitura, enfim, ouvi-las.”
Em outras palavras, se O sol é para todos, de Harper Lee, e A cor púrpura, de Alice Walker, são igualmente clássicos da literatura porque são livros excepcionais (ambos vencedores do Pulitzer), é preciso saber que suas distintas interpretações quanto à herança escravocrata norte-americana falam em tons que são, sim, racialmente distintos. Os negros de Harper Lee dizem respeito à perspectiva branca de olhar o negro. Os negros de Alice Walker são negros como ela, seus pais e avós. Para além da qualidade técnica das respectivas escritas dessas autoras, é preciso deixar claro que a linguagem, como lembraria Toni Morrison, além de buscar a felicidade do inefável, precisa procurar também desvelar o espaço de subjetividades silenciadas. E os personagens de A cor púrpura ainda hoje encontram dificuldades em achar esses espaços.
APROXIMAÇÕES
Um novo lançamento editorial no Brasil de Toni Morrison implica também em perceber que os fantasmas à espreita nos romances da escritora norte-americana – e eles não são poucos em Voltar para casa – são assombrações de contornos muito semelhantes às do setor sul da América. E ainda que a questão do negro nos Estados Unidos seja uma ferida mais exposta ao debate (algo que, no Brasil, começou a ser discussão pública e notória apenas nos últimos anos), o passado escravocrata em comum de todo esse continente colonizado nos torna, de alguma forma, um pouco mais familiares aos dramas dos personagens dispostos nas páginas de Morrison. Os sapatos que Florens não tem em Compaixão são aqueles que Carolina Maria de Jesus não consegue comprar para sua filha mais nova em Quarto de despejo; os homens que marcam as costas de Sethe em Amada são os mesmos que, vestidos de PMs, apontam a arma para uma grávida Ana Davenga num conto de Conceição Evaristo; a cena de estupro coletivo que abre Amor carrega dor muito semelhante à do momento em que o sinhô José Carlos estupra Kehinde em Um defeito de cor.
Os paralelos não param por aí, como bem articula a pesquisadora Luciana Mesquita: “Vejo um diálogo da escrita de Toni Morrison com a de autoras afro-brasileiras. Um exemplo disso é a relação entre os romances Amada e Ponciá Vicêncio, de Conceição Evaristo, no que diz respeito às lembranças da época da escravidão. Enquanto no primeiro, Sethe assassinou sua própria filha para que a mesma não sofresse com o sistema escravagista assim como sofreu, no segundo, Ponciá é neta de escravos e filha de um homem nascido quando a Lei do Ventre Livre estava em vigor. Tanto Sethe quanto Ponciá têm que lidar com as memórias de um passado de dor e sofrimento relativos à escravidão. Outro romance de Morrison que se articula com obras afro-brasileiras é O olho mais azul, especialmente com relação à personagem Pecola. Trata-se de uma menina pobre e negra que desejava ter olhos azuis pelo fato de acreditar que eles a livrariam do preconceito racial e da exclusão social que eram constantes em sua vida. Essa busca pela construção de identidade pode ser relacionada à narrativa autobiográfica A cor da ternura, de Geni Guimarães, em que uma menina também pobre e negra é vista como diferente e, consequentemente, discriminada pelas crianças de sua comunidade. Esses são apenas dois exemplos dos variados temas em comum que perpassam a literatura de Morrison e a de autoras afro-brasileiras como Conceição Evaristo, Esmeralda Ribeiro, Miriam Alves, Cristiane Sobral, entre outras”.
Celebrar no Brasil a obra de Toni Morrison, única mulher negra numa lista de 108 autores a receber o Nobel de Literatura, é também estabelecer vínculos que dizem respeito a histórias em comum, a linguagens que, igualmente, foram submetidas ao apagamento. A saber que entre a mestiça Maria Firmina dos Reis (1825-1917), primeira romancista brasileira, e a escritora americana Zora Neale Hurston (1891-1960), entre o discurso inflamado da atriz Viola Davis, quando recebe o primeiro Emmy de Melhor Atriz dado a uma mulher negra, e a ausência de negros protagonistas nas novelas brasileiras, entre o que canta Beyoncé e MC Sofia, existem narrativas que se cruzam e, juntas, se amplificam.
* O prêmio Casa de las Américas, uma das mais prestigiosas premiações literárias da América Latina