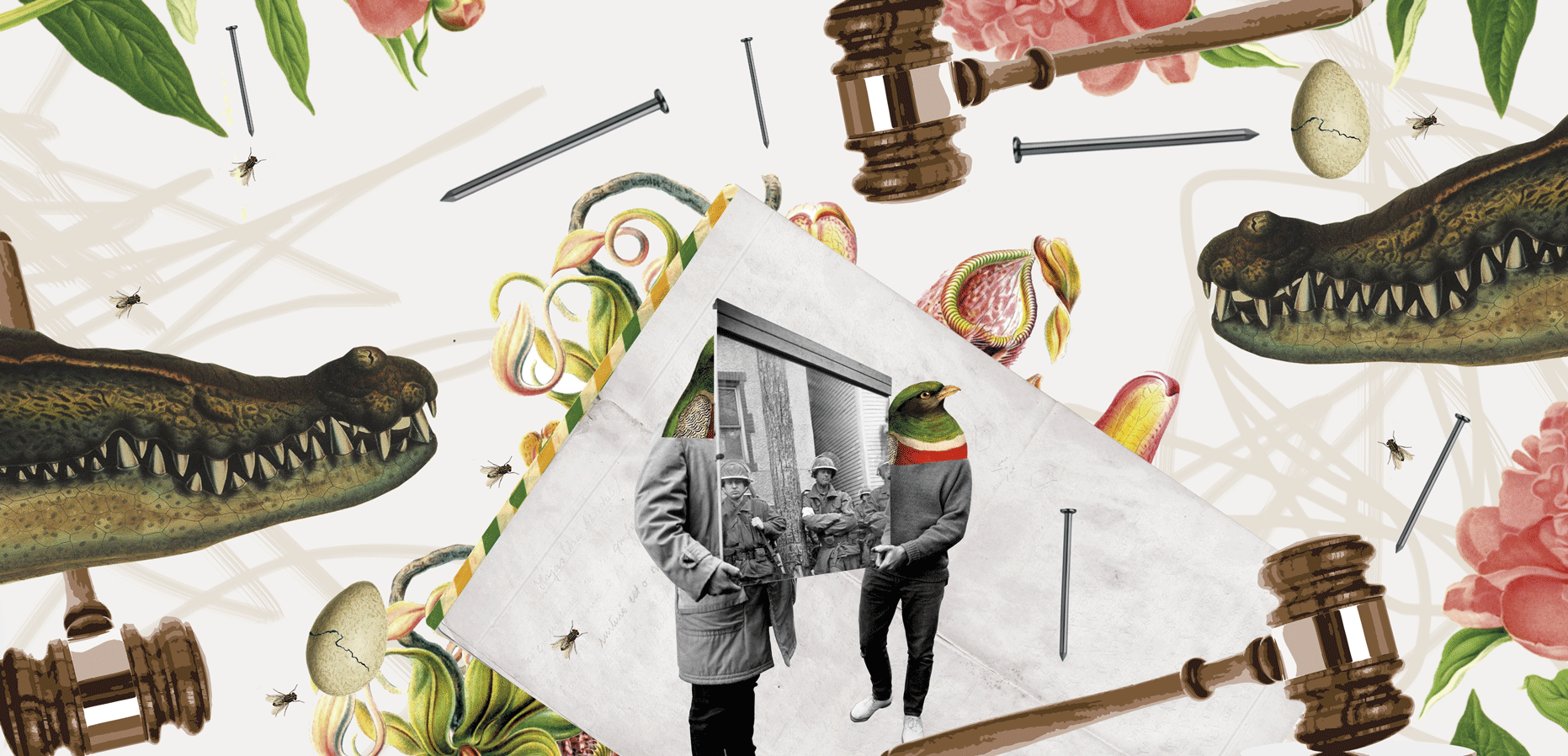
Literatura da urgência. Um diário do hospício. O meio literário contemporâneo brasileiro “vive aos solavancos entre polêmicas e controvérsias”. Um duelo de espadas. Formas desastrosas de interpretação. Estudos comparativos da treta. Dizem que a origem da literatura está ligada à memória, ou ainda: “do mesmo modo que um novo amor faz nascer a lembrança do antigo, a literatura nova faz nascer a lembrança da literatura”, escreve Tiphaine Samoyault. Posto isso, vamos aos códigos deste texto: procurou-se analisar de que maneira escritoras e escritores brasileiros estão impulsionados à escrita de um presente-demolido. Para além: como a persona do autor coloca-se em posição de alerta diante dos tentáculos sociais, políticos, culturais perpassantes às narrativas de um cotidiano esvaído, tantas vezes, de significado.
Yves Klein declarou que: “no coração do vazio, assim como no coração do homem, há fogos que queimam”. Troca-se coração do homem por coração da literatura brasileira contemporânea. Há fogos, sim, mas nem sempre tão óbvios ou visíveis no horizonte. A ideia, ao longo dos próximos parágrafos, é mapear essas explosões.
De acordo com Samoyault, a origem da literatura está na reminiscência, no processo de constituição e coleta do que é tido como anterior na timeline de nossa biblioteca. De Lima Barreto a Roberto Bolaño, passando por Ricardo Domeneck e por centenas de perfis no Facebook, desenha-se o escopo do que é, talvez, a performance literária em 2016. Se para Barreto a literatura é o ponto limítrofe entre o poder a morte – “Ah! A Literatura ou me mata ou me dá o que eu peço dela”, grafa o escritor carioca em Diário do hospício –, para Bolaño, esse ponto é representado por um duelo de espadas, sem propósito, em uma praia barcelonesa.
No texto Parábola do solista e do coro (ou Estudos em literatura masculina branca heterossexual), publicado no Deutsche Welle e assinado pelo poeta Ricardo Domeneck, também ocorre uma alusão à memória da biblioteca. Com o intuito de destrinchar a polêmica acerca de um artigo publicado no jornal O Globo, no último mês de outubro, Domeneck sublinha a importância da referência literária e a utiliza como sólido argumento para questionar as premissas levantas pelo jornalista Bolívar Torres, autor do texto controverso. Intitulado Livros com protagonistas gays apontam naturalização do tema, o artigo discute obras recentes de Bernardo Carvalho, Daniel Galera, Victor Heringer, Michel Laub e Samir Machado de Machado. Escritores, acadêmicos, críticos, editores elaboraram post’s e comentários na contramão do artigo, rejeitando expressões como “opção sexual” e “clichê do gay afeminado”.
Segundo o artigo, “o tema (personagens centrais homossexuais) surge naturalmente em uma história escrita para um público amplo e irrestrito.” Indaga, então, Domeneck: “Ora, por quê? Eram para um público minúsculo e restrito os livros de Oscar Wilde, Marcel Proust, Jane Bowels, Gertrude Stein, Jean Genet, Lúcio Cardoso, Djuna Barnes, Pier Paolo Pasolini, Virginia Woolf, Konstantinos Kaváfis, Meridel Le Sueur, James Baldwin, Muriel Rukeyser, Audre Lorde, Roberto Piva, Al Berto, Manuel Puig, Gerard Reve, Hubert Fichte, Adrienne Rich, Néstor Perlongher, Yevgeny Kharitonov, Langston Hughes, Severo Sarduy, William Burroughs?”. Em resposta às críticas, Bolívar defendeu que o seu recorte tinha como foco o contexto analítico de um mercado “mais aberto, simpático” ao assunto.
Debates fervorosos, discordâncias tempestuosas não são sintomas da geração literata vigente, basta lembrar episódios como os de Ernest Hemingway e Scott Fitzgerald, ou mecanismos intertextuais que denotam antipatias – a de Bolaño por Octavio Paz, por exemplo. A diferença de nossos fogos – sejam eles os das tretas ou os das escrituras – é o instantâneo dos meios digitais, a rapidez do “eu estou aqui” não importa onde o aqui seja, e, sobretudo, a construção desse estar. É por meio de tal estrutura que se monta o sujeito contemporâneo, o seu lugar de fala, os seus meandros opinativos, o seu diálogo com o mundo.
Quando a discussão avança, todavia, as chances de trombo com situações impositivas, censuras e formas de apagamento do discurso são relevantes. O problema e a beleza dos fogos de artifício estão no seu alcance e extremos duvidáveis. No ensaio O real cobra o seu preço, a professora de Literatura Brasileira da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Ana Cristina Chiara, enuncia: “Ao contrário do que pensavam os modernistas (críticos e artistas) quando preconizavam a ruptura com as formas do passado, uma das forças da linguagem estética é o poder da ‘forma prisão’, ou seja, quando o artista se vê sem escolha e tem de se curvar a uma imposição da expressão: só pode dizer daquela forma”.
O tribunal
Em As mil e uma noites: Volume 2 – O desolado, o diretor português Miguel Gomes desenvolve esta sequência, persistente no pensamento como incômoda síntese do que é o contemporâneo: a Juíza, personagem central de uma das narrativas curtas do filme, lidera um tribunal do absurdo, espaço no qual desde ladrões de gado até comunidades orientais, executivos capitalistas e gênios da lâmpada são dispostos ao seu veredito. Cansada, a personagem tenta organizar o seu fórum ao ar livre, sem sucesso algum – todos falam ao mesmo tempo, apresentações de dança são realizadas, nenhum acusado leva muito a sério o que foi determinado. O caos instala-se em um espaço oscilante entre a força da ordem e certo vigor do teatro. A lei é performance, a performance é lei.
No ensaio A soberba do naufrágio: Poesia, elitismo, democracia, Marcos Siscar formula a ideia de que a obra artística e o artista têm ocupado, com frequência, o banco dos réus. Ato contínuo, a presença moderna do artista, do escritor, segundo o poeta, “é marcada justamente por um processo ou um julgamento a propósito da possibilidade de seu arbítrio político”. Siscar lembra o episódio em torno da instalação Bandeira branca, de Nuno Ramos, exposta na 29º Bienal de São Paulo (2010), que teve a sua desmontagem determinada pelo Ibama – anteriormente, o órgão havia autorizado a participação dos urubus vivos na obra – depois de matéria publicada na Folha de S.Paulo. Na literatura, um dos casos emblemáticos (e fiel ao substantivo banco dos réus) é o do escritor Ricardo Lísias.
Intimado a comparecer à sede da Polícia Federal paulistana, no ano passado, devido a uma denúncia anônima enviada à Justiça via Facebook, Lísias foi notificado por suposta falsificação e uso de documento público a partir da decisão judiciária ficcional na série Delegado Tobias. “Acho que esse arbítrio, de que fala o Siscar, é posto em xeque quando ocorre a eliminação do componente estético na obra literária. A despolitização é feita, sobretudo, pela afirmativa da realidade: isso é real, dizem muito dos leitores despolitizados, portanto não é literatura – e assim não tem eficácia dentro do que seriam as próprias possibilidades da literatura. Parece que boa parte desses julgamentos a que você se refere, cuida de dizer o que é literatura e o que não é. Como se isso fosse fácil e claro”, observa o escritor paulista.
Em A vista particular, seu último romance lançado pela Alfaguara, Lísias cria o personagem José de Arariboia, artista plástico cuja imagem é subvertida após a “exibição” de sua figura, nu, em vias públicas, acabar – eternizada – no Youtube. No Rio de Janeiro olímpico, o escritor coloca em pauta o caos e o espetáculo, a Juíza e os gênios da lâmpada, a lei e a performance. Sobre a importância das mídias digitais no processo de formação do contemporâneo e do escritor como agente social, Lísias analisa: “As redes sociais colocaram em questão os mecanismos formadores do establishment literário brasileiro, que era excludente e cheio de favorecimentos”.
Apesar dessa quebra de bloqueios citada por Lísias, formas extremas de apagamentos do discurso insistem em manifestar-se. Mulheres, negros, homossexuais ainda estão nas margens de um sistema – predominantemente e irritantemente – patriarcal, branco, heterossexual. De um sistema cujos fogos não queimam em harmonia. No início deste ano, Lívia Natália, poeta, acadêmica baiana, foi censurada por deputados e pelo governo de seu estado natal – ato racista e abusivo dos instrumentos de poder. O poema quadrilha (Maria não amava João/ Apenas idolatrava seus pés escuros./ Quando João morreu,/ assassinado pela PM,/ Maria guardou todos os sapatos.), integrante do projeto Poesias nas Ruas – aprovado pelo Fundo de Cultura do Estado da Bahia – foi retirado de circulação. “Nós vivemos em um contexto de liberdade ilusória, uma sensação errônea de que podemos falar, as redes sociais, os celulares plenamente conectados... Tudo o que nos pode libertar tem, em verdade, a força de sobrelevar as nossas liberdades individuais em favor do privilégio de certos grupos”, comenta a poeta.
O escritor Allan da Rosa – que assina a recente compilação de contos Reza da mãe (Editora Nós) – lembra que, na conjuntura de resistência, é necessário também anunciar, oferecer e criar possibilidades, situações, saídas. “Talvez, desnorteados com essa quebra brusca das bússolas que nos últimos anos começavam a entender o que é o Sul, nós, nas quebradas e terreiros, temos urgência de perguntas que contemplem tanto o mais antigo modelo quanto o mais novo. Para se organizar e lidar com a sanha que agora arrasta multidões em direção a discursos rasos ou bombásticos, precisamos cultivar a dúvida. Resistir, então, pede prumo cotidiano, exige que continuemos junto com a multidão, mesmo a que surge mais voraz ou anestesiada, e nela colocar o verbo para formigar”, reflete.
Em um cenário bipartido, no qual a autonomia vigiada acaba por dialogar, até certo ponto, com as formas de combate, Natália reforça o mérito das redes sociais como propulsora das relações entre os autores e a sociedade, impulsionando o artista à posição de agente social. “Nós, escritoras e escritores, somos sujeitos extremamente comuns, mas continuamos precisando desempenhar o papel de antenas da raça. No que tange à Literatura Negra, escrever é um poderoso gesto de força e resistência, escrever é lutar contra as balas que nos matam, escrever é reagir aos estupros e à exploração da mulher negra no mercado de trabalho. Os meios contemporâneos de comunicação reforçam o alcance de nossa voz e nos dá algo que nossos antepassados literários nunca pensaram: eles nos tiram do catre isolado de onde escrevemos, e nos devolvem ao mundo, pulsante, vivo”, conclui a baiana.
Para Laura Erber, professora da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e crítica literária, houve uma “reconstrução da esfera agonista do debate”. De acordo com Erber, o escritor brasileiro passou muito tempo produzindo uma imagem sedutora e inofensiva de si – uma figura pública à qual não interessava criar tensão com as instituições e com o status quo. “É o modelo do escritor profissional, inteligente, sofisticado e, ao mesmo tempo, bem-comportado. Felizmente, a crise política tornou essa figura totalmente ridícula e ajudou a revelar certo vazio intelectual e a incapacidade de pensar o momento político, mesmo por parte daqueles que faziam uma literatura voltada para temas que, supostamente, exigiriam essa compreensão. Há uma demanda de posicionamento, mas isso não significa que o escritor fará grandes saltos apenas por substituir uma temática por outra. É preciso conseguir pensar, simultaneamente, o político e a política da literatura. A ficção sempre foi um laboratório fundamental de produção de pensamento crítico e de reflexão sobre a natureza constitutiva do poder, e a literatura faz isso não tanto por adotar temas políticos, mas por ser capaz de penetrar nas contradições e na lógica perversa que nos rege e molda nossas formas de vida”, analisa.
A respeito dessa construção do eu que escreve, a escritora pernambucana Micheliny Verunschk lembra Margaret Atwood e o conceito do duplo – aquele monstro invisível, entidade que se destaca da figura que existe para além da escrita. “Atwood diz: ‘querer conhecer um escritor porque gosta do seu trabalho é como querer conhecer um pato porque gosta do seu patê’. Ora, para preparar e comer o patê do pato, diz, é preciso antes matá-lo. E quem o mata?, pergunta ela. Muito embora ela se refira às questões de criação literária e de recepção da obra, creio que é possível deslocar essa questão para o arbítrio político do escritor”, observa Verunschk.
Segundo a pernambucana, entre os tantos duplos, ou personas possíveis, no panorama sociopolítico o escritor invade o território do cidadão que o habita para validar seu discurso e defender pontos de vista, juízos, verdades relativas ou absolutas. “Penso que sempre que esses duplos se misturam, há uma certa promiscuidade nas relações. Mas não poderia ser de outro modo. Aquele indivíduo que existe para além da escrita sofre as crises econômicas, atrasa o aluguel, teme pelo futuro. E se equivoca. Não existe neutralidade. O escritor (ou o cidadão que fala do lugar do escritor) fala principalmente para além do seu tempo, é uma zarabatana que risca o ar em direção ao futuro. Isso não é pouco. Não deve ser pouco”, arremata.
A escritora e tradutora Ivone Benedetti, entretanto, ressalta: tal clarividência do escritor, porém, não se traduz em propostas práticas. “Estamos falando de um pensador, um crítico, não de um político ou líder. Na obra do escritor devem estar os elementos para a construção da contextualização dos fatos, para a criação dos elos entre os acontecimentos, e para o desejo de mudança, em vista da consciência de que a realidade que conhecemos não é a única possível, nem a melhor possível. Essa, entre outras, é a função do escritor”, pondera.
Benedetti, autora de Cabo de guerra (Boitempo Editorial) – ao lado de Aqui, no coração do inferno (Editora Patuá), de Verunschk, uma das obras de caráter político de maior destaque em 2016 – sugere que, no momento em que a resistência política, por meios formais, perde a eficácia e falha no seu processo de expansão para o alcance do diálogo, é o instante em que se estabelece uma crise. “Nesse estágio, a arte reflui, porque o potencial agente criador se pergunta: o quê, por quê, para quem criar? Sem achar resposta. Se falta pujança à arte, o artista pode ter dificuldade em ocupar o espaço político e social nos debates”, constata.
Diante desses diversos tipos de tribunais babélicos e da dança das cadeiras no banco dos réus, a representação do escritor e o seu envolvimento-pêndulo entre o público e o privado, no ambiente literário contemporâneo brasileiro, tornaram-se sinônimo frequente de confronto e deslocamento. Não se trata de conflitos diretos ou, necessariamente, brutos, tampouco de locomoções apenas geográficas. Existe um corpo que é, por inteiro, político. E existe um circuito que o engole e o devolve, todos os dias, em todos os espaços.
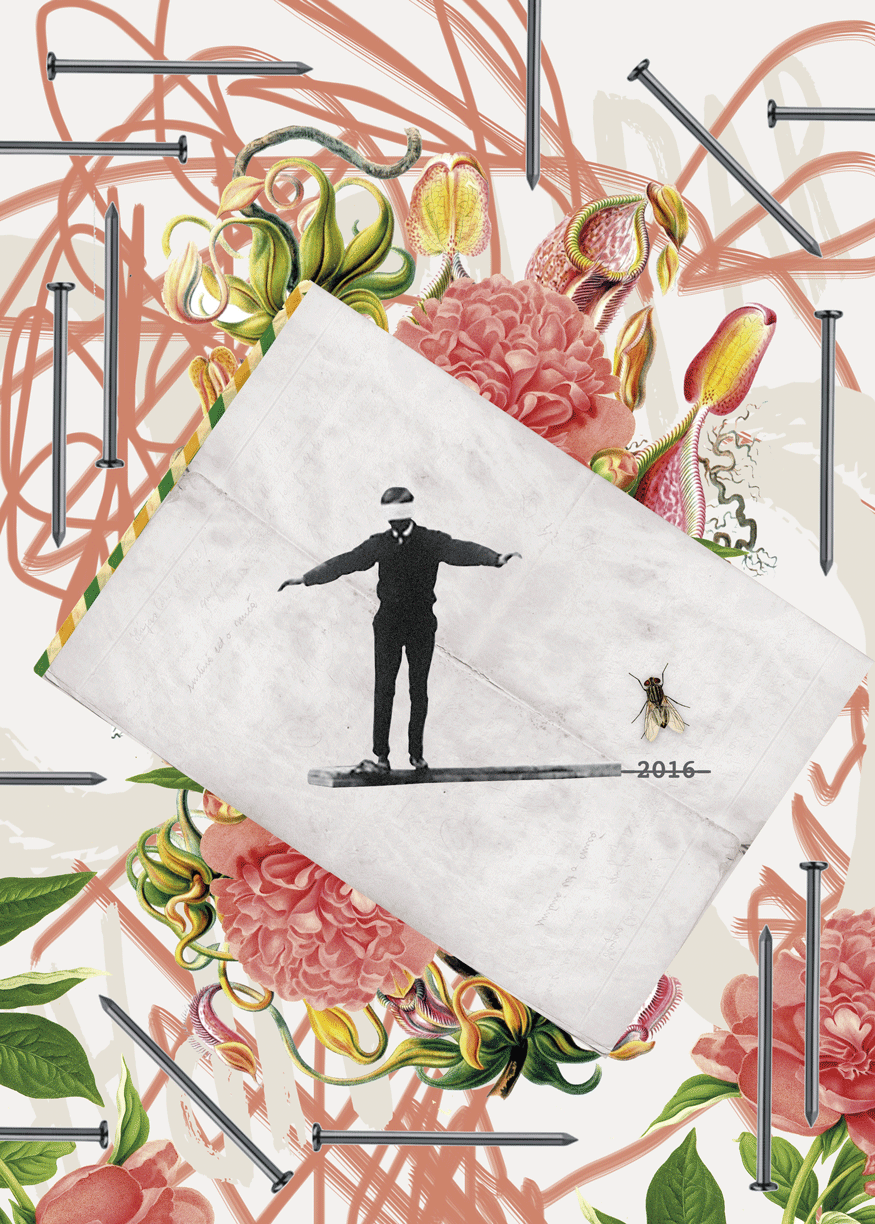
O corpo que cai
O contorno de um corpo político que atravessa o luto – período que é caracterizado, de acordo com Giorgio Agamben, por uma suspensão e uma alteração de todas as relações sociais – a violência, o desamparo, também o afeto de uma sociedade normativa, tornou-se vínculo firme de, pelo menos, as seguintes obras lançadas em 2016: Descobri que estava morto, João Paulo Cuenca; Meia-noite e vinte, Daniel Galera; Simpatia pelo demônio, Bernardo Carvalho; Homens Elegantes, Samir Machado de Machado; O tribunal de quinta-feira, Michael Laub; Como se estivéssemos em palimpsesto de putas, Elvira Vigna; A tradutora, Cristovão Tezza; Outros cantos, Maria Valéria Rezende; O marechal de costas, José Luiz Passos; Os visitantes, Bernardo Kucinski; O martelo, Adelaide Ivánova, O amor dos homens avulsos, Victor Heringer e os já citados – Aqui, no coração do inferno, Cabo de guerra, Reza da mãe, A visita particular.
Se Agamben aparece neste texto, suponho, de antemão, que estamos no cotidiano de um estado de exceção e, desta feita, observo: todos os sujeitos (personagens), narradores das ficções possíveis de nosso presente, tornam-se atentos, em determinada fase de seus discursos, à crise de legitimidade do poder. Em O circuito dos afetos – Corpos políticos, desamparo e o fim do indivíduo, Vladimir Safatle formula algumas linhas de força – psicanalíticas, literárias, sociais, filosóficas, históricas – para definir como se dá o corpo político, suas engrenagens e inferências. Para tal, utiliza-se da alegoria de Kafka, em O processo. Safatle destaca o trecho no qual Joseph K. entra no tribunal vazio, no domingo, e acaba por revirar alguns livros, encontrando uma gravura obscena e figuras de “corporeidade excessiva”. K., então, descobre que “o tribunal é muito maior do que o espaço no qual a lei se enuncia”.
O professor da Universidade de São Paulo (USP) e filósofo escreve: “Dessa forma, Kafka nos lembra como compreender o poder é uma questão de compreender seus modos de construção de corpos políticos, seus circuitos de afetos com regimes extensivos de implicação, assim como compreender o modelo de individualização que tais corpos produzem, a forma como ele nos implica. Se quisermos mudá-lo, será necessário começar por se perguntar como podemos ser afetados de outra forma, será necessário estar disposto a ser individualizado de outra maneira, a forçar a produção de outros circuitos”. Na pista de uma ressignificação desse corpo político, está Homens elegantes, de Samir Machado de Machado.
Ainda que, de acordo com escritor gaúcho, as suas intenções específicas, ao escrever o livro, não tenham um sentido político, a releitura histórica promovida pelo seu projeto literário declara o oposto. O tenente Érico Borges – meio português, meio brasileiro – chega à Londres com a incumbência de investigar os detalhes que atravessam a produção de um romance obsceno inglês bastante contrabandeado no Brasil. A partir dessa viagem, o narrador percorre episódios e tramas que retratam a cultura gay europeia do século XVIII e que dialogam, em paralelo, com o nosso tempo. “O livro surgiu de uma raiva e frustração pessoal por ter chegado até certo ponto de minha trajetória como leitor, sem ter encontrado narrativas com representações de personagens homossexuais que não estivessem condicionados à tragédia ou sofrimento. No fim das contas, se meu romance se tornou político foi porque, no contexto de uma sociedade homofóbica que se mobiliza constantemente para suprimir a visibilidade desse tipo de experiência, um homossexual ser apolítico seria irresponsável”, explica Samir.
Em Meia-noite e vinte, do também gaúcho Daniel Galera, a greve dos transportes públicos na capital gaúcha, violência, redes sociais e deploração da publicidade são algumas das temáticas que circundam os corpos políticos de Aurora, Antero, Emiliano. “Acredito que não há muita diferença entre corpo e mente, portanto entre corpo e pensamento, consciência. Pensar em conflitos para um personagem requer incluir o corpo. No livro, isso aparece de muitas formas. Aurora recorre a salas de chat para satisfazer desejos seus e dos outros, pois as relações presenciais são difíceis para ela devido a pressões profissionais, sociais – o machismo do ambiente acadêmico, por exemplo, é uma delas. Antero estende suas visões sobre estética publicitária para o terreno da masturbação através de uma abordagem obsessiva da pornografia online. Tudo isso tem a ver com a ideia de corpo político no sentido de que recusa a noção do corpo como mero receptáculo da mente, um veículo temporário ou substituível que contém apenas a consciência ou a identidade do indivíduo”, avalia Galera.
Do duelo de espadas bolaniano à agonia de uma literatura-bomba proferida por Barreto parece restar, no presente da literatura brasileira, o corpo físico, pronto para o ataque, nem sempre certo de suas defesas. “É com o corpo que os sujeitos terão que lidar e por ele que lutarão. Isto posto, é o corpo que serve como anteparo político. Quando não se tem mais nada, somente o corpo físico, é ele que controla e determina as nossas reações”, anuncia Lísias. Todos os fogos o fogo, todos os corpos o corpo. Que tombe o primeiro: não há temores em quedas livres, afinal, não importa quantos golpes estão por vir, o enfrentamento dos nossos músculos, ossos e juntas (literários, concretos) seguem a resistir, com bravura e afinco, às intempéries do ar.