
A cabeleira branca é um pontinho de luz aos holofotes. Tão miúda, que aprofunda a amplidão do palco. “Frágil”, você bem poderia rotular se não conhecesse a fama de Margaret Atwood. No escuro de um auditório, conheci-a em carne e osso. Fui a uma palestra rotineira de escola, com minha mania de me agasalhar demais. Transpirando entre adolescentes nova-iorquinos, enxerguei na figura septuagenária a astúcia que conhecia de minhas leituras: o sorriso que arma a próxima piada, a mão no microfone com o argumento certeiro. Os olhos vívidos, tão conhecidos dos retratos que pesquisei internet afora.
Na ocasião, Atwood autografava The heart goes last (em Portugal publicado pela Bertrand: O coração é o último a morrer, 2017). Ao final da palestra, desafiei a fila quilométrica de colegiais e consegui trocar algumas palavras, contei de meu doutorado. A escritora abanou a cabeça cacheada, naquele menear ambíguo entre aprovação e o “vamos logo que a fila precisa andar”. Me estendeu o volume. Pedi o autógrafo a um amigo no Brasil, seria um presente de aniversário. Transpus a porta do auditório. O vento gelado valida minha mania por agasalhos. Deparo-me com o azar do clichê de certos momentos da vida: chovia torrencialmente no Brooklyn.
Protegendo o volume autografado do aguaceiro, chapinhando na inútil busca pela estação correta de metrô (minha outra mania é errar o sentido da linha por distração), não poderia imaginar o futuro. Aquele livro que estudei voltaria aos mais vendidos. The handmaid’s tale, bem um título que ninguém entendia direito: O conto da aia. Que minha tese seria procurada e debatida. Que eu participaria de uma marcha com cinco milhões de pessoas — a Marcha das Mulheres, em janeiro de 2017 —, na qual era comum o cartaz Make Margaret Atwood fiction again! (aliás, agora tem a camiseta pronta para vender, se você quiser). O livro, uma vez mais, seria adaptado para uma série. Tão popular, que, vestir-se de aia virou fantasia barata de Halloween — imagino que, logo mais, de Carnaval. Olha, se me contassem tudo isso, eu não iria acreditar. Capaz até de acertar a estação de metrô.
O retorno da aia
Venhamos e convenhamos. Não é de hoje que Atwood faz sucesso. O conto da aia mesmo já esteve durante 23 semanas na lista dos mais vendidos do The New York Times. Chegou a ser traduzido para mais de 35 idiomas, foi adaptado para filme em 1990, recebeu programa de rádio na BBC. Até uma ópera foi feita! O perfil da autora (@MargaretAtwood) já figurou na lista das 10 melhores personalidades do Twitter elaborada pelo The Guardian em 2011.
A pergunta interessante então seria: qual o motivo da mais recente onda de sucesso de um livro publicado há mais de 30 anos? Inclusive, parece que Atwood não sairá tão cedo dos destaques das livrarias: além da primeira temporada da atual série The handmaid’s tale, adaptada pela Hulu (criada por Bruce Miller, 2017), vem aí Alias Grace, pela Netflix. Com 79 anos completos, a voz da escritora e sua obra ressoam uma vez mais. Até cotada para o Nobel ela foi.
Pudera! De certa maneira, suas previsões sobre a ascensão conservadora — especificamente presentes n’O conto da aia — parecem se concretizar. Presenciei a vitória do Trump. A eleição ocorreu em um dia de semana, ou seja, se não fossem os canais de notícia e as filas em certos locais do bairro, você não diria que se passava algo incomum em Nova York. Na minha visão de forasteira, procurava panfletos emporcalhando as ruas, bandeiras feitas com cabo de vassoura, o clima de feriado. Nada disso, sem rastros eleitoreiros. Mas não se engane: o rito sóbrio não diminui em nada a paixão das pessoas que o assistem. A apuração assisti de um bar iluminado de neon rosa, East Village for Hillary. Olha, antes mesmo de chegar ao final, você já via os votos do Trump se alastrando no centro do país, projetado nas telas gigantescas do bar. Uma senhora de cabelos revoltos e casaco elegante berrava contra os números: não é possível, não é possível! Nas mesas, não se falava muito e os pedidos por cerveja eram mais frequentes.
No dia seguinte, assisti a uma manifestação espontânea se formar na Union Square: grupos LGBTQI e feministas. Muitas pessoas trans com cartazes “abraços grátis”. Em uma terra em que o contato corporal é mais raro, não aguentei e abracei muita gente. Foi ali, no meio da primeira manifestação antiTrump, que li pela primeira vez o cartaz: por favor, façam Margaret Atwood voltar a ser ficção de novo! Decifrar os dizeres daquele cartaz me deu o choque da familiaridade. Afinal de contas, poucas obras traduzem tão bem o que assistíamos: o sentimento de impotência diante da eleição de um presidente abertamente misógino. O livro apresenta uma pedagogia da resignação — página a página, traz-nos um manual de como se acostumar a catástrofes, de como sobreviver a notícias inimagináveis, de como ler notícias assustadoras e seguir os dias. Lembro uma reflexão da protagonista:
Nenhuma esperança. Sei onde estou, e quem sou, e que dia é hoje. Esses são os testes, e estou sã. A sanidade é um bem valioso; eu a amealho e guardo escondida como as pessoas antigamente amealhavam e escondiam dinheiro. Economizo sanidade, de maneira a vir a ter o suficiente, quando chegar a hora.
O conto da aia parece nos trazer a imaginação de uma distopia pior do que poderiam imaginar pesadelos feministas, algo que faria o Trump parecer um garotinho inofensivo com seus caprichos. O livro nos narra um golpe de Estado nos atuais Estados Unidos que, na ficção, formará um novo país com o nome de Gilead. Ergue-se um governo regido por uma religião e por uma economia de guerra que extinguirá gradualmente os direitos das mulheres. Quando você lê a obra, parece que a catástrofe é outra, sabe? Mesmo que você sofra pela protagonista, que você tenha pena, a narrativa te apazigua um pouco. Como se você sofresse por outra pessoa, não por si. Mesmo que você se indigne. Parece que ler o livro te prepara para suportar tempos sombrios.
Assim, não me admira que no Brasil O conto da aia ressoe agora como talvez nunca antes. Em Brasília, a toada veio a galope: uma vez afastada a presidenta eleita Dilma Rousseff, instaura-se uma salada corrupto-conservadora que faria até a política do Brasil Império corar. Assistimos ao que era impensável. Não é possível, não é possível, quantas vezes não repetimos o mantra da senhora de cabelos revoltos ao assistir a Trump triunfante no telão do bar. Nas notícias brasileiras, assistimos a empresários aplaudindo trabalho escravo, ao governo convocando a “caça ao ouro” em área de conservação ambiental, políticos clamando por educação religiosa obrigatória, ao mesmo tempo em que são atacadas certas religiões, como o candomblé e a umbanda — enfim, nem me estenderei. Você sabe. Tudo estava previsto naquele gesto profético no logo da Copa de 2014: o sujeito com a mão espalmada de vergonha na cara.
O magnetismo do livro reside nisso, O conto da aia nos ajuda a refletir dentro das bases do que, até então, era inimaginável: o desmonte de todas as garantias arduamente batalhadas por uma humanidade mais justa, anulação de liberdades individuais mínimas. Em Gilead, emerge uma outra face dos Estados Unidos: com a ordem capitalista firme, mantêm-se a produção de bens e o consumo (mesmo que cada vez mais haja contaminação alimentar); a guerra e a força policial são ferrenhas, garantindo que não haja perturbações na ordem imposta, nada democrática; a religião cuida de fornecer os bons costumes e balizar o que seja comportamento aceitável; o patriarcado e a obediência aos estatutos de classe social douram o restante da pílula.
No livro, conheceremos um núcleo familiar que muita gente no Brasil invejaria: chefia a família um homem rico, Fred. Influente, possui um motorista, o qual também possui nome próprio, Nick. As mulheres agora não possuem direito a ter dinheiro, parece que nem mesmo nome próprio. Empregadas domésticas são Martas (ou Coras ou Ritas), não possuem outra vida além do trabalho recluso a cozinhar, espanar móveis, lavar roupa e trajar o uniforme verde. A Esposa de Fred, antes uma cantora gospel e a favor de valores “tradicionais” para mulheres, não possui agora outra saída a não ser suportar a vida que cavou — inferniza outras mulheres, é obrigada a se portar com seu traje invariavelmente azul, sem sua fama, sem palco, sem voz neste mundo em que mulheres não passam de detalhes.
A protagonista possui a única ocupação que é fictícia: é uma “aia”. As aias são uma classe de mulheres férteis na distopia em que bebês saudáveis são raros. Em roupas vermelhas, trancada em um quarto durante boa parte da narrativa, sua tarefa é engravidar do Comandante e entregar à Esposa uma criança. Um truque de bastidor, uma espécie de barriga de aluguel no confinamento, para que externamente se complete o símbolo da felicidade familiar.
É esta mulher quem conta a história. Uma norte-americana com seus 33 anos. Dela, nada sabemos, nem mesmo o nome. Uma mulher e sua mania de perder. Quando houve o golpe de Estado que originou o país Gilead, perdera a filha, perdera o marido. Perdera o direito a ter dinheiro. Perdera o direito ao próprio corpo — seu corpo passaria a ser regido então por leis religiosas, confinada pela má sorte de ser das raras mulheres férteis que sobraram no país. Sofrerá mensalmente uma cópula regida por um rito. O homem rico, Fred, um Comandante, a violentará, deitando a vítima no colo da própria Esposa. As Martas e o motorista Nick rezam para que engravide logo. Se o bebê nascer, a criança permanecerá na casa. A aia, não: se der à luz uma criança saudável, se despedirá daquelas pessoas e irá ser confinada em outra residência para prestar seus estranhos serviços, perfazendo seu destino único como mulher ali, o destino biológico da maternidade.
A distopia se perfaz com requinte: não avistamos nenhum movimento coletivo amplo que se oponha ao regime em Gilead. Somente sussurros e segredos medrosos diante da polícia cruel. A protagonista tampouco é uma heroína destemida. Diante da tragédia que abateu sua vida, limita-se a fazer compras, a descrever o espaço doméstico, a relembrar o passado como se a década de 1980 fosse gloriosa. Representante típica da classe média, teme a repressão policial — ao ver a polícia agarrar um homem e atirá-lo numa caminhonete, logo pensa, “O que sinto é alívio. Não fui eu”.
Atwood tem a sagacidade, inclusive, de prever que, quando a catástrofe se abate nos Estados Unidos, a população não reage, temendo algo pior, sem enxergar que o pior era exatamente o que assistiam. Cito na íntegra o trecho, na tradução de Ana Deiró, publicada pela editora Rocco:
Foi depois da catástrofe, quando mataram a tiros o presidente e metralharam o Congresso, e o Exército declarou estado de emergência. Na época, atribuíram a culpa aos fanáticos islâmicos.
Mantenham a calma, diziam na televisão. Tudo está sob controle.
Fiquei atordoada. Todo mundo ficou, sei disso.
Era difícil de acreditar. O governo inteiro massacrado daquela maneira. Como conseguiram entrar, como isso aconteceu?
Foi então que suspenderam a Constituição. Disseram que seria temporário. Não houve sequer um tumulto nas ruas. As pessoas- ficavam em casa à noite, assistindo à televisão, em busca de alguma direção. Não havia mais um inimigo que se pudesse identificar.
Entretanto, o livro possui suas brechas utópicas. Se não, ninguém aguentaria ler, não é mesmo? Sem adiantar a trama, cito exemplos: Moira, amiga corajosa da protagonista de velhos tempos, faz o que pode para se rebelar. Nick, o motorista, parece mostrar uma solidariedade com o caso da protagonista. Será que existiria um movimento interno contrário a Gilead? E há a óbvia possibilidade de fuga! Deve existir um outro lugar. Uma nação em que se respeitem as liberdades mínimas das pessoas. Assim, tomo de empréstimo o argumento da Renata Corrêa, roteirista sagaz: o Canadá!
No imaginário da Era Trump, o Canadá de Trudeau parece um maravilhoso lugar das liberdades individuais. Renata Corrêa ainda lembra que não é à toa que em Logan (dir. James Mangold, 2017), saga de Wolverine, o imaginário do refúgio canadense está presente: as crianças mutantes procuram um lugar que se chama “Éden”. Para alcançar o suposto paraíso, precisam transpor uma fronteira e chegar a uma floresta de coníferas. Tanto no livro de Atwood quanto no seriado, a referência ao Canadá como lugar de asilo é recorrente. No caso brasileiro, talvez possamos traçar o paralelo com as piadinhas na internet sobre o Uruguai. Nosso vizinho no Cone Sul ficou conhecido internacionalmente pelas autorizações, dentro de marcos normativos, da produção e venda de cannabis como estratégia de luta contra o narcotráfico, além de ser país em que há previsão ao aborto legal, como ocorre na Alemanha, Estados Unidos, Portugal e, obviamente, no Canadá.
O que dizer de tudo isso? Quando a distopia é profunda, as pessoas só conseguem imaginar o mínimo: invejar ali a vida no país vizinho, pensar no retorno a direitos que já existiam, glorificar o passado. Nada de pensar em novas utopias, como divisão de renda, igualdade, novas formas de convívio. Nada de pensar em um outro mundo possível. A distopia possui o condão de mostrar a ingenuidade de nossos sonhos em épocas mais felizes. Um efeito bastante amargo da leitura. Ainda bem que há outras literaturas para nos retirar desse arco depressivo, que acaba por reafirmar a falta de soluções ao momento atual, que nos reforça a imobilidade, que nos reforça a paralisia.
Margaret Atwood, que não é boba, publica, no século XXI, a trilogia MaddAddam: Oryx e Crake (2003), O ano do dilúvio (2009) e MaddAddam (2013, ainda sem tradução ao português). A trilogia trata de catástrofes, mas por um viés invertido: como refazer a vida após um desastre de proporções planetárias? Aponta saídas por vias interessantes, passando pela coletivista e ambientalista. Talvez a moda pela autora devesse espiar o que a enviada diretamente do Canadá anda escrevendo nos últimos tempos.
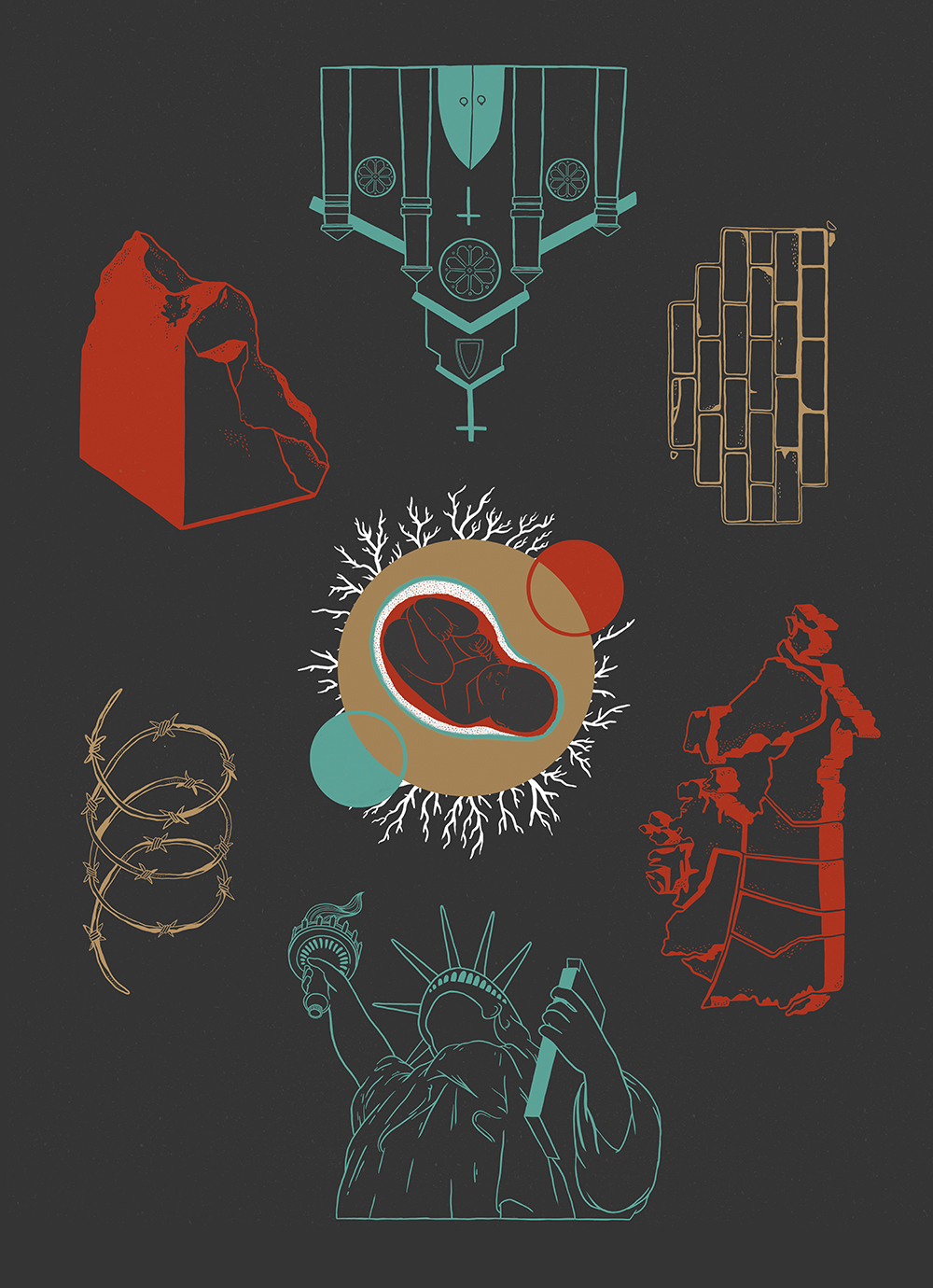
Esforço e astúcia
Margaret Eleanor Atwood é uma escritora septuagenária profícua, em plena atividade há 56 anos. Sua estreia, como a de tantas mulheres escritoras, deu-se com um livrinho lançado de forma independente pela Hawkshead Press. Double Persephone (Perséfone dupla) é descrito como uma plaquete de cerca de 16 páginas. O livrinho traz ilustrações feitas pela própria Atwood, então uma jovem de 22 anos. Na melhor acepção do lema faça você mesmo, ela mesma encadernou, parece que inicialmente com cola e depois com grampos. O número alegado de cópias varia entre 230 e 250 exemplares. Como tantas escritoras, vendeu seus próprios primeiros poemas por si mesma, participando de leituras e saraus. Publicará outros cinco livros de poesia até conseguir lançar seu primeiro romance, The edible woman (A mulher comestível, 1969).
Como tantas, nada veio de graça. Da máquina de escrever ao computador, batalhou letra a letra, página a página pelo reconhecimento em cinco décadas ininterruptas de produção: roteiros para rádio e televisão, além de peças de teatro; obras sobre criação literária (indico Negociando com os mortos: a escritora escreve sobre seus escritos, Rocco, 2004) e sobre literatura canadense, Survival: a thematic guide to canadian literature; trabalhou como editora, publicando antologias de contos, além de escrever neste gênero (um exemplo é o Dançarinas, Rocco, 2003); escreveu obras infantis, como Wandering Wenda; sem esquecer dos mais de 15 livros de poesia. Embora a poesia e os contos de Atwood recebam muitos estudos, leituras e traduções, foram as narrativas longas que conquistaram seu público ao redor do planeta.
Escorpiana, a escritora soube manejar a carreira literária com astúcia, esgueirando-se de rótulos que supostamente poderiam prejudicar sua obra. Nos anos 1970, declara-se “protofeminista”, embora a crítica logo tenha se encarregado de carimbar seu O conto da aia como “feminista”. Nos anos 2000, ainda encasqueta com o rótulo “ficção científica”, evocando o charmoso “ficção especulativa”, embora não haja dúvida de sua filiação à ficção científica: Oryx e Crake se passa em cenários pós-industriais após uma catástrofe planetária, com direito até a animais transgênicos; sem contar que, em 1987, recebeu o Prêmio Arthur C. Clarke exatamente na categoria “melhor livro de ficção científica” pelo O conto da aia.
Por fim, lembremos: Margaret Atwood escreve do Canadá. Um ponto de observação privilegiado a respeito do modo de vida estaduniense, tema que também permeia sua obra. Para dar um exemplo, embora haja entrevistas da autora alegando que a vestimenta de sua aia, Offred, tenha sido inspirada em um xador no Afeganistão, a leitura a contrapelo d’O conto da aia aponta para um lugar muito mais familiar à escritora do que um mercado em Cabul: os EUA na Era Reagan, com eleições impulsionadas pela Moral Majority. Este movimento religioso, contrário aos “avanços sexuais”, não apenas apoiou a reeleição de Ronald Reagan em 1984 como obteve cargos e influências durante o governo, com plataformas contrárias ao aborto e a favor do ensino religioso. Observe que o romance é publicado logo após a reeleição, em 1985, sendo notório o hábito de Atwood de recortar notícias a respeito de ameaças aos direitos das mulheres. Ali da vizinhança canadense, a escritora espiava de sua janela os hábitos da casa ao lado.
A impensável ascensão da mulher no século XX
O que explica o sucesso de Margaret Atwood? Poderíamos dizer que se aproveitou inicialmente de uma brecha no mercado editorial de língua inglesa nos anos 1970: a ânsia por romances que acomodassem materiais provenientes das novas questões femininas e feministas.
Eric Hobsbawm e Nancy Fraser observam fatos semelhantes a respeito das gerações de mulheres nascidas no pós-guerra, uma ruptura no estado de coisas que existia até então. O historiador, em seu A era dos extremos: o breve século XX, diria que, “antes da Segunda Guerra, a sucessão de qualquer mulher à liderança de qualquer república, em quaisquer circunstâncias, teria sido encarada como politicamente impensável”. Cita que, nos EUA, mulheres casadas que trabalhavam fora de casa eram somente 14% do total feminino em 1940, percentual que duplicará entre 1940 e 1970. Nancy Fraser aponta que, nos anos de 1960 a 1980, período da segunda onda feminista, ocorreu “um monumental fenômeno social que marcou uma época”, no qual as mulheres apontam as injustiças localizadas na família, nas tradições culturais, na sociedade civil e na vida cotidiana — o texto de referência é o seu O feminismo, o capitalismo e a astúcia da história.
Dessa maneira, a impensável ascensão das mulheres no século XX criou uma questão literária: sim, elas ansiavam por uma literatura que comentasse, finalmente, tantas mudanças! São leitoras ávidas e exigentes. Margaret Atwood irá brilhar, aproveitando-se de suas qualidades de romancista: uma prosa bem-estruturada, com conhecimentos acadêmicos, acalmando qualquer anseio beletrista. De quebra, um humor sarcástico que alivia o estômago de quem lê seus dramas.
Poucas escritoras traduziram tão bem os anseios daquelas mulheres brancas de classe média da Austrália, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Com anseios bem diferentes das compatriotas imigrantes, latinas, negras, que estiveram esmagadas entre o trabalho duro e o racismo bem antes das guerras mundiais. Aquela geração de mulheres brancas planejava fazer cursos universitários e experimentava com entusiasmo as roupas de trabalhar fora, trajes que suas avós raramente vestiram. Sem serem necessariamente feministas, viveram a adolescência em um período de liberação sexual, sabendo usar a pílula anticoncepcional, embora tivessem ainda que se curvar a padrões de beleza, caprichos masculinos, e enfrentar o tema espinhoso do casamento. Orgulhosas do próprio salário, embora sem a garantia da tão prometida equiparação com os homens.
Publicado em 1979, Madame Oráculo (Rocco, 2008) é um exemplo de romance que lida com esses materiais novos em diálogo com sua geração de leitoras. Gira em torno de casamento, corpo e conflito entre mulheres. A protagonista, Joan Foster, guarda a memória de ter sido uma garota obesa, o que desencadeia problemas de relacionamento com outras mulheres — com a mãe e com as maldosas amiguinhas de escola. Adulta, esconde do marido depressivo, “pretenso intelectual perdido entre as teorias sociais e políticas”, a ocupação que lhe dá reconhecimento: é uma escritora. Não bastasse o marido chato, este reconhecimento surge dentro de um paradoxo, somente sob o pseudônimo Louisa K. Delacourt. O paradoxo comenta as dificuldades de se afirmar escritora? A protagonista não quer admitir que escreve romances góticos derramados de banca de jornal e que possui tendências suicidas. Atwood leva a narrativa de forma inteligente e, com humor, trabalha o contraste entre a situação patética da narradora e seus desejos românticos, ainda à espera de um suposto amante heroico. No fim, é visível a tragédia sem o verdadeiramente trágico. Talvez a maior desgraça seja mesmo a plena consciência de Joan Foster diante de sua situação, não conseguindo vislumbrar nenhuma saída possível para sua infelicidade. Um dilema que a verve de Atwood tempera para soar mais engraçado do que sombrio. O humor, esta ferramenta preciosa que nos permite tocar em temas difíceis, o pano de prato que nos permite retirar assadeiras recém-saídas do forno quente.

Feminismos e questão racial
A obra O conto da aia é um dos destaques da trajetória de Atwood, pois incorpora muitos pontos da agenda feminista da segunda onda; entretanto, dentro do melhor espírito do backlash.
O conceito de backlash foi desenvolvido por Susan Faludi: uma reação conservadora às novas conquistas das mulheres. Nos anos 1980, a ascensão das mulheres começou a ser questionada a partir de uma falácia: a emancipação seria o motivo da infelicidade feminina? A ofensiva aos direitos passou pelos subterrâneos da cultura: propagada por pessoas da área médica, intelectuais, articulistas de jornais e televisão. A crítica Coral Ann Howells afirma que o livro traz um panorama do movimento feminista norte-americano. No romance, há duas personagens estereótipos de feministas que confirmam a observação: a mãe da protagonista, algo como uma militante da antiga esquerda comunista, e a amiga lésbica Moira, que estaria mais alinhada a um feminismo LGBTQI dos anos 1980. No melhor espírito do backlash, a narradora sente vergonha e teme pelas duas em momentos diferentes.
Curiosamente, o romance comenta um episódio das “tretas feministas” dos anos 1980: as sex wars. Fora da ficção, no embate, de um lado, Andrea Dworkin, Catharine MacKinnon e outras almejavam leis que restringissem a pornografia. De outro lado, Ellen Willis, Gayle Rubin e outras entendiam que este movimento antipornografia ocultava um julgamento moral a práticas sexuais fora do padrão heteronormativo. Na ficção, o embate é tematizado quando a mãe da narradora e um grupo de mulheres se mostram animados queimando livros e revistas pornográficas, ainda não entendendo que assim ajudariam a rebocar alguns tijolos pró-Gilead.
Embora Atwood incorpore temas feministas em O conto da aia, muito se criticou a autora sobre o apagamento de questões que vão além dos problemas das mulheres brancas de classe média. Para dar um exemplo e ficarmos dentro da literatura estadunidense, na época em que o romance foi lançado (1985), autoras negras chegaram a um reconhecimento inédito após a ocorrência de décadas de luta pelos Direitos Civis: A cor púrpura, de Alice Walker estava premiadíssimo com o Pulitzer e o Prêmio Nacional de Ficção (1983), Octavia Butler era referência na ficção científica e Toni Morrison já havia publicado quatro romances, incluindo sua estreia, O olho mais azul (1970). Em O conto da aia, a questão racial foi afastada com um artifício da trama, reduzindo-se a problemática da obra somente à questão de gênero.
Assim, não me espanta que a série da Hulu, em 2017, tenha incorporado pessoas negras ao elenco, como medida para ampliar a representatividade e evitar as críticas esperadas: Samira Wiley atua como Moira, Fagbenle Bankole como Luke e Jordana Blake como filha da protagonista. A estratégia de inclusão não escapou de críticas: embora traga outros rostos à televisão, a inserção foi feita sem levar em conta a complexidade que a mudança súbita traria ao roteiro. Então Gilead acabaria por representar uma sociedade racialmente integrada? Seria então agora uma utopia, de certa maneira? O que teria acontecido para os EUA evoluírem assim? Como esta revolução fora de precedentes não trouxe nenhum impacto à narrativa? Seria Moira tão combativa, se habitasse agora uma sociedade sem racismo? A cena da chegada de Luke ao Canadá não seria alterada, considerando o dado histórico de que o país fora refúgio de pessoas escravizadas que conseguiram escapar? Como sou uma mulher branca, gostaria de recomendar a leitura do artigo de Angelica Jade Bastién para revista eletrônica Vulture, de nome In its first season, The handmaid’s tale’s greatest failing is how it handles race.
A respeito de outras diferenças entre a série e o livro: na série, Offred é mais simpática e corajosa, pois assume papéis que na obra tinham sido relegados a sua mãe, por exemplo, protestar contra a mudança de regime. A respeito do espaço, na série aparecem muitos planos abertos: você consegue ver a cidade, o rio, supermercados. No romance, o espaço da narrativa privilegia o âmbito doméstico e o confinamento do quarto, dentro da larga tradição de romances de língua inglesa que representam mulheres, de Jane Eyre a Mrs. Dalloway.
A melhor diferença: na série há ação! Finalmente! Na tela, a possibilidade de alcançar uma fuga dita a trama. A urgência em não se submeter ao estado de coisas. Essa possibilidade mantém a linha do suspense tensa nos episódios e faz com que queiramos saber logo o que acontecerá ao final. Diferentemente, a espera é um dos temas no livro: “Há tempo de sobra. Esta é uma das coisas para as quais não estava preparada — a quantidade de tempo não preenchido, o longo parêntese de nada.” Tudo é espera, adia-se qualquer salvação, os dias transcorrem um após o outro, uma solução estética que torna a resignação da protagonista suportável.
Futuros e literaturas possíveis
Para distopias como esta — que nos dá um frio na espinha e nos alimenta a resignação que ronda os dias atuais, que não oferece muitas saídas, brechas ou respiros — há alguns antídotos imaginativos. Além de trazer a crítica dos tempos, como ocorre em O conto da aia, um dos papéis da literatura é manter a chama imaginativa acesa. Sim, o antídoto é balancearmos leituras distópicas com ficções especulativas, termo que Margaret Atwood utiliza para nomear a ficção científica que produz.
A capacidade humana de especular é uma dádiva em tempos sombrios. Permite-nos conjecturar, pesquisar, bisbilhotar; devolve-nos a realidade refletida em um espelho com regras que criamos. Em um exemplo literário que também parte das questões de gênero: A mão esquerda da escuridão, livro de Ursula Le Guin, se passa no planeta Gethen. Este mundo possui habitantes ambissexuais, ou seja, que não apresentam divisão biológica entre sexos. Ursula Le Guin nos pede o inverso de Atwood. No lugar de pensar na divisão radical entre homens e mulheres, solicita-nos: como seria extirpar a categoria de gênero da humanidade? Você conseguiria pensar em um mundo em que a categoria de gênero não exista? A resposta correta é: não importa. Mesmo que você não consiga chegar a idealizar este mundo, o simples exercício imaginativo te retira das únicas alternativas que parecem existir nos dias de hoje. Bisbilhotar possibilidades. O exercício imaginativo retira as amarras do pensamento único, um treino criativo que não leva a sério placas como “não há outro caminho”.
Não é à toa que Margaret Atwood publica, no século XXI, sua trilogia MaddAddam, já mencionada, com livros que nos pedem o inverso: diante da catástrofe absoluta, como refazer a vida? Em quais bases? Coletivas, ecologistas?
Termino piscando o olho a Atwood: poderíamos olhar com mais generosidade o que dizem nossas ficções especulativas, fantásticas e utópicas no Brasil, não? Em meio a um Congresso com leis irreais, após assistirmos a uma catástrofe de magnitude incalculável em Mariana (MG) — em que se terminou com a existência de um rio inteiro —, como será possível insistir no realismo como principal forma de expressão literária nacional? Qual a contribuição imaginativa que a literatura além da realista poderia aportar às terras brasileiras? Até por isso, novas vozes na literatura são bem-vindas e necessárias.
Sobre a nossa aia glorificada em 2017, talvez a pergunta mais interessante para o Ano-Novo seja: você consegue imaginar o que acontecerá com ela, depois que atravessar o pórtico, a porta daquela van?
***
Agradeço ao Hugo Maciel e à Katia Marchese pela primeira leitura deste texto. A bibliografia completa de Atwood (em inglês) pode ser encontrada no site da autora: http://margaretatwood.ca