
Há muito a crítica literária deixou de ser a mediadora por excelência da relação entre o texto e o leitor. Confinada no meio acadêmico e dirigida ao público universitário, viu-se substituída pelo jornalismo cultural que, na grande imprensa e mesmo em suplementos especializados, criou formas discursivas apropriadas para a divulgação do livro a uma camada mais ampla de leitores, literários ou não.
Esse deslocamento propiciou a formação de um horizonte de expectativa em que modos de dizer e formas de inteligibilidade se acomodaram em nichos específicos de recepção, por obra do mercado editorial, que se viu, então, obrigado a preenchê-los segundo seus próprios interesses. Trata-se de um regime de produção e recepção textual, a um só tempo expandido e fragmentado, tendo em vista a heterogeneidade do produto-livro que é oferecido ao consumidor-leitor, desdobrado em múltiplas posições nesse circuito.
A legitimidade do texto, antes resultado do julgamento crítico segundo parâmetros compartilhados por uma comunidade específica, passa a depender prioritariamente da capacidade de atender à flutuação convergente do gosto, da mídia e do mercado. À primeira vista pode parecer que o valor – literário ou artístico – esteja atrelado a uma camisa de força ou ao beco sem saída de uma imposição mercadológica, mas a mobilidade incessante desse sistema torna qualquer avaliação que não leve em conta esses dados de certa forma destinada ao fracasso.
Num espaço assim configurado, a margem de manobra do escritor é, ao contrário, maior do que antes, pois está aberta ao inespecífico que, de certa maneira, passa a compor a equação, que só na aparência é paradoxal: quanto mais de acordo com o horizonte de expectativa – em constante transformação –, maior a liberdade de circulação do texto, agora aberto, além do mais, à sua inscrição nos meios digitais. A salutar anomia aí vigente desfaz de uma vez por todas a posição antes fixa de autoria, instaurando novas possibilidades de criação artística de uma comunidade heterogênea e aleatória de autores e leitores.
Por sua vez, a voga dos estudos culturais nos anos 1990, a partir da querela com os estudos literários tradicionais, trouxe para o debate algumas questões que, longe de restringirem os critérios de avaliação, trouxeram novos elementos a serem considerados. Os qualificativos que então emergiram ou se afirmaram para identificar a procedência do texto literário – afrodescendente, indígena, feminino, gay, por exemplo – relativizam, por assim dizer, sua autonomia, contribuindo para colocar em xeque a noção antes bem-definida de objeto literário (moderno).
>> Crítica literária e formas massivas de acessar Literatura, por Eneida Maria de Souza
>> A pós crítica e o que vem depois dela, por Wander Melo Miranda
>> Do que tem tratado a crítica acadêmica? - uma pesquisa de Regina Dalcastagnè
A chamada pós-autonomia da literatura, defendida principalmente por Josefina Ludmer, permitiu avançar na questão, mas não a resolveu de todo. Não basta dizer que tudo é literário ou ficcional – modalidade de anulação ou relativização máxima do valor estético – para que se possa legitimar coletivos de enunciação que estão por toda parte nas redes sociais, nos blogs, sites e comunidades que discutem, de forma não canônica, livros e textos. A “partilha do sensível” que aí se dá, para usar livremente a expressão de Jacques Rancière, produz linhas de fratura ou de incorporação/desincorporação de sentidos comunitários, nos quais se afirma muito mais a diferença do que a igualdade dos envolvidos na atividade de leitura.
A transformação do crítico literário em qualquer um na contemporaneidade se dá em ambientes translocais, resultantes de redes digitais e processos geográficos – ou de significação – pós-nacionais. Assim é que as “disjunções nos vínculos entre espaço, lugar, cidadania e nacionalidade”, nas palavras de Arjun Appadurai, implicam, no nosso caso, em formas de legitimação móveis e sujeitas a um arbítrio generalizado, não mais dependente da relação entre pares como na academia ou do julgamento soberano do crítico de rodapé dos jornais, como ocorria décadas atrás.
Talvez por isso o texto contemporâneo que se quer literário, no sentido forte – ou excludente – do termo, é autorreferencial, como forma de distinção ou sobrevivência. Livros recentes de Nuno Ramos e Silviano Santiago, Mario Bellatin e César Aira produzem interrogações radicais sobre o ato de escrever, tomado como um gesto de despersonalização no qual se pluraliza o dom e a obrigação para com o outro, numa comunidade de autores, textos e leitores que se expõem mutuamente: são corpos bioficcionais, ou seja, “compartilham suas condições impróprias e impessoais”, conforme Guilherme Zubaran. São textos movidos pela descrença no sujeito, na representação e na identidade. Por isso também são transposições de fronteiras, rupturas com maneiras anteriores de ver, sentir e dizer; são uma sorte de instalação – “espetáculo de realidade”, no dizer de Reinaldo Laddaga, que a escrita performa mais para ser experimentada do que julgada e no qual papéis e identidades do autor e do leitor trocam incessantemente de lugar.
VALOR RELACIONAL
A quem, na verdade, um texto é endereçado? A quem deve sua visibilidade ou seu “valor de exposição”? Quem é responsável, afinal, por sua potência de significação? Dois textos muito diferentes – e semelhantes em alguns aspectos – podem nos apontar caminhos: Meu tio o Iauaretê, de Guimarães Rosa, publicado pela primeira vez em 1961; Rolézim, de Geovani Martins, um dos contos de O sol na cabeça, de 2018. Em ambos, a estranheza do título lança desde logo um sinal de alerta ao leitor ansioso por traduzi-los para sua língua de uso: num, a palavra em língua tupi, vinda do interior do país; no outro, gíria de morro carioca, com um inesperado sufixo dialetal mineiro.
No texto de Guimarães Rosa, Tonho Tigreiro, em sua tapera, conta para um visitante, interlocutor silencioso, sua experiência como caçador de onças. A narrativa vai num crescendo de expectativa até a transformação final do onceiro em onça e sua morte pelo visitante, numa inversão de papeis (caçador/caçado) que, desde o início, mimetiza a situação enunciativa aberta ao leitor tornado ouvinte do onceiro: “– Hum? Eh-eh... É. Nhor sim. Ã-hã, quer entrar, pode entrar...”. A entrada do leitor na história se dá pela partilha de uma língua híbrida, na qual sintaxe e termos indígenas parecem estar ali para repelir/atrair o leitor ou aumentar a carga de mistério que a história encerra.
Não é o caso aqui de fazer uma análise detalhada do conto, já objeto das mais variadas leituras críticas, mas destacar a oposição simétrica e invertida de narrador/visitante e leitor/ouvinte, facultada pela oralidade ficcionalizada, que perfaz uma situação exemplar de produção e recepção textual comunitária e desfaz a separação entre dentro e fora do texto. Como numa instalação, somos chamados a participar – como o visitante silencioso – mais do que de uma situação narrativa, de uma língua outra, estranha ao leitor moderno e que, no entanto, sobrevive em fragmentos, em restos que se disseminam pela história contada, em parte intraduzível para o leitor, seja comum ou erudito. A “desierarquização” da leitura cumpre-se, paradoxalmente, pelo hermetismo da elaboração textual.
Não é muito diferente a situação narrativa de Rolézim, no que pese a grande diferença em relação ao Iauaretê. O texto dirige-se a um “tu” não identificado – “Pra tu ter uma ideia, até o vento que vinha do ventilador era quente, que nem o bafo do capeta” – para quem o narrador conta uma ida à praia com os amigos. Aqui também se exige a partilha de um código linguístico outro e se propõe uma situação enunciativa dialógica, embora o interlocutor permaneça ausente. Esse lugar vazio – pleno de significações – presume a superação da posição excluído/excludente, pela sua reversão simétrica, na verdade o apelo maior do conto. O grande interesse pelo livro de estreia do jovem escritor, com tradução vendida para mais de oito países, pode ter surgido não só pela origem periférica do autor, mas pela matéria narrada, aparentemente “macumba pra turista”.
A sofisticação e pertinência no uso escrito da oralidade desfaz a impressão desfavorável. O narrador está sempre com pressa, como se vivesse fugindo – “larguei o chinelo lá mermo e saí voado” –, o que imprime ao texto um ritmo vertiginoso, que diz muito da urgência de comunicação singular de uma vivência violenta e excludente, que a mídia diariamente banaliza ao extremo. A língua local do conto adquire, assim, legitimidade literária, por efeito de superposição à língua geral, deslocada, desconstruída e disseminada como resto sobrevivente no novo registro. Autor e leitor se tornam entidades reversíveis.
Ao dramatizarem situações narrativas que colocam em questão a própria condição de sua existência, os dois textos se pautam pela ambivalência, sendo que o escrito de Geovani Martins se insere no universo daqueles “empenhados em montar cenas nas quais exibem, em condições estilizadas, objetos e processos dos quais é difícil dizer se são naturais ou artificiais, simulados ou reais”, segundo Reinaldo Laddaga, – são realidadeficção, para usar o neologismo criado por Josefina Ludmer. Apontam, assim, para uma nova espécie de literatura, na qual público e privado, autor e personagem, vida e obra tornam-se indiscerníveis e indissociáveis.
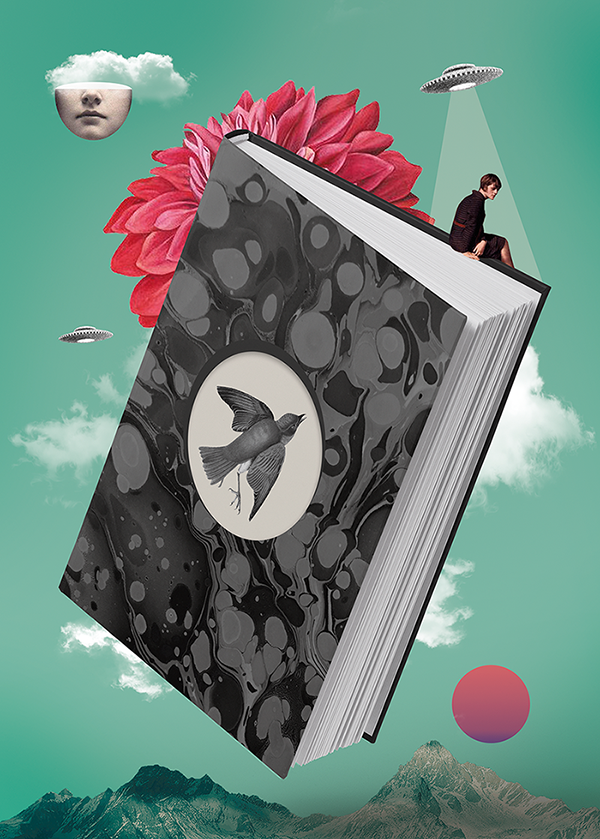
Vê-se que a questão do valor continua a ser uma questão relacional, comparativa. Requer o domínio de um repertório de lugares múltiplos e diferenciados de enunciação para que se possam constituir parâmetros de avaliação mais condizentes com as entradas que se oferecem ao leitor no circuito narrativo, também elas multifacetadas. Se o texto moderno – a leitura moderna – supõe o domínio de um código restrito de uma comunidade exclusiva e facilmente identificável de iniciados, como no Ulysses, de James Joyce, na contemporaneidade as possibilidades de acesso textual dependem de variáveis capazes de acolher qualquer tipo de leitor. O nome da rosa, de Umberto Eco, grande sucesso de público e crítica nos anos 1980, acolhia públicos distintos, que podem ler o livro como narrativa policial, romance histórico ou discussão filosófica, de acordo com o campo de interesse e saber de cada leitor, sem prejuízo para a leitura. A “avaliação” do livro, no caso, depende do reconhecimento de possibilidades diferentes de legitimação, como se o “avaliador” fosse convocado não para demonstrar sua expertise num campo determinado, mas para abrir-se a experiência de outra leitura que não a sua.
A pergunta que se coloca é de que maneira as várias comunidades ou coletivos de enunciação atuais, formados geralmente por jovens universitários ou moradores da periferia das grandes cidades brasileiras, dispersos por “territórios” muitas vezes inacessíveis um ao outro, não estariam, de fato, reafirmando o processo de produção e recepção setorizado, como os nichos editoriais e mercadológicos apontados inicialmente parecem demonstrar, de outra perspectiva. Diferentes respostas à questão são possíveis. Uma delas, que interessa aqui mais de perto, diz respeito ao fato de que redes de sociabilidade facultam o trânsito de informações heterogêneas, formadoras de opiniões e de certo gosto, que poderíamos chamar sem nenhum constrangimento de estético.
Haveria, pois, uma estética disseminada, em trânsito incessante e em fuga, capaz de constituir uma distribuição mais democrática de modos de experiências sensíveis, “inovadores de antecipação da comunidade por vir”, uma vez que subvertem oposições do tipo alto e baixo, erudito e popular, singular e anônimo. A revolução estética “é antes de tudo a glória de qualquer um”, segundo Jacques Rancière, sendo sintomático, em todos os sentidos da palavra, que o banal tenha se tornado belo como “rastro do verdadeiro”. A realidadeficção é o resultado de uma nova maneira de contar (inventar) histórias, de rearranjar signos e imagens, de potencializar a “nova racionalidade do banal e do obscuro”.
Pode-se chamar essa nova conjuntura de autoficcional, se levarmos exclusivamente em conta a subjetividade que narra, entendida como instância intransferível de enunciação. Melhor seria considerá-la bioficcional, por se construir enfatizando o corpo, a vida como potência impessoal e diferença, ao revés da base epistemológica constituída pela crença no sujeito, na representação e na identidade. Como mostra Bruno Alvarenga Souza, ao ler Machado, de Silviano Santiago, o escritor propõe outra forma de fazer biografia, “que se desloca da vivência histórica não apenas por ser uma escrita pelo outro e não uma escrita do outro, o que se diferencia na medida em que o próprio autor se insere no texto como produtor de si e de Machado (de Assis), como também por utilizar um aspecto biológico (a epilepsia da qual sofria Machado) para recriar uma vida que não se reduz apenas à obra literária pela qual ficou conhecida. Silviano mostra Machado como um corpo antes de o mostrar como escritor. A pessoalidade do sujeito histórico é superada em prol da impessoalidade da vida atravessada pela doença”.
O que pode um corpo? – pergunta-se em Machado. Corpos – o do autor, do personagem e do leitor – são blocos narrativos que se mostram como formas de inscrição dos sentidos da comunidade, “desenhada tão somente pela circulação aleatória da letra”, insiste Rancière. Uma comunidade letrada é agora não o reduto de formas a priori legitimadas, mas espaço de distribuição de vozes enunciativas que se superpõem, se conectam e se atravessam, como se diz de uma música que atravessou. O movimento dos corpos comunitários presume, portanto, certo desacordo ou assincronia no corpo a corpo com a letra, adiando para um depois que nunca chega a pacificação dos sentidos e da leitura numa forma acabada.
Os textos do escritor peruano-mexicano Mario Bellatin são exemplares nesse sentido. A repetição serial em que consiste sua obra retoma sempre um mesmo e outro corpo ao qual falta uma e mesma parte – “chave inconfessada e aberta”, nas palavras de Reinaldo Laddaga, não de um sentido oculto, mas das condições “biográficas” de produção textual. Esse espaço em branco de uma ausência que a escrita só faz retificar funciona, paradoxalmente, como uma sorte de buraco negro para o qual o leitor é atraído e onde se abole toda diferença entre natural e artificial, biológico e protético. Salão de beleza, talvez seu livro mais conhecido, é uma comunidade espectral de corpos deteriorados, à beira da morte, invertendo a função originalmente própria ao antigo estabelecimento, transformado ou travestido em Morredouro: “um espaço usado exclusivamente para morrer em companhia”, diz o narrador que, na juventude, saía “à noite vestido de mulher”. A identificação do leitor com a matéria narrada, sua inclusão nela mediante a união entre saber e sofrimento, se dá por um ato ambivalente de solidariedade e estranhamento diante do inusitado da situação que o livro transforma em “intratável beleza”, para empregar a expressão de Graciliano Ramos usada em outro contexto.
A encenação da morte ou da sua iminência é aqui emblemática das perspectivas de enunciação do comum de que estamos tratando. Traduz a despossessão de si e o compartilhamento de um espaço impróprio, no qual o contato com a diferença sinaliza um movimento para fora, uma “potência de desapropriação” (Rancière) que o anonimato dos corpos anuncia. Essa conjuntura narrativa extrema “não é uma dinâmica de aquisição de alguma propriedade recebida e acumulada, mas um ato de doar e de dar cuja característica de reciprocidade pressupõe a subtração, a perda e a transferência. Assim, os sujeitos são unidos pelo dever de compartilhar o dom para com o outro de maneira que esse compartilhamento do dom se configura não como a adição de objetos, mas como uma modalidade de convivência baseada na falta e na incompletude” (Guilherme Zubaran).
Nessa circunstância, o leitor crítico, se ainda cabe o qualificativo, se veria lançado em meio à potência de significação incontrolável do texto “comunitário” e seu desamparo diante das instâncias de legitimação constituídas – a academia, a mídia, o mercado –, não para reafirmá-las, mas para conduzi-las ao extremo da sua dissolução. Movimento abusivo e arriscado, minoritário, posiciona-se numa encruzilhada que aponta caminhos que não levam a nenhuma parte, a não ser a da transvaloração nietzschiana de todos os valores.
Talvez seja essa a razão principal da já referida constituição autorreferencial da narrativa contemporânea e mesmo dos textos canônicos, se lidos com os olhos de hoje. Sua inevitável natureza teórica, expressa ou alusiva, como que singulariza e ao mesmo tempo universaliza novos modos de ler, que tornam anacrônicas anteriores prescrições de sentido e valor. São modos de ler inevitavelmente heterogêneos, não custa repetir, que fazem da leitura um conflito permanente e insanável – “o conflito romanesco é, em forma de intriga uma cópia do conflito da leitura. Ficção só existe quando há conflito, quando forças diferentes digladiam-se no interior do livro e no processo de sua circulação pela sociedade”, diz o personagem-narrador de Em liberdade, de Silviano Santiago.
O corpus textual contemporâneo na sua enorme capacidade de diferenciação é, portanto, inesperado, incerto, contingente. Resulta da produção e circulação aleatória da letra e de suas diferentes formas de recepção, não mais atreladas a um circuito exclusivo; carrega marcas ou peculiaridades culturais e políticas intransferíveis, embora toda forma de identificação não escape de todo à performance, à metamorfose ou ao travestimento. Constitui, afinal, um espaço de sobrevivência do que Georges Didi-Huberman chama de “saber-vagalume”, razão principal da existência da literatura em tempos sombrios como o nosso.