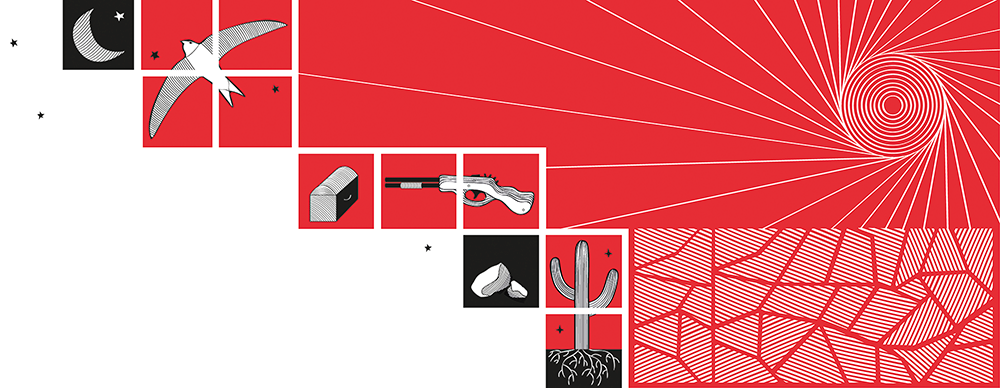
Pode parecer paradoxal, mas de minhas leituras mais marcantes costuma restar, em quantidade ou diversidade de material, pouco. É como se o impacto do que esses livros contêm se condensasse numa única imagem tão significativa e densa, que tudo o mais fosse tragado por esse buraco negro. Para tentar dar contornos mais precisos a esse resíduo que segue causando alguma espécie de assombro terminada a leitura, é preciso voltar ao texto. Às vezes, esse retorno desmente o impacto e o equívoco da primeira impressão se desfaz. Quando calha de não acontecer, isto é, quando o texto reafirma sua potência, esse resíduo pode ser mais bem-compreendido, sua gênese pode ser mapeada, seu modus operandi, descrito. Se a obra for daquelas realmente votadas a durar no meu espírito, novos assombros devem ocorrer durante a releitura e, por conseguinte, a necessidade de mais retornos. Minha ideia, aqui, é a de tentar esboçar um inventário pessoal e fragmentado dos assombros desse tipo causados em mim pelas leituras de Vidas secas.
***
Quando saí do romance pela primeira vez, o que continuou ecoando foram os sons guturais emitidos por Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos. A crítica muitas vezes destacou a proeza técnica que é conjugar a quase mudez derivada da miséria com uma verossímil vida interior, ainda que paupérrima. Sinhá Vitória conversa com o marido por monossílabos. Fabiano “falava uma linguagem cantada, monossilábica e gutural”, que os animais compreendiam. O menino mais velho “balbuciava expressões complicadas, repetia as sílabas, imitava os berros dos animais, o barulho do vento, o som dos galhos que rangiam na catinga, roçando-se”. O mais novo põe-se “a berrar, imitando as cabras, chamando o irmão e a cachorra”. Nessa linguagem talhada pela lâmina da brutalidade, as palavras e a reflexão soam como excessos. Fabiano, por exemplo, considera extravagante um raciocínio bastante simples de Sinhá Vitória (as aves matam os bois e as cabras), pois não logra alcançar a relação de causa e efeito entre a água consumida pelas aves e a sede dos bichos maiores.
Talvez Vidas secas seja a obra magistral que é porque nele concordem à perfeição o estilo do autor e a matéria com que ele decide trabalhar, a “escolha dos próprios fatos para conseguir uma composição perfeita”, como apontou Otto Maria Carpeaux em seu ensaio Visões de Graciliano Ramos. É como se a um artista, por mais versátil que fosse, coubesse no inesgotável repositório dos assuntos algum que lhe assentasse melhor do que tudo o mais, como um belíssimo terno de alfaiataria. Sobre o estilo do autor alagoano, afirma Carpeaux: “É muito meticuloso. Quer eliminar tudo o que não é essencial: as descrições pitorescas, o lugar-comum das frases feitas, a eloquência tendenciosa. Seria capaz de eliminar ainda páginas inteiras, eliminar os seus romances inteiros, eliminar o próprio mundo”. Esse mínimo exato de palavras que permanece após tantas eliminações é o correspondente do que resta de possibilidade de vida aos sertanejos, pois a matéria de Vidas secas é a escassez brutal e absoluta, inclusive de linguagem.
A comunhão entre o homem e a natureza se dá em plenitude, mas nunca no que a natureza tem de fértil, de farta. É como se aos homens e à natureza só restasse comungar no sofrimento e essa aproximação pessimista acabasse por animalizar os homens e humanizar os animais. Na terra, nos animais, nos homens, só é forte, no sentido daquilo que perdura, a fraqueza: seca, fome, doença. O mínimo é descrito com o mínimo para atingir o máximo de força, pois a natureza não admite o desperdício, o urubu come a carniça, o homem come o que houver para não morrer de fome, inclusive o papagaio, mudo e inútil como eles próprios, na visão de Sinhá Vitória.
Num detalhe aparentemente banal de uma cena do primeiro capítulo, Mudança, esse casamento feliz de estilo e matéria se dá a ver, para mim, em toda a sua potência. A família chega à fazenda abandonada e Fabiano vai buscar a água barrenta e salobra para matar a sede de todos. “Saciado, caiu de papo para cima, olhando as estrelas que vinham nascendo. Uma, duas, três, quatro, havia muitas estrelas, havia mais de cinco estrelas no céu.” Causa impressão, logo após a afirmação da grande quantidade de estrelas, aquilo que soa quase como um desmentido: haver mais de cinco estrelas no céu dificilmente caracterizaria haver muitas estrelas.
Nesse trecho, porém, é Fabiano quem as conta, uma a uma, não o narrador. Em sua rusticidade (o capítulo Contas é todo ele sobre a dificuldade com os cálculos que prejudicam o sertanejo na negociação do valor de seu trabalho), “mais de cinco” talvez já seja uma fronteira a ser comemorada. Por isso, e pelo prenúncio de chuva, o coração de Fabiano se enche de alegria. A mesma frase ressurge outras duas vezes, como um refrão, antes do fim do capítulo (“Uma, duas, três, havia mais de cinco estrelas no céu” e “Uma, duas, três, agora havia poucas estrelas no céu”), com sutis modificações. A diminuição das estrelas na contagem ajuda a indicar a passagem do tempo e a chegada da chuva com a qual, naquele instante, Fabiano apenas sonha. Uma frase como essa, aparentemente banal, mas tão precisa, tão exata, tão rica de significados, apesar de curta, é o que me encanta encontrar num texto.
***
Foi o espanto com o tartamudear causado pela miséria física e psíquica que me levou à Vidas secas pela segunda vez. Eu estava gestando o romance que viria a se chamar Tempo de espalhar pedras. Nele, a miséria seria diretamente causada pela escassez de diamantes, não de água, mas a contrapartida dessa miséria que eu desejava colocar em ação nas personagens seria similar à do romance que eu admirava: uma que molda o corpo até o limite da desfiguração, que determina o gesto e a fala. Como homenagem, surrupiei de imediato do nome de Sinhá Vitória, com o qual batizei uma personagem importante.
O assombro nessa segunda leitura deslocou-se. Apareceu no capítulo Festa, que relata a incursão da família na cidade tomada pelas comemorações do Natal. A festa poderia ser um hiato na dura lida diária para aquela família. Era tempo de bonança, e Fabiano, Sinhá Vitória e os meninos estavam vestidos com boas roupas, feitas sob encomenda. No romance, porém, as personagens são vítimas de uma inabalável inadequação à fartura, ao conforto. Qualquer fruição ou justiça (a cama de couro, os meninos na escola, o vestido vermelho de ramagens, a punição do soldado amarelo etc.) só pode existir em sonho, em devaneio. Quando as condições estão dadas, como no dia da festa, escancara-se a falta de vocação para a felicidade, vocação que seria mesmo inverossímil numa realidade brutal como a descrita — num romance como esse, até mesmo a tão ansiada chuva se converte em ameaça sob a forma de frio ou de enchente, no capítulo Inverno.
No dia da festa, bem-vestidos, os pobres tentam “erguer o espinhaço”, andar eretos, mas a posição é forçada, o corpo de “ordinário olhava o chão, evitando as pedras, os tocos, os buracos e as cobras”. Os meninos costumavam usar apenas camisas ou andar nus. Sinhá Vitória equilibra-se mal nos sapatos de salto. Não tarda e arrancam sapatos, meias, paletó, chinelinhas, tudo o que represente a prosperidade que não podem ter. Não à toa, é nesse exato momento em que voltaram a mirar o chão, como bichos, que o escritor faz chegar à cena, de surpresa, a cachorra Baleia. Agora, Fabiano passa a andar “cambaio, a cabeça inclinada”, no que é seguido por todos.
Graciliano dedica muitas linhas ao momento em que Fabiano, na entrada da cidade, tenta calçar-se. É comovente e patético vê-lo fracassar: a meia embola, a botina resiste, a mulher orienta, até que ele desiste, decidido a entrar na rua assim mesmo, malcalçado, uma perna mais comprida que a outra, coxeando ainda mais, ainda mais cambaio, a ponto de se machucar. O assombro das crianças, até então acostumadas apenas à família e aos animais, com a cidade e a quantidade de gente e de luzes, e a inadequação insuportável dos sertanejos a qualquer bem-estar não saíram da minha cabeça, e por isso decidi dedicar um capítulo de Tempo de espalhar pedras a uma cena claramente inspirada nessa.
***
Na leitura para a elaboração desse texto, encontrei o novo elemento que me intrigaria logo nas primeiras palavras do romance: “Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes”. Num romance realista, de vocabulário rico, repleto de descrições precisas do ambiente, da rotina e do falar sertanejos, por que tão poucas cores e — o que era ainda mais intrigante — por que sempre sólidas, sem matizes, gradações ou misturas, e algumas tão inverossímeis? O soldado amarelo, a vaca laranja, o voo negro dos urubus, o céu de azul terrível, a catinga de vermelho indeciso, os olhos azuis e a barba e os cabelos ruivos de Fabiano, a planta verde, os meninos vermelhos, as ossadas brancas. Fez pensar numa pintura fauvista ou expressionista (caso apliquemos essas cores aos corpos deformados, retorcidos, de Fabiano e família). Imagino que algum crítico já deva ter se debruçado sobre essa questão.
O que me arrisquei a elucubrar é o quanto a vida em um cenário como o do livro deveria mesmo ser determinada pelos rigores de um sol que raras vezes encontra obstáculos como nuvens e produz sombras, zonas de indeterminação. A luz que, praticamente sem cessar, queima as plantações e faz secar os rios confere às coisas e às pessoas cores fixas, imutáveis, pois o destino imposto aos sertanejos pelo sol é inexorável. Talvez Vidas secas seja o “romance desmontável” de que falou Rubem Braga não apenas porque os capítulos possam ser lidos de maneira autônoma, mas também porque possam ser remontados em qualquer sequência, de modo que à frágil esperança, seja a trazida pela chuva ou a trazida pela cidade grande, sucedam sempre seca e sede e fome e morte. De alguma maneira, também a pobreza cromática pode ser reflexo da escassez de recursos para interpretação do mundo que assola as personagens, escassez que é incorporada por esse narrador ao mesmo tempo tão distante e tão solidário.
É com essas poucas cores sólidas que Graciliano pinta as esculturas sem adornos ou adereços que Carpeaux chamou de “monumentos de baixeza”. Concluo meu inventário de assombros com um desses monumentos, extraído da cena em que Baleia captura o preá que vai salvar o grupo de morrer de fome: “Levantaram-se todos gritando. O menino mais velho esfregou as pálpebras. Sinhá Vitória beijava o focinho de Baleia, e como o focinho estava ensanguentado, lambia o sangue e tirava proveito do beijo”.