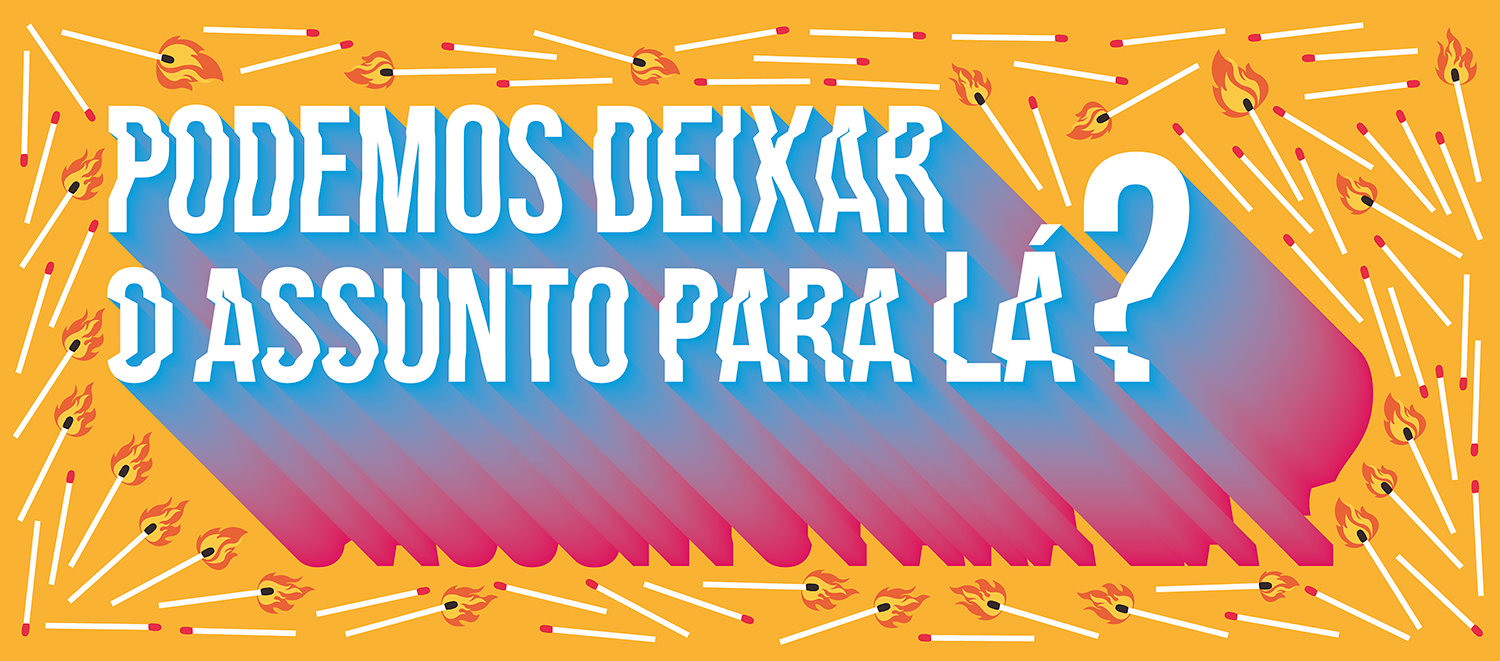
O parágrafo abaixo contém movimentos estranhos, palavras pesadas talvez, prerrogativas que passam longe da grade curricular de quem estuda, debate e pensa a Literatura, essa de “L” maiúsculo, disciplina pouco dada a “l” tão minúsculos quanto...
No outono de 1977, a poeta e ativista lésbica branca Adrienne Rich (1929-2012) sentou-se para uma longa entrevista com a também ativista lésbica branca Elly Bulkin (1944). Em algum momento da conversa, Rich fala: “Duas amigas minhas, ambas artistas, me escreveram sobre ler Vinte-e-um poemas de amor com seus amantes homens, garantindo-me quão ‘universais’ os poemas eram. Eu fiquei irritada e, quando me perguntei por que, percebi que era raiva de ter meu trabalho essencialmente assimilado e despojado de seu significado, ‘integrado’ ao romance heterossexual. Esse tipo de ‘aceitação’ do livro me parece uma recusa de suas implicações mais profundas”.
O parágrafo acima contém movimentos estranhos, palavras pesadas talvez, prerrogativas que passam longe da grade curricular de quem estuda, debate e pensa a Literatura, essa de “L” maiúsculo, disciplina pouco dada a “l” tão minúsculos quanto… adjetivos que parecem desnecessários à crítica, adjetivos como “lésbica”. Mas será mesmo de um adjetivo que se fala aqui? Será que toda a confusão – e toda a raiva – causadas no corpo da poeta foi porque as amigas heterossexuais que a leram não perceberam que a palavra “lésbica”, na forma e no conteúdo de seus versos, era o substantivo inexorável? Que essa palavra era a essência mesma de sua poesia e que, sem ela, não se poderia seguir adiante?
Foi preciso fazer uma atípica moldura ao depoimento de Adrienne Rich para que ele não fosse subtraído, apagado, invisibilizado como um depoimento qualquer, como uma fala que seja facilmente “integrada” a uma convenção de um texto crítico que, como a própria Rich mencionaria em um de seus textos mais conhecidos, sofreria de uma “heterossexualidade compulsória” não somente da crítica literária, mas da própria luta de mulheres lésbicas dentro do movimento feminista acadêmico – e branco e heterossexual – dos anos 1960 e 1970.
O que se seguirá, nas próximas linhas, precisa se alimentar também do desconforto, desse incômodo que Rich e tantas outras escritoras que se encaixam em identidades de gênero e/ou sexualidades não-heterossexuais passam quando suas respectivas obras circulam no terreno da crítica literária. Mas não somente isso, precisa também causar desconforto em quem lerá este texto, confundir quem acha que a própria palavra “lésbica” não é, ela mesma, carregada de tantas marcações, algumas delas nascidas de estruturas opressoras. Sim, o objetivo é esse mesmo, causar curto-circuito.
A começar pelas intenções iniciais que motivaram a existência deste texto. Motivações essas que, à medida que as conversas com autoras e pesquisadoras e o contato não apenas com os textos da própria Adrienne Rich e da escritora Gloria Anzaldúa (1942-2004), foram se mostrando a causa mesma do problema que é termos sempre lidado com uma crítica literária heteronormativa (infelizmente, é preciso pontuar, a heteronormatividade não é uma premissa apenas da crítica literária, mas de toda e qualquer crítica de arte).
Para chegar aos exemplos concretos, dois episódios específicos acionaram o pavio: o primeiro aconteceu em julho de 2016, quando a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), mais badalado encontro literário do mercado editorial, se lançou com a proposta de revisitar a obra da poeta Ana Cristina Cesar (1952-1983) e, na mesa de abertura, não apenas havia um apagamento completo da própria Ana C. – eram três homens brancos falando quase que inteiramente sobre seus respectivos trabalhos – como, durante todo o evento, a sexualidade da poeta, tão crucial para leitura de vários de seus poemas, foi completamente anulada. Uma nuvem estranha se formava no ar: podia-se falar quase tudo sobre a obra de Ana C., menos que era atravessada pelo fato de que aquela mulher se relacionava com outras mulheres. O segundo episódio, curiosamente, se manifestou neste mesmo Pernambuco, quando, em janeiro deste ano, se publicou uma crítica sobre a primeira edição da já citada Adrienne Rich no Brasil, Que tempos são estes, com tradução de Marcelo Lotufo e edição da Jabuticaba. Na resenha sobre o livro, o autor não faz qualquer menção ao fato de que Rich era uma mulher lésbica e só se reconhecia criticamente a partir desse dado.
Volto a dizer então que esses mesmos motivos que fazem com que este texto aconteça são um problema em si. Não porque colocar em xeque esses dois momentos de apagamento seja questionável. Problematizá-los é legítimo, mas a questão é: tudo isso ainda é insuficiente. Em outras palavras: o pensamento sobre a crítica literária precisa também parar de ser apenas uma reação a eventos episódicos para ser uma ação em si, uma construção ativa e constante de novos parâmetros de análise crítica. O fato de que, para questionar a heteronormatividade no exercício analítico de textos literários, seja necessário que duas situações evidentemente caricaturescas se sobressaiam é testemunho de que não estamos indagando o suficiente.
Mais uma nota de bastidores faz-se importante: de início, este texto iria, no mesmo bloco, tratar de um apagamento de mulheres, homens e pessoas não-binárias com sexualidades e identidades não-heteronormativas. No entanto, como um gesto político, quando falar de escritores homens cis gays, os colocarei entre parênteses – dada a condição (parenteseada) de toda a existência lésbica na literatura.
É urgente, portanto, entender de onde vem o apagamento de escritoras lésbicas e bissexuais tanto no texto crítico sobre as autoras como simultaneamente nas revisões analíticas que não existem, aquelas que nunca foram escritas, muitas vezes porque há, em várias ocasiões, um desinteresse sintomático por alguns livros de algumas autoras, e outras porque há, de fato, um não-treinamento para lidar com tudo aquilo que, na forma e no conteúdo, foge do que é heteronormativo, ou seja, foge de tudo aquilo que, na crítica literária, atende pelo nome de “universalidade”, essa régua invisível que alguns sujeitos estabeleceram como critério fundador para apreciação crítica da prosa e da poesia. A rigor, universalidade daria conta de tudo aquilo que todas as pessoas, em todos os rincões do planeta, conseguissem compartilhar como um código em comum. Trata-se, naturalmente, de um pensamento não apenas uniformizador de todas as diferenças, como falsamente conciliatório dessas distinções, já que o “universal” sempre partiu de uma observação do sujeito branco hegemônico.
“Parece que hoje à crítica literária convém um exercício de mapear até onde alcança cada fala, em meio aos reconhecimentos de privilégios e opressões, ler também pelo escapa ou não se sabe/não cabe abordar, ao menos pontuando, mencionando. Negligência implica apagamento. O apagamento é conservador e são muitos”, diz a poeta, romancista e pesquisadora Sarah Valle. Sobre esses vários apagamentos, ela menciona um dos textos de Rich para lembrar que talvez o mais forte deles tenha sido aqueles das mulheres lésbicas que sequer puderam escrever: “séculos de livros não escritos empilhados atrás destas prateleiras”, escrevia a poeta.
Valle continua: “Há um estudo que mostra como tendemos a ler citações de sobrenomes em textos acadêmicos assumindo que se tratem de homens. O que teria escrito Virginia Woolf, caso não estivesse sob a apreciação da crítica masculina? Há brecha para a homossexualidade na obra da premiada (Elizabeth) Bishop? O caso da censura sobre a obra de Violette Leduc ilustra, ainda, a diferença quando se trata exclusivamente de mulheres dentro do escopo homoerótico: enquanto Jean Genet tinha seu Diário de um ladrão (que traz personagens gays) publicado pela Gallimard em 1947, Teresa e Isabel (um romance lésbico) foi repetidamente censurado pela mesma editora nas versões de 1955 e 1966, só ganhando versão integral em 2000”.
Ainda citando o exemplo de Adrienne Rich, que astutamente usava de uma forma canônica em várias de seus poemas para driblar algumas premissas da crítica do que deve ou não ser comentado – “Esta é a língua do opressor,/ mas preciso dela para falar com você.” –, é fundamental citar seu texto teórico sobre a “heterossexualidade compulsória” que existe não apenas na crítica de arte como dentro do próprio feminismo acadêmico dos anos 1960 e 1970. A partir de uma análise de quatro livros feministas desse período, cada um com uma orientação política distinta, Rich vai analisar como o apagamento da mulher lésbica começa tantas vezes a partir desse edifício teórico consolidado por mulheres feministas heterossexuais. “Em nenhum desses livros, que tratam de temas como maternidade, papéis de gênero, relacionamentos e prescrições psicossociais para mulheres, a heterossexualidade compulsória é jamais examinada como uma instituição que poderosamente afeta todos os demais temas aqui relacionados”, ela escreve.
A poeta lésbica branca Angélica Freitas, que está traduzindo o Heterossexualidade compulsória e existência lésbica, de Rich, para uma edição que será publicada pela editora Bolha, sustenta que esse apagamento às vezes surge das frentes mais inesperadas. Ela lembra que, no processo de pesquisa para a tradução desse ensaio, terminou cruzando com um outro artigo, escrito pela pesquisadora Emily Wilson, sobre a problemática tradução que a poeta Anne Carson, uma mulher heterossexual, fez de Safo: “Para Carson, o que importa é a poesia de Safo, não seu gênero ou sua orientação sexual. Mas as próprias palavras de Safo não são neutras em termos de gênero. A tradução de Carson do Fragmento 31 não deixa claro o que está claro no grego: o amado e o falante de primeira pessoa são ambas mulheres. ‘Parece que ela conhecia e amava as mulheres tão profundamente quanto fazia música’, observa Carson em sua introdução. ‘Podemos deixar o assunto pra lá?’. A resposta, obviamente, é não. Safo é a primeira autora sobrevivente na tradição ocidental, e a maioria das respostas críticas e imaginativas à sua vida e ao seu trabalho trataram do seu gênero e sua sexualidade como os fatos mais importantes sobre ela”.
AUTODEFINIÇÕES E AUTORROTULAÇÕES
“Se eu não tivesse me definido para mim mesma, teria sido esmagada pelas fantasias que outras pessoas fazem de mim e teria sido comida viva”, falou em voz alta Audre Lorde (1934-1992), por ela mesma definida como “mulher, negra, lésbica, poeta, mãe, professora e guerreira”. Era fevereiro de 1982, e Lorde fazia então uma apresentação em tributo a Malcolm X, na Universidade de Harvard. Em outro texto seu referencial, Autodefinição e minha poesia, ela é enfática: “Nenhum/a poeta que valha um pacote de sal escreve de qualquer outra coisa que não as várias entidades que ela ou ele define como eu. Eu sou desses eus, e quanto eu aceito essas muitas partes de mim vai determinar como meu viver aparece dentro de minha poesia. Como meu viver se torna acessível, em suas forças e suas fraquezas, através do meu trabalho, a cada qual de vocês (...) Não posso separar minha vida e minha poesia. Eu escrevo meu viver e eu vivo meu trabalho.”
É importante trazer a reflexão sobre autodefinição em Lorde para abrir uma discussão que também corre em paralelo ao apagamento de autoras que ora se autodefinem como lésbicas ou bissexuais ou pessoas trans ou não-binárias e ora recusam qualquer uma dessas palavras. Nessa última categoria, há dois tipos muito distintos: a de escritoras não-heterossexuais que, como Ana C. lá atrás e como algumas outras poetas contemporâneas, não se sentem à vontade com tais nomenclaturas; e há aquelas para quem a palavra “lésbica”, por exemplo, vem carregada de outras marcações que podem, em alguns ambientes, serem igualmente opressivas.
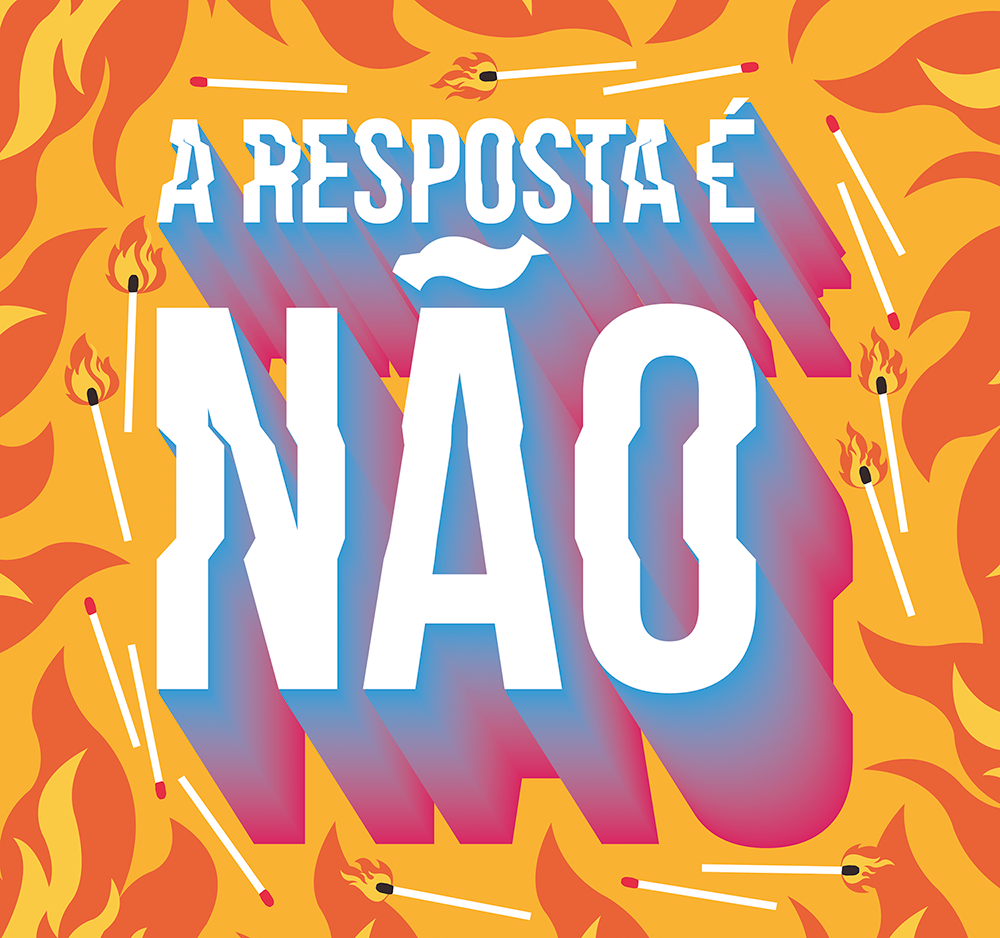
Eis o momento então de se fazer uma inflexão a um trabalho que deveria ser seminal quando se fala em crítica literária (em tempo: não se fala aqui de crítica literária dissidente, ou crítica literária LGBT, se fala de crítica-literária-ponto). Trata-se do texto Queer(izar) a escritora – Loca, escritora y chicana, de Gloria Anzaldúa, que se autodefinia nos termos dados por esse mesmo artigo e cujo trabalho flertava sempre com ensaios poéticos sobre sua própria condição de estrangeira no país onde nasceu, os Estados Unidos. Nele, a escritora aponta para várias questões cruciais na relação entre autoras/autores não-heterossexuais e os textos críticos sobre a obra dessas pessoas.
Um dos pontos diz respeito a colocar em xeque a própria palavra “lésbica” a partir de sua experiência de vida: “Para mim, o termo lésbica é um problema. Como chicana mestiça de classe operária – um ser composto, amálgama de culturas e de línguas – uma mulher que ama mulheres, ‘lésbica’ é uma palavra cerebral, branca e de classe média, representando uma cultura dominante, derivada da palavra grega lesbos. Eu penso em lésbicas como mulheres predominantemente brancas e de classe média e um segmento de mulheres de cor que adquiriram o termo por osmose muito como chicanas e latinas assimilaram a palavra hispânicas. Quando uma ‘lésbica’ me nomeia o mesmo que ela, ela me subsome sob sua categoria. Eu sou de seu grupo, mas não como uma igual, não como uma pessoa inteira – minha cor apagada, minha classe ignorada. Soy una puta mala, uma texana tortillera. ‘Lésbica’ não nomeia nada em minha terra natal”.
Em outro momento, Anzaldúa destrincha o que realmente significa a marcação e adjetivação no ambiente da crítica literária: “O que é uma escritora lésbica? O rótulo na frente de uma escritora a posiciona. Sugere que a identidade é socialmente construída. Mas só para a/o ‘outra/outro’ cultural. Inconscientes do privilégio e absortos em arrogância, a maioria dos escritores da cultura dominante nunca especifica sua identidade; eu quase nunca os escuto dizer: Eu sou um escritor branco. Se a/o escritor/a é classe média, branca/o, heterossexual, ela/ele é coroada/o com o chapéu ‘escritor/a’ – nenhum adjetivo mitigante depois. Me consideram uma escritora chicana, ou uma escritora chicana lésbica. Adjetivos são uma forma de coagir e controlar (...) O adjetivo depois de escritora marca, para nós, a escritora ‘inferior’, ou seja, a escritora que não escreve como eles. Marcar é sempre ‘rebaixar’. E quando eu defendo colocar chicana, tejana, de classe operária, poeta dykefeminista junto a meu nome, eu o faço por razões diferentes daquelas da cultura dominante. As razões deles são marginalizar, confinar e conter. Meu rotular a mim mesma é para que a chicana e lésbica e todas as outras pessoas em mim não sejam apagadas, omitidas ou assassinadas. Nomear é como eu faço minha presença conhecida, como afirmo quem e o que eu sou e como quero ser conhecida. Nomear a mim mesma é uma tática de sobrevivência”.
Nesse mesmo texto, ela traz algo essencial para se pensar o lugar da recepção de sua obra. Relata que, quando ia a recitais de prosa ou poesia entre mulheres lésbicas feministas, que, no contexto em que ela vivia, implicava em mulheres brancas, ela não se sentia parte daquele ambiente e achava que seu trabalho era tampouco compreendido nesses espaços de uma intelectualidade apartada, por exemplo, de questões operárias tão caras a ela. E que houve momento em que ela se sentiu, finalmente, “em casa” quando leu seu trabalho para uma plateia de hippies brancos que estavam fora do círculo literário.
A reivindicação por uma autodefinição, como diria Lorde, ou por uma autorrotulação, como colocaria Anzaldúa, parece ser um ponto de partida para autoras contemporâneas que, com frequência, experimentam a sensação de deslocamento quando têm seus trabalhos lidos. Tatiana Nascimento, cujos três livros de poesia (Esboço, lundu, e mil994) foram publicados por sua editora, a Padê Editorial, e que é cofundadora e realizadora do Palavra Preta – mostra nacional de negras autoras, é categórica:
“Me apresento como uma autora lésbica e negra. Não acho que minha identidade de gênero é mulher, faz muito tempo que recuso essa identidade e que falo em ser lésbica não como uma orientação sexual, mas como identidade de gênero. Isso tem a ver com ser leitora assídua da Monique Wittig (1935-2003). Sou discípula da tese dela de que lésbicas não são mulheres (no texto Straight minds, Wittig afirma que a categoria ‘mulheres’ foi criada para existir sempre em relação ao sujeito homem e que, por isso, as lésbicas nunca foram lidas como ‘mulheres’ para muitas feministas). Só que, porque eu me falo muito como escritora sapatão ou lésbica, é impossível não levar isso em consideração quando minha obra é pesquisada, porque essa é uma identidade da qual não abro mão. Isso tem a ver também com a Audre Lorde, de me apresentar a partir dessa autodefinição. Sempre me apresento como uma poeta lésbica negra e as pessoas não podem abrir mão disso.”
Naturalmente, Nascimento está ciente de que as definições que ela põe a si mesma, se têm o bônus de serem identidades das quais seus críticos não podem evitar, têm o ônus de uma frequente incompreensão do que se espera de sua literatura, mais uma vez, as caixas “outras” em que a crítica perceberá essa literatura: “Minha obra, por exemplo, tem poucos ‘poemas de lésbicas’ como a crítica assim entende. Tem, sim, muitos poemas de amor, mas tem muito mais poemas sobre mar, sobre cerrado. O primeiro livro que publiquei com uma tiragem maior, o lundu, acho que a palavra lésbica só surge lá no final, não há um mapeamento textual do que é a lesbianidade, porque acho que precisamos ter liberdade narrativa, que temos que falar sobre o que quisermos, de modo que a ‘escrita lésbica’ precisa ser entendida de uma forma muito mais ampla. Esses dias uma pesquisadora da Argentina veio me perguntar: por que que, quando você fala de pessoas negras no seu livro, você fala de homens, por que você não fala de pessoas negras em outro contexto? Tive que responder o seguinte: eu sou uma pessoa negra escrevendo, tudo tem a ver com negritude, eu sou uma sapatão negra”.
Eis então um ponto nevrálgico para se pensar como a crítica literária lida quando as marcações as quais ela não está acostumada a usar – pois que nunca se marcaram os escritores homens, brancos, heterossexuais, cisgêneros – são postas sobre a mesa: ela tende a esperar por um certo tipo de conteúdo bastante específico. “Tem que haver uma mudança no jeito que a crítica olha o que a gente escreve. Acho que essa abordagem não dá conta da complexidade da nossa escrita. A crítica não vai olhar pro que uma autora lésbica escreve como ‘literatura lésbica’ se ela não escreve uma história de amor. E se ela quiser escrever sobre a vó dela? Não vai ser literatura lésbica? O que é invisibilização da crítica? Talvez essa invisibilização tenha a ver com uma estereotipia narrativa, porque não se consegue entender a profundidade de nossa obra.”
A estereotipia narrativa de que Nascimento fala é, portanto, o que simultaneamente faz com que várias autoras sejam marcadas como escritoras lésbicas apenas e somente porque fazem poemas ou prosas sobre o amor entre mulheres, como provoca um apagamento dessa identidade em escritoras que falam sobre questões que são entendidas como “universais”. Para onde se olha, há quem queira não olhar.
(Nesse ponto, é importante também citar a extensa pesquisa sobre não apenas a homofobia, mas a misoginia e o racismo de uma tradicional crítica literária brasileira quando teve que lidar, por exemplo, com a obra de Mário de Andrade. Em sua tese de doutorado sobre a recepção da obra do poeta paulista, o pesquisador Jorge Vergara fez um levantamento de todas as resenhas críticas que diminuíam a obra de Mário de Andrade por entendê-lo como um sujeito efeminado de versos igualmente não-masculinos e “mestiços”:
“Eu descobri que Mário de Andrade é insultado com termos que implicam a homofobia desde 1921. Deve considerar-se a persistência do racismo também, porque, em muitos casos, o texto racista acompanha o homofóbico”, ele fala. Os exemplos são vários: “Durante o movimento de críticas ao Futurismo paulista em 1921, João de Eça escreve que Mário não é suficientemente homem, usa a imagem do castrato para implicar que a virgindade de Mário é o motivo que o leva a escrever sobre sexualidade de forma exagerada. A campanha de higiene estética e moral da Folha da noite, de 1923, condenou Mário com os termos de ‘doença mental’. Vários jornais retomam os temas em 1923, 1924, 1926 e em 1929, na Revista de Antropofagia, se escreve que Mário é o ‘Miss São Paulo traduzido em masculino’ e menciona a ‘pele bronzeada’ de ‘Miss Macunaíma’. Em 1939, escritores usam termos como ‘sub-Wilde mestiço’ como uma forma de insulto. Em todas essas situações, Mário de Andrade estava vivo”.
Estamos, é importante lembrar, no mesmo território crítico que embranqueceu Machado de Assis e, por tanto tempo, invisibilizou Lima Barreto.)
Há, no bojo de todo esse debate, algo que, tal como os eventos episódicos acima citados de apagamento lésbico em Ana C. e Adrienne Rich, uma motivação ainda mais orgânica para se pensar a necessidade de uma revisão dos textos críticos quando lidam com o território de autoras lidas como “outras”. A fundamental necessidade de representação, leia-se, de não precisar passar a vida inteira lendo uma crítica literária que deslegitima as experiências não-heteronormativas e, portanto, nega a própria vivência de leitoras não-heterossexuais.
Aline Miranda, uma das integrantes do coletivo e do zine homônimo Palavra Sapata, em artigo sobre representação (a lésbica nos textos) e representatividade (a lésbica que escreve os textos), afirma: “Para mim, é cada vez mais fundamental explicitar-me como lésbica em todos os espaços que ocupo e por onde transito. Isso inclui minha escrita, sendo ela tão parte de mim. Como válvula da vida, a escrita me toma por inteira. Então, por mais que exista ficção, eu-lírico e qualquer coisa que o valha, o que escrevo sou eu ali. Eu criando. E eu sou uma lésbica, como diz o título dum romance de Cassandra Rios. Quando uma amiga emprestou-me esse livro, fiquei estatelada. Uma mulher escrevendo uma personagem principal lésbica! Pesquisei depois e li que Cassandra foi a primeira autora a vender um milhão de exemplares no país! Foi também das mais censuradas artistas na década de 1970, com proibição de quase todos os seus mais de 30 livros! E, hoje, segue tão pouco conhecida. Por que será?”.
Que se reveja então, criticamente, a obra de todas as autoras aqui citadas, bem como o trabalho de Cidinha da Silva, Vange Leonel, Bruna Beber, Natalia Borges Polesso, Simone Brantes, Katia Borges, Ryane Leão, Bárbara Esmenia, Joana Côrtes, Nívea Sabino, Tatiana Pequeno, Mariana Queiroz, Cecília Floresta, Laila Oliveira, Mayana Vieira e tantas, tantas outras escritoras – e aqui cito apenas algumas brasileiras – que ainda carecem de aproximações mais complexas sobre seus respectivos trabalhos. Ou, para usar o título de uma recente publicação do grupo Palavra Sapata, “que o dedo atravesse a cidade, que os dedos perfurem os matadouros” e que perturbem o lugar de conforto de um ambiente crítico cujas réguas de análise, tantas vezes, só conseguem medir aquilo que é espelho.
* Este texto foi concluído no dia 14 de março de 2019, quando se completou um ano do assassinato político da vereadora lésbica Marielle Franco. Este texto é também um tributo a ela e à convicção de que sua luta jamais poderá ser apagada.