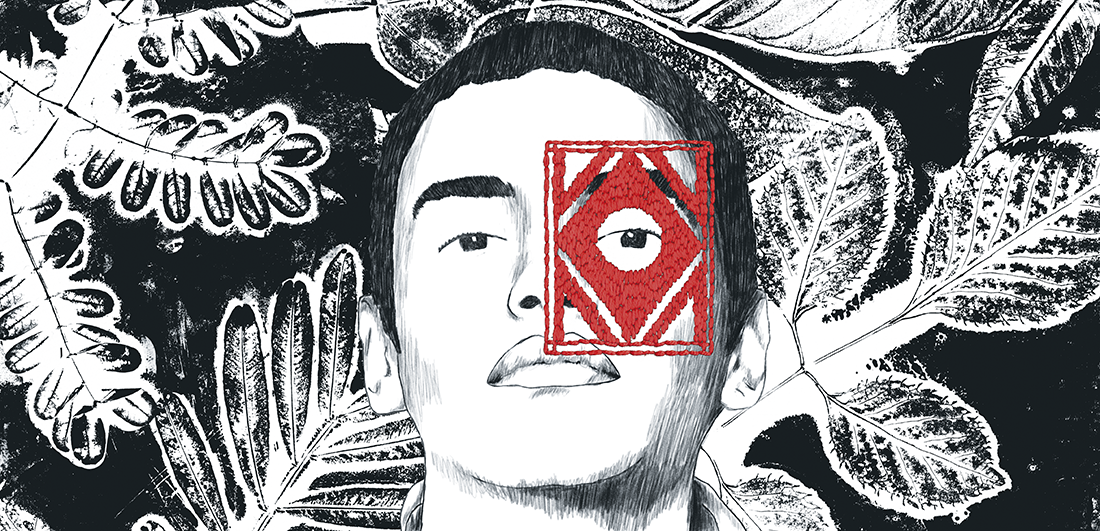
PROBLEMAS COSMOPOLÍTICOS
A queda do céu, livro do xamã e grande pensador yanomami Davi Kopenawa, anuncia que quando o último xamã parar de cantar para os espíritos-auxiliares xapiri, estes vão deixar de sustentar o cosmos e o céu vai cair. E isso já aconteceu antes. A floresta atual, nos lembra Davi Kopenawa, é o antigo céu que desabou. Já os habitantes da antiga floresta foram arremessados para debaixo da terra. Hoje, o céu está em plena queda, ou cada vez mais baixo, sob o risco constante de cair sobre nossas cabeças. A questão urgente é impedir a destruição de diferentes mundos e toda riqueza da diferença: segurar o céu, nas palavras de Kopenawa; adiar o fim do mundo, na formulação recente de Ailton Krenak, liderança na resistência indígena diretamente afetado pelo crime que destruiu muito do Rio Doce, com o qual seu povo convivia há séculos.
A desespiritualização do mundo foi observada nas suas origens por Krenak em uma viagem a Atenas. Ele conta que visitou junto com Davi Kopenawa o Templo de Zeus, a Acrópole e outras ruínas gregas, lugares fundamentais na civilização ocidental dos quais restam apenas destroços e pedras caídas. O que também lhe chamou a atenção foi o Monte Olimpo, local sagrado por onde antigamente deuses circulavam entre os mortais, hoje reduzido a plantações de azeitonas e a um parque natural, como se fosse um recurso a ser explorado ou protegido dos homens. No final da visita, indagados se “gostaram do passeio”, Davi Kopenawa responde: “Eu gostei de vir aqui, porque agora eu sei de onde saíram os garimpeiros que vão destruir a minha floresta, fuçar a minha floresta como se ela fosse pó. O pensamento deles está aqui. Eles fizeram isso aqui, e foram fazer o mesmo lá onde eu vivo. Eles reviram a terra, eles quebram tudo”.[nota 1]
Kopenawa traduz as ações dos garimpeiros nas suas terras a um pensamento cuja origem ele remonta à Grécia. A história da separação entre uma suposta clareza da verdade e uma ilusão do mito é antiga no Ocidente. Do abismo criado pelos gregos entre um povo com filosofia e história em oposição aos povos com mito, fomos colonizados a pensar segundo uma bifurcação da realidade: as estórias se separam da História, a linguagem se encontra distante das coisas, a natureza oposta às culturas, a mente fora do corpo.
Atravessando esse abismo, a arte nunca cessou de construir pontes entre o que estaria muito separado. Os artistas, contudo, são ainda vistos como os poetas expulsos da República pensada por Platão, aqueles que criam simulacros, representações distanciadas de uma realidade supostamente transcendente, exterior, vazia e objetiva. É a ciência que aos olhos da opinião pública detém os meios de acesso à realidade última das coisas, ainda que na prática os cientistas façam muito mais do que descobrir verdades preexistentes. Já a arte parece relegada ao meramente simbólico, a existir em uma “prisão de luxo”, confinada a si mesma.
Há, contudo, diversos movimentos artísticos que buscam fugir dessas limitações. Diversos procedimentos que aparecem nas escritas indígenas, como a abertura para o Outro, a não-separação entre obra e vida, o rompimento com o mito da pureza e com estereótipos identitários, a importância do corpo, a existência em um tempo para além do linear e a capacidade de assumir e reverter o código dominante foram também utilizados por diversos artistas no Brasil, de Oswald de Andrade a Chico Science, passando por Lygia Clark, Haroldo de Campos, dentre outros. É inevitável que os encontros com a diferença, seja entre artistas, antropólogos ou xamãs, se baseiem em pressupostos e posições próprias: há sempre algum tipo de mediação ou lente para o olhar.
Cabe, por isso mesmo, avaliar quais posições estéticas e políticas são as mais suscetíveis às transformações, quais delas nos permitem suspender a certeza que apenas nós controlamos o sentido do mundo. Penso que nesses movimentos, dos quais os artistas citados fizeram parte, houve uma abertura para que outras sensibilidades se infiltrassem no mundo. Talvez por um desses caminhos onde a realidade não se bifurcou seja possível levar em conta a riqueza poética e conceitual criada por tantos povos ameríndios.
No livro recém-lançado Ideias para adiar o fim do mundo, Ailton Krenak faz uma crítica contundente de alguns dos princípios dominantes que nos impedem de enxergar toda multiplicidade de seres que coabitam conosco a Terra. Enquanto no xamanismo há uma busca de ver o sujeito por trás do que parece ser um objeto, no capitalismo o fundamental é que tudo vire mercadoria, isto é, objetos sujeitos à exploração. Nas palavras de Krenak: “Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista”. [nota 2]
Com essa despersonalização do mundo, o que antes eram diversos sujeitos se transformam em apenas uma humanidade, que se concede o direito de explorar uma natureza exterior, passiva, transformada em recursos naturais. Dessa forma, a acumulação de objetos no Ocidente se faz mediante um empobrecimento generalizado dos sujeitos que compõem o mundo. Seu objetivo final parece ser a redução de toda diversidade à monocultura: uma unidade abstrata que, no entanto, projeta um mundo assustadoramente real. Basta contrapor um deserto verde (dominado por uma única espécie) e a Floresta Amazônica; o português e as mais de 160 línguas diferentes faladas no Brasil; as muitas centenas de povos que vivem no continente americano e uma dúzia de Estados-nação; incontáveis espíritos e deuses e um único Deus cristão. O que está em disputa é qual mundo queremos habitar.
Desde o século XX, ou talvez desde o início da industrialização, “nos colocamos num dilema em que parece que a única possibilidade para que comunidades humanas continuem a existir é à custa da exaustão de todas as outras partes da vida”, observa mais uma vez Krenak. Diversas propostas da esquerda no século passado visaram aprofundar o uso da razão para dominar a natureza, o que pouco se diferencia do modo de exploração capitalista.
Esquerda e direita muitas vezes estão cantando a “mesma velha canção”. É o que observa Russell Means [nota 3], importante liderança indígena norte-americana que viu o céu quase cair, quando suas terras foram declaradas “Área de Sacrifício Nacional”, sob o risco de toda região ficar inabitável com a extração de urânio. Segundo ele, tanto o capitalismo quanto o marxismo se comprometeram em perpetuar o processo industrial, com a diferença que a esquerda busca uma redistribuição das mercadorias para uma parcela maior da população do que a direita. O problema crucial, afirma Russell Means em um discurso proferido em 1980 diante de milhares de pessoas, é que a “tradição materialista europeia de desespiritualizar o universo é muito similar ao processo mental que conduz à desumanização de outra pessoa”.
Na antropologia, é conhecida a imagem do xamã enquanto diplomata ou tradutor cósmico, aquele que viaja por diferentes mundos e lida com sujeitos diversos, mas igualmente humanos. Para voltar e contar o que viu, o xamã não pode confundir as perspectivas, caso contrário corre o risco ser capturado pela visão alheia, virando Outro definitivamente. Na teoria da tradução xamanística, um mesmo referente, objeto ou palavra pode significar outra coisa por completo, a depender da perspectiva. Não há uma língua adâmica, absoluta, responsável por igualar as diferenças entre mundos e idiomas. Aqui, “traduzir é se situar na equivocidade e habitá-la”. [nota 4]
Por isso, uma crise de comunicação entre as diferenças não se resolve recorrendo a uma unidade englobante, uma ideia de mundo no qual todos se entenderiam. Estamos diante de uma “arena política que está povoada pelas sombras do que não tem, não pode ter ou não quer ter voz política”. [nota 5] Nessa definição de cosmopolítica dada pela filósofa belga Isabelle Stengers, há inúmeros sujeitos e intencionalidades em jogo, cada um com conhecimentos que são muito mais do que representações particulares de uma realidade unívoca. Os sujeitos em comunicação não precisam ter exatamente a mesma identidade para dialogar. É por isso que as alianças são imprescindíveis.
A solução simplista para evitar que o céu caia, critica Ailton Krenak, é isolar ainda mais a humanidade da natureza. Idealmente, haveria de um lado um mundo onde todos falam a mesma língua e se entendem; do outro, uma natureza pura, protegida e intocada, onde os seres humanos podem apenas passear, mas não de fato interagir. Em contraposição a esse ideal, que na prática cria bolhas de paz em um mundo cada vez mais caótico, os conhecimentos e as poéticas cosmopolíticas dos xamãs dizem respeito às articulações específicas entre seres muito diversos, em intensa comunicação.
A arte da política, para os xamãs, é parte constitutiva da realidade, e não um jogo com palavras vazias. Vários mitos contam que há muito tempo não havia a diferença entre humanos, animais e espíritos tal como existe hoje. A comunicação e a transformação entre seres acontecia com muito mais fluidez. Neste sentido, Eduardo Viveiros de Castro, na conhecida teoria do perspectivismo ameríndio, postula que a humanidade é a condição original de humanos e animais, e não a animalidade, como defende o naturalismo ocidental. Muitas das poéticas indígenas de caráter mítico e xamânico acessam esse tempo originário “altamente transformacional” que nunca passou nem cessa de passar e que se mantém enquanto uma virtualidade, um “tempo onipresente, que tem efeito contínuo sobre o atual”. [nota 6]

Os xamãs yanomami, nos sonhos e nos rituais, conseguem ver que diversas espécies de animais e plantas possuem imagem-espírito. O que chamaríamos de acontecimentos naturais também as possuem, incluindo o vendaval, a poeira, a vertigem, o redemoinho, a tosse, o trovão, etc. Kopenawa também revela que a yãkoana, substância alucinógena que ajuda o xamã a virar-outro, é a comida dos xapiri, seus espíritos-auxiliares. Já os cantos que o xamã canta para fazê-los dançar na verdade ele aprende imitando os espíritos. O aprendizado de conhecimentos, técnicas, desenhos, cantos e histórias com outros seres é algo comum a muitos povos ameríndios, para os quais o que é próprio se constitui na incorporação criativa de elementos estrangeiros.
Assim, Kopenawa descreve que a iniciação xamânica envolve um aprendizado e uma transformação corporal radical, em que os xapiri cortam todo o corpo de quem está sendo iniciado e substituem por outras partes: as junções do corpo são coladas com penas multicoloridas; o peito do xamã vira a casa dos espíritos; sua garganta é substituída pela laringe deles; suas vísceras, seus dentes e sua língua também são trocados pelos dos espíritos, cobertos de penugem e plumagem coloridas.
Enquanto o corpo do xamã fica esticado no chão, sua imagem é transportada pelos xapiri por grandes distâncias. Seguindo seus caminhos, ele consegue acessar diferentes mundos em que ainda é possível se comunicar com os espíritos de outros seres, também habitantes da floresta. Quando retorna de sua viagem por diferentes mundos, o xamã faz o papel de tradutor e diplomata, contando para os seus o que viu e assegurando as diferentes perspectivas.
ESCRITAS INDÍGENAS E ALIANÇAS POSSÍVEIS
Podemos afirmar que a publicação de A queda do céu e de uma série de obras de Ailton Krenak mudam “o nível e os termos do diálogo pobre, esporádico e fortemente desigual entre os povos indígenas e a maioria não indígena de nosso país, aquela composta pelo que Davi chama de ‘Brancos’ (napë)”. [nota 7] Se por tempo demais já ouvimos a história autofágica do Brasil pelos brasileiros, herdeiros dos exploradores de pau-brasil, é mais que tempo de escutarmos as estórias contadas da outra margem da história, de quem os viu chegar. Talvez assim possamos deixar de herança mundos mais ricos em diversidade, e não apenas um mundo mais pobre, onde tudo é tediosamente igual.
Em 1993, no livro Textos e tribos, obra de inquestionável importância na compreensão das poéticas extra-ocidentais produzidas no Brasil, o intelectual baiano Antonio Risério diz poder contar nos dedos de uma mão quem eram os poetas brasileiros que se interessavam por textos indígenas e africanos. [nota 8] Ainda que o propósito de Risério fosse chamar atenção para poéticas sistematicamente excluídas do cânone euro-americano, é preciso questionar seu ponto de partida que cria um grupo predeterminado de quem seriam os “poetas brasileiros”.
Afinal, além de Krenak e Kopenawa, há inúmeros nomes que vêm contando, cantando e pensando em diversas línguas a vida na América Latina, e isso não é de hoje. Desde a década de 1980, no entanto, é reconhecido um aumento exponencial no número de publicações de autoria indígena no Brasil. Um dos primeiros exemplos disso é o livro de traduções em português da mitologia desana, Antes o mundo não existia, assinado por Umúsĩ Pãrõkumu (Firmiano Arantes Lana) e Tõrãmu Kehíri (Luiz Gomes Lana), publicado em 1980. [nota 9]
A escrita e a tradução de poéticas indígenas no Brasil não é um fenômeno isolado do que ocorre em outras partes das Américas. Ainda no começo do século XX, o intelectual peruano Mariátegui diferenciou a literatura feita por brancos e mestiços, da que viria a ser feita no futuro pelos próprios indígenas. Já nos Estados Unidos, desde o século XIX, há registros de centenas de textos de autoria indígena, como autobiografias, narrativas míticas ou pesquisas realizadas por antropólogos “nativos”, como Francis La Flesche. No Brasil, ainda que escassos, também existem registros de escritores e tradutores indígenas há mais de um século. O ponto crucial é que na maior parte das vezes eles não receberam o devido crédito nem tiveram a mesma visibilidade nos meios letrados.
Maximiano José Roberto, por exemplo, indígena tariana e tradutor de diversas narrativas ao nheengatu, antiga língua-geral da Amazônia, foi responsável pela escrita e tradução do Jurupari, só recentemente traduzido para o português por Sérgio Medeiros. Ao ser publicado em 1890, no entanto, um conde italiano assumiu a autoria. Ou Mayuluaípu e Akuli, que não apenas narraram e comentaram, mas traduziram a história de Makunaíma registrada na coleção do célebre etnológo alemão Koch-Grünberg. O zelo dos dois era tanto que eles foram de Roraima até Manaus para entregar pessoalmente os manuscritos na embaixada alemã, embora Koch-Grünberg tivesse dito para deixarem no primeiro correio que encontrassem. [nota 10]
A partir da década de 1960, contudo, houve uma intensificação e um aumento no volume da escrita das poéticas indígenas nos Estados Unidos. Aconteceram por lá os movimentos literários da Native American Renaissance e da etnopoética, em que gêneros literários até então dominados por brancos passaram a ser utilizados pelos indígenas de outras formas. O grande reconhecimento desse Renascimento veio com o prêmio Pulitzer de ficção concedido ao escritor kiowa e doutor em literatura inglesa por Stanford, N. Scott Momaday, em 1969. Na década de 1990, ficou mais que evidente que indígenas não poderiam ser tratados pelos brancos enquanto um tema literário, sendo eles próprios os autores e escritores de suas histórias. Nessa época, uma crise da representação afetou profundamente a consciência etnográfica norte-americana, da qual até hoje eles não conseguiram sair.
Sem dúvida, essa crise trouxe uma série de questões sobre a representatividade da autoria e diversas críticas aos modos que indígenas geralmente são representados em textos e imagens. Obras etnográficas que tratam seus interlocutores como sujeitos abstratos e ahistóricos, como se um narrador indígena fosse tão somente um representante da sua cultura, já não são mais aceitas, se é que um dia o foram.
Para além da atenção aos problemas de um não-indígena em representar um indígena, a crise da representação nos Estados Unidos acabou se aprofundando, de modo que muitos que poderiam se tornar aliados acabaram caindo em um buraco paralisante, no qual é necessária uma identidade absoluta para falar de algo. Enquanto o movimento pós-moderno na América do Norte debatia sobre as possibilidades de representar ou não o outro; na Amazônia, um antropólogo branco, francês, de outra tradição intelectual, seguiu a via da aliança.
Bruce Albert, coautor de A queda do céu, passou quatro décadas convivendo em um verdadeiro diálogo com Davi Kopenawa, assinando com ele um “pacto etnográfico”. O antropólogo francês nota que isso significa a responsabilidade de fazer jus à imaginação conceitual do seu interlocutor, levar em conta o contexto sociopolítico local e global e manter um olhar crítico sobre suas próprias posições. Estrangeiro em terras yanomami, depois de inúmeras refeições, conversas e trocas, Bruce Albert ganha a confiança de ser um mediador frente ao mundo dos brancos. Um aliado, em suma, como também o são Ailton Krenak para diferentes povos da floresta; Claudia Andujar junto aos yanomami; Silvia Rivera Cusicanqui entre os aymara; Aparecida Vilaça e os wari’, dentre várias outras pessoas que se comprometeram a buscar outras “ferramentas conceituais, técnicas e materiais que permitissem resistir ao saque, tanto de recursos materiais como de pessoas (mãos, cérebros) ou, pelo menos, nos ajudar a sobreviver a isso”. [nota 11]
É fundamental ressaltar que a ausência de livros com autoria indígena nos circuitos hegemônicos de circulação expressa se deve mais à falta de interesse e ao silenciamento, por parte dos brancos, acerca da escrita de outras histórias, do que uma escassez na produção poética por parte dos indígenas. Uma vez que as poéticas indígenas não precisam da escrita para existir, os livros são meios de transmissão de conhecimento e transformação no contato com o mundo dos brancos. Narrativas, mitos e cantos os prescindem. Há mais de uma centena de línguas diferentes sendo faladas no Brasil, com traduções entre si que independem do português. Assumir que uma história só exista no caso de ser transcrita e traduzida para uma língua indo-europeia é sinal de claro etnocentrismo. O antropólogo francês Lévi-Strauss demonstrou nas milhares de páginas das Mitológicas que cada narrativa mítica e cada uma de suas partes é uma transformação de histórias narradas por outros sujeitos, que atravessam todo o continente americano. Um mito é basicamente feito de traduções e transformações de outros mitos.
Herdando, em maior ou menor grau, uma forma de pensar em que mito e história estão radicalmente separados, é fácil cair no equívoco de achar que mitos são falsos e que é preciso esclarecê-los pela verdade da razão. Quando isso acontece, somos surpreendidos pela força que um mito pode ter em uma sociedade, especialmente quando ele é acionado para propagar ideias que relacionam tudo o que há de mais contrário a nossa visão de mundo. Por isso mesmo, faz-se necessário criarmos outros mitos que fundamentem modos de resistência e troca. Histórias de alegria, onde só a diferença nos una.
NOTAS
[nota 1]. KRENAK, Ailton. Alianças vivas. Entrevista a Pedro Cesarino. In: Coleção Tembetá. Rio de Janeiro: Azougue, 2017.
[nota 2]. KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
[nota 3]. MEANS, Russel. Discurso de Russell Means. Rio de Janeiro: revista USINA, 2015.
[nota 4]. CASTRO, Eduardo Viveiros de. Perspectival Anthropology and the Method of Controlled Equivocation. Tipiti, vol. 2, 2004.
[nota 5]. STENGERS, Isabelle. A proposição cosmopolítica. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, Brasil, n. 69, p. 442-464, abr. 2018.
[nota 6]. OVERING, Joanna. O mito como história. Mana, v. 1, n. 1, 1995.
[nota 7]. CASTRO, Eduardo Viveiros de. Alguma coisa vai ter que acontecer. In: Encontros Ailton Krenak. Rio de Janeiro: Azougue, 2015.
[nota 8]. RISÉRIO, Antonio. Textos e tribos. Rio de Janeiro: Imago, 1993.
[nota 9]. PÃRÕKUMU, Umúsi; KEHÍRI, Tõrãmu. Antes o mundo não existia. São Gabriel da Cachoeira: FOIRN, 1995 [1980].
[nota 10]. SÁ, Lúcia. Literaturas da floresta. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2012.
[nota 11]. CUSICANQUI, Silvia Rivera. A necessidade urgente de descolonizar a pesquisa social latino-americana. Rio de Janeiro: revista USINA, 2019.