
O primeiro tema da reflexão grega é a justiça. Este verso de abertura do poema intitulado Catarina Eufémia [nota 1] (do livro Dual, de 1972) representa uma das premissas da obra literária de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004). Do primeiro livro, Poesia (1944), ao último, O anjo de Timor (2003), encontra-se um dos fundamentos da sua vida e da sua obra: o sentido de justiça – talvez como enfrentamento dos quase 50 anos de ditadura salazarista que acompanharam o seu percurso.
No poema citado, Sophia chama atenção para o papel da mulher: camponesa, pobre, trabalhadora que “sabe fazer frente” e não recua na luta pelos seus direitos, criticando os estereótipos tradicionalmente atribuídos ao universo feminino: E não ficaste em casa a cozinhar intrigas / Segundo o método antiquíssimo das mulheres, adotando uma postura abertamente crítica, engajada e feminista. A justiça vincula-se à resistência assim como a camponesa contracena com Antígona que poisou a mão sobre o teu ombro no instante em que morreste.
A Grécia, então, surge como referência central no imaginário da poeta. Cultura modelar, o impacto acontece não apenas através da leitura de Homero, Ésquilo, Eurípedes ou do deslumbramento com a natureza “a mais bela paisagem que vi” [nota 2], mas sobretudo pelo fato de ter encontrado ali a possibilidade da “religação do homem com as coisas”, religação que alude ao conceito de physis em que humanos, deuses e natureza vivem em perfeita harmonia, refletindo o mundo imanente e justo.
Mas o que se sabe é que a justiça não é um tema que se vincula necessariamente ao mundo adulto e literário de Sophia. Nascida numa família culta e católica, a consciência política surge a partir de um fundamento religioso atuando como uma segunda premissa (e aqui se anulam os acidentes de grau), como explica a autora numa entrevista a Eduardo Prado Coelho:
“Penso que uma educação católica cristã predispõe para a política na medida em que nos responsabiliza. Quem ouve dizer desde pequena que se ‘Me abandonaste quando eu tinha fome, se Me abandonaste quando eu tinha sede não Me encontrarás no reino dos céus’ é necessariamente posta perante uma exigência em relação aos outros”. [nota 3]
Desse ângulo, pode-se dizer que as duas culturas – pagã e católica – exigem da poeta uma postura ética e uma consequente atenção voltada para as desigualdades sociais e contra todas as formas de opressão. E pedem, cada uma na sua medida, o exercício da reflexão constante e de um humanismo que não permite nenhuma forma de exclusão. É deste lugar que a sua poesia nos fala: Musa ensina-me o canto / venerável e antigo / o canto para todos / por todos entendido (Livro Sexto, 1962).
É também deste lugar que a cidadã exercita a sua consciência política: foi signatária do “Testemunho dos católicos” [nota 4], também conhecido como o Manifesto dos 101, assinado no ano de 1965 em defesa dos “fundamentais e inalienáveis direitos de cada homem” [nota 5]; uma das fundadoras e membro da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos (CNSPP), criada em dezembro de 1969; e eleita deputada pelo Partido Socialista na Assembleia Constituinte de 1975, participando da elaboração da nova Constituição Portuguesa. São exemplos suficientes da postura ética que adotou durante a vida. Portanto, vida e obra refletem o mesmo sinal. Não à toa, o início da sua carreira como escritora vincula-se aos Cadernos de Poesia. Publica pela primeira vez aos 21 anos de idade, em 1940, no primeiro número da revista dirigida por José Blanc de Portugal, Ruy Cinatti e Tomaz Kim, cuja independência de pensamento se resume na antológica frase “A Poesia é só uma!”, sinônimo de uma recusa voltada para qualquer imposição literária ou ideológica, enfatizando o caráter libertário daqueles que circulavam em torno dos Cadernos.
Esse embricamento entre arte e vida, somado à constante lucidez e ao desejo de atingir uma dicção absolutamente lógica e clara, estão visceralmente associados ao seu pensamento político. Daí resulta o texto Poesia e revolução (em O nome das coisas, 1977), em que é possível constatar o vínculo essencial entre poesia e política [nota 6]:
“É a poesia que torna inteiro o meu estar na terra. E porque é a mais funda implicação do homem no real, a poesia é necessariamente política e fundamento da política.”
O projeto poético de Sophia exige a implicação do homem no real e, portanto, não abdica da concretude nem do ponto de vista da linguagem, nem da radicalidade da experiência do que é vivido. Esse modo de ser/estar no mundo pressupõe a busca pela inteireza, a qual a poeta várias vezes se refere seja como tentativa de dar sentido e coesão ao mundo (o que justifica a força do imaginário grego na sua poética), seja na busca de si própria (Aqui despi meu vestido de exílio / E sacudi de meus passos a poeira do desencontro, do livro Geografia, 1967). Implicar-se no real é, necessariamente, entrar no combate em busca de uma verdade; assim, qualquer que seja o poema ele terá sempre um viés ético, logo, político. E, hoje, o que talvez cause certo espanto nos leitores – tão acostumados a rupturas, fragmentações, dissimulações e certos hibridismos literários surgidos, com mais força, desde os inícios do século XX – sejam a veemência e frontalidade dessa voz que não recua diante da opressão, do medo e da violência.
Em tempos, novamente, tão obscuros em que os homens renunciam (Mar novo, 1958), em que técnicas dissimuladas de repressão vão sendo urdidas e as humanidades solapadas, em que o agronegócio ignora a proteção ambiental e o poder econômico das grandes potências supera qualquer tentativa de negociação e reintegração de refugiados, vale a pena recordar o poema O velho abutre (de Livro Sexto) no qual a poeta, através de versos epigramáticos, critica não apenas o ditador António de Oliveira Salazar, mas também aqueles que compactuavam com o seu governo. Cito o poema:
O velho abutre é sábio e alisa as suas penas
A podridão lhe agrada e seus discursos
Tem o dom de tornar as almas mais pequenas.
Sophia, de modo conciso e complexo, nos apresenta a figura de Salazar associada ao pássaro longevo. Define o abutre: sábio porque, ao alisar as próprias penas, sabe mantê-las limpas e protegidas para que nada desestabilize a duração do seu voo, isto é, as estratégias que o mantiveram no poder; e define o seu alimento: a podridão. O abutre come e produz o fruto da mesma matéria daquilo que come, já que tem o “dom de tornar as almas mais pequenas”.
Esta imagem cíclica – espécie de processo de retroalimentação – pode ser evidenciada na lógica rigorosa do terceto. Enquanto o primeiro verso se refere ao abutre, o terceiro se refere à ação da ave, que incide sobre as almas, sugerindo certa estranheza de sentido. Porém, essa estranheza é iluminada pela centralidade do segundo verso. Centro da estrofe e centro do poema, é nele que a metáfora do abutre se revela como homem, via discurso. A poeta não retira do abutre nem a sua sabedoria e nem a sua experiência, não ignora o saber do ditador, apontando o domínio da linguagem e do discurso como elementos fundamentais para tornar as “almas mais pequenas” e, simultaneamente, através de uma imagem especular, revela que são as almas pequenas que mantêm e alimentam o discurso do ditador.
Ela sabe que este ciclo vicioso ajudou a manter Salazar por mais de 40 anos no poder, como afirma no documentário intitulado O nome das coisas (2007): “Era uma coisa que eu dizia de certos grandes homens do Estado Novo, é que eles tinham uma inteligência que era feita da estupidez dos outros”. [nota 7]
E se, em O velho abutre, o discurso é o que mantém a dependência entre dominador e dominados, a mesma lógica se revela na construção da imagem poética, já que a palavra final do primeiro verso “penas” está contida no último, “pequenas”. A paronomásia revela a introjeção e manutenção do discurso, simbolizando assim a sua aceitação e a consequente estagnação do meio ao qual pertence, lembrando ainda que o discurso, enquanto palavra-imagem, está cerceado pelos dois versos alexandrinos. Do mesmo modo, a sonoridade marca a oposição entre a aspereza das consoantes oclusivas e das vibrantes (destacadas em itálico a seguir) nas palavras abutre / podridão / agrada, e certo arrefecimento nas líquidas presentes em alisa e almas, reforçando a imagem de um discurso que simultaneamente tem a capacidade de oprimir e adular o sujeito, instaurando um ciclo constante no tempo como duração do caos.
A força do poema está justamente na condensação dos versos e na economia das imagens que vão no caminho oposto da retórica demagógica e de convencimento usada pelos ditadores com muita habilidade. A imagem poética revela sem nomear. Sophia escreve O velho abutre no período da ditadura, escreve por dentro, no presente histórico, correndo o risco de ser também uma das vítimas do seu sistema. Recordo também o poema da polonesa Wisława Szymborska, ganhadora do Nobel, intitulado Primeira foto de Hitler, cujo tom absolutamente irônico cria uma sobreposição de tempos que, no mínimo, permite ao leitor reviver o Holocausto e simultaneamente ver o perigo da cegueira humana e de seu silêncio diante de catástrofes iminentes.
Estes poemas – tanto de Sophia quanto de Szymborska – marcadamente históricos, hoje, diante de uma Europa assombrada com o crescimento dos partidos de direita, dos retrocessos políticos do governo Trump e da diminuição de governos de esquerda na América do Sul causada especialmente pelos escândalos constantes de corrupção, recuperam uma incômoda atualidade. E a figura do abutre – que não se restringe à de Salazar – lembra que o autoritarismo, as desigualdades sociais impostas pelos sistemas opressivos, a ausência de cultura e de educação contribuem sistematicamente para o apequenamento de um povo e de seu país: Pois a gente que tem / O rosto desenhado / Por paciência e fome / É a gente em quem / Um país ocupado / Escreve o seu nome (de Geografia).
Diferentemente de uma parte significativa de escritores, como Adolfo Casais Monteiro, Jorge de Sena, Victor Ramos, Fernando Lemos, que decidiram sair em direção ao Brasil, a poeta opta por ficar em Portugal – Porém aqui eu escolhi viver / Nada me resta senão olhar de frente / Neste país de dor e incerteza / Aqui eu escolhi permanecer / Onde a visão é dura e mais difícil (Livro Sexto) e enfrentar os problemas causados por tal escolha, como a prisão do seu marido, o jornalista, político e advogado Francisco Sousa Tavares; as constantes escutas telefônicas; a censura e apreensão de cartas; o afastamento dos parentes por motivos políticos; ou seja, uma quantidade imensa de restrições, inclusive financeiras, que dificultava o cotidiano da família. Por outro lado, na sua reflexão poética a geografia não se restringe a Portugal e Grécia, e sua capacidade de olhar para a realidade e ver com lucidez o “espantoso sofrimento do mundo” (do poema Arte poética III) indica que no mapa da sua consciência política não há fronteiras. As imagens migram para Espanha, Argentina, Brasil e Timor-Leste: Federico Garcia Lorca (A noite não pode beber nossa tristeza / E por mais que te escondam não ficas sepultado, de Geografia); Ernesto Che Guevara (Contra ti se ergueu a prudência dos inteligentes e o arrojo dos patetas / A indecisão dos complicados e o primarismo / Daqueles que confundem revolução com desforra, de O nome das coisas); brasileiros (Gente que fez da ternura / Nova forma de cultura / País da transformação / Mas ao Brasil que tortura / Só podemos dizer não, em Poemas dispersos) [nota 8] – e jovens timorenses que foram covardemente assassinados pelo exército da Indonésia no conhecido Massacre de Santa Cruz, em 12 de novembro de 1991 (Timor cercado por um muro de silêncio / Mais pesado e mais espesso do que o muro / De Berlim que foi sempre tão falado, de Musa, 1994).
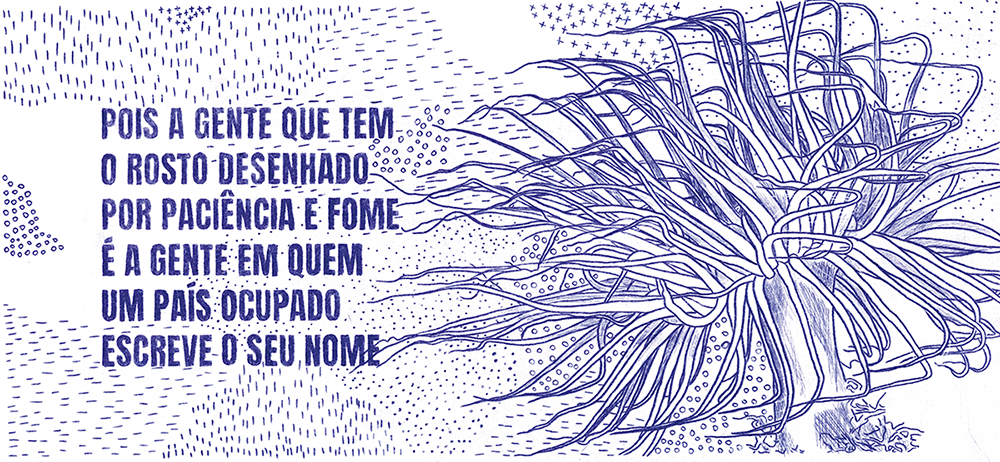
Parece-me que a preocupação política e social de Sophia se evidencia como uma constante no espaço e no tempo, caminhando em duas direções: contra qualquer tipo de opressão e violência impostas, principalmente, pelos sistemas ditatoriais, o que não a impediu de fazer a autocrítica dos partidos de esquerda (Nestes últimos tempos é certo que a esquerda fez erros / Caiu em desmandos confusões praticou injustiças, de O nome das coisas) e, principalmente, tendo a democracia e a liberdade de expressão como valores norteadores de um mundo justo, estar atenta para as radicalidades e os abusos da mesma esquerda, como afirma numa carta endereçada a Jorge de Sena: “Acho que não se pode criar em nome do antifascismo um novo fascismo” [nota 9]; e contra a demagogia (Com fúria e raiva acuso o demagogo / E seu capitalismo das palavras // Pois é preciso saber que a palavra é sagrada / Que de longe muito longe um povo a trouxe / E nela pôs sua alma confiada, em O nome das coisas), a noção burguesa de cultura e um falso intelectualismo que radica na sua própria incompetência e alienação.
Ao olhar o conjunto e a coerência da obra de Sophia de Mello Breyner Andresen não se deve, de modo algum, como costuma fazer uma parte da crítica literária, nem acusá-la de aristocrática e nem mesmo afirmar que a sua poesia revela uma linguagem quase asséptica, tendo a natureza como tema central. Erro grave e crasso. Retomar versos do poema Musa – Musa ensina-me o canto / venerável e antigo / o canto para todos / por todos entendido – é dar a ver aos leitores o desejo profundo da poeta não só de que seu canto seja entendido por todos, mas também de ratificar a conquista da liberdade, frontalmente e sem recuos, como o fizeram Antígona e Catarina Eufémia. E, aqui, relembro as palavras do poeta Nuno Júdice, no documentário citado há pouco, ao afirmar que a casa da poeta era uma “espécie de espaço… onde viviam a liberdade antes dela existir em Portugal”. A luta de Sophia se dá pela palavra poética como deixa evidente o poema Revolução:
Como casa limpa
Como chão varrido
Como porta aberta
Como puro início
Como tempo novo
Sem mancha nem vício
Como a voz do mar
Interior de um povo
Como página em branco
Onde o poema emerge
Como arquitectura
Do homem que ergue
Sua habitação
Prescindindo, momentaneamente, da imagem central organizadora do poema – o título Revolução que se encontra fora do corpo do texto – a conjunção comparativa “como” abre o primeiro verso e no seu movimento anafórico (surge oito vezes) gera uma espécie de ruído gramatical, já que a frase parece sintaticamente incompleta. Num primeiro momento, o leitor não sabe ao certo qual a relação que as imagens, claras e simultaneamente deslocadas no seu conjunto, estabelecem com o elemento central que serve de eixo de comparação. A casa e os seus elementos constitutivos (“chão” e “porta”), o tempo (“puro início”), a voz do mar (que ecoa o povo de navegadores) e a página em branco (onde o poema se constrói) distanciam-se do núcleo do poema contido no título e esquecido no decorrer da leitura.
Sob o impacto da repetição, o ritmo do poema se impõe: acumulação e espaçamento. Se, inicialmente, através da enumeração anafórica há uma espécie de acúmulo de vários termos comparativos em relação à figura central, mimetizando o ato de construir algo, camada a camada, verso a verso, na sequência da leitura há uma desaceleração imposta pela diminuição do ritmo, marcada pela repetição agora mais espaçada (na primeira estrofe aparece três vezes a conjunção “como”; na segunda, duas; terceira, uma; quarta, uma), sugerindo o acabamento daquilo que se constrói. A gradação dos elementos comparativos sofre uma redução, mas o efeito de sentido se dilata para o conjunto dos versos. Portanto, é a força imposta pelo ritmo inclusivo de imagens que vai dando corpo ao poema ainda que para cada núcleo estrófico haja temas, aparentemente, divergentes pela sua abrangência simbólica.
A primeira estrofe refere-se ao tema da casa: “chão” (fundamento) e “porta” (passagem). Também alude ao trabalho cotidiano do ser humano comum, limpar e varrer, e o seu direito à liberdade de ir e vir. A segunda estrofe, aparentemente mais abstrata, remete ao tempo: o início de um novo ciclo intensifica a imagem anterior de limpeza em que nada está maculado. A terceira, ainda mais abstrata, metaforiza a voz do mar, personificando a voz de um povo que saindo do seu interior, da sua fundura e do seu silêncio agora pode ser ouvida. Não há como fugir da imagem coletiva daqueles que fizeram a história de Portugal, assim como também o seu contrário, a voz de uma coletividade silenciada pela ditadura e que agora ganha projeção e força através da metáfora do mar.
Transitando do concreto ao abstrato, do individual ao coletivo, do natural ao “civilizado”, do espaço fechado ao aberto, essas imagens, ao mesmo tempo em que podem ser lidas autonomamente, vão se articulando e criando a argamassa que dará corpo ao poema. Contudo, a potência desta imagem-síntese (Revolução) só pode ser percebida através de um olhar atento voltado para a sua construção. O movimento anafórico e, portanto, enumerativo de inclusão de imagens – reorganizador do que estava disperso e abafado – somado à presença do enjambement em duas sequências similares (5º e 6º; 7º e 8º versos – definindo tempo e espaço de modo relativamente abstrato) e uma terceira sequência, a partir do 9º verso, que segue, significativamente, sem interrupção até o final do poema, são fundamentais para que o leitor possa visualizar a concretização do poema, especialmente na sequência final onde se constrói o seu ponto de virada.
Se as três estrofes iniciais revelam o homem e a sua casa, o tempo e o espaço – imagens que permitem saltar da particularização de um sujeito qualquer para uma coletividade que assume ser um novo Portugal em um tempo que se inaugura, livre, sem as amarras e servidões impostas pelo regime salazarista – as estrofes seguintes apresentam a inclusão de dois termos que, unidos, ganham uma força inusitada: do ponto de vista imagético, a página em branco; do ponto de vista sintático, o verbo “erguer” impondo o seu caráter dinâmico, sua ação de emergir desdobrando-se em erguer, ou seja, materializando o poema que se edifica aos olhos do leitor na página em branco.
Essa aparição deve-se a duas mudanças estruturais percebidas no decorrer da leitura, especificamente pelo lugar que o verso “onde o poema emerge” ocupa no conjunto das estrofes. A primeira delas refere-se ao fato de o verso poder ser lido tanto em relação ao verso anterior (na 4ª estrofe), “como página em branco”, quanto em relação ao primeiro verso da 5ª estrofe (“como arquitectura”), o que permite a seguinte leitura: Como página em branco / Onde o poema emerge / Como arquitectura.
Ao se definir o lugar onde o poema emerge – na página em branco – define-se o modo como ele o faz: arquitetura.
A segunda mudança refere-se à alteração gramatical da palavra “como” (organizando o poema da primeira até a quarta estrofe), que, para além de funcionar como base de comparação em relação àquilo que está fora do poema – ou seja, seu título – agora, na última estrofe, também pode operar como advérbio de modo. Se o sentido do verso “onde o poema emerge” transita para as duas estrofes (anterior e posterior), o advérbio de modo, por sua vez, determina a dependência da estrofe final em relação ao verso citado. Portanto, o vínculo sintático enfatiza a dependência de sentido. Desse modo, o poema assume sua verticalidade, visualmente, como corpo, estrutura e obra acabada. Poema-arquitetura cujos blocos (cinco estrofes) constituídos de redondilha menor, com exceção da quarta estrofe (que apresenta seis sílabas poéticas), configuram uma espécie de coluna obedecendo a sua frontalidade, desafiando o caos e instaurando a ordem.
Esse movimento ascensional resgata as imagens anteriormente lançadas, incluindo-as no seu corpo que, sendo a habitação do poeta, é também casa, tempo, mar e voz. O poema está construído e somente na sua realidade material, letras na página em branco, é capaz de dizer as coisas do mundo. A construção impõe uma circularidade através dos substantivos sinonímicos, “casa” (início) / “habitação” (final), dando ao trabalho poético a mesma dimensão das coisas prementes, necessárias ao humano. Essa sincronia das coisas que estão no poema e das coisas que estão no mundo se revela agora como fundamento da revolução, e talvez, desse ângulo, o uso reiterado do hipérbato explique o espanto do sujeito lírico diante da Revolução dos Cravos, lembrando que o poema aparece datado: 27 de abril de 1974. Esta suposta “desordem” imposta pela emoção diante do fato histórico é rapidamente reorganizada pela autora que, na sequência gradativa da comparação, subverte o conceito tradicional de revolução. Não há interesse pela destruição ou pela violência, nada é posto abaixo, ao contrário, a marcha da revolução é clara, construtiva, arquitetada. O processo histórico – silenciamento, opressão e violência – vivido pelos portugueses é o negativo da imagem revelada. Está lá. Nada se perdeu.
Sophia sabe articular na sua poesia o movimento interno do poema – constrói por dentro, tecendo as coisas do mundo até alcançar o real, trazer à tona a arquitetura da palavra como coisa revelada: Digo / “Lisboa” / (...) Digo o nome da cidade / – Digo para ver (Navegações, 1983) – sem perder de vista a agudeza e a coragem de olhar de frente para o que está fora: a História, o tempo, o outro. E sempre com os olhos fitos No real / Atento / À rota nunca recta (de O búzio de cós e outros poemas, 1997).
NOTAS
[nota 1]. Catarina Efigênia Sabino Eufémia nasceu em Baleizão, na região do Alentejo, em 1928. Esta ceifeira, mãe de três filhos e grávida do quarto, foi assassinada, aos 26 anos, por um militar da Guarda Nacional Republicana, o tenente Carrajola, em 19 de maio de 1954. Devido às difíceis condições salariais e de trabalho, um grupo de camponesas – entre as quais Catarina – dirigira-se à residência do patrão para reivindicar um aumento no pagamento da jornada feminina de 16 para 23 escudos.
[nota 2]. Andresen, S.M.B. e Sena, J. Correspondência – 1959-1978. 3ª ed. Lisboa: Guerra e Paz, 2010. Página 79.
[nota 3]. Mourão, P. e Amado, T. (orgs.). Sophia de Mello Breyner Andresen – uma vida de poeta. Alfragide: Editorial Caminho, 2010. Página 175.
[nota 4]. Como protesto em relação ao regime ditatorial, a Igreja progressista organizou duas vigílias: a da Paz, em 1968, e a da Capela do Rato, em 1972. Sophia participou de ambas e seus poemas Porque e Ouvimos e lemos, tornaram-se símbolos de resistência (em Nery, Isabel. Sophia de Mello Breyner Andresen: Biografia. 2ª ed. Lisboa: A esfera dos livros, 2019).
[nota 5]. Texto do espólio de Sophia de Mello Breyner Andresen publicado no site oficial da BNP, disponível em purl.pt/19841/1/1960/galeria/f9/foto2.html. Acesso em 15 de outubro de 2019.
[nota 6]. Vale a pena chamar atenção para a antologia intitulada Grades – poemas de resistência, publicada em 1970, cujos poemas foram selecionados pela própria Sophia. Também indico dois trabalhos voltados para o tema: a dissertação de Nathália Macri Nahas, Grades: uma leitura do projeto po-ético de Sophia de Mello Breyner Andresen (USP, 2015), e a tese de Eloisa da Silva Aragão (USP, 2017), Sophia de Mello Breyner Andresen: militância antifascista a partir da crise do Estado Novo (1958-1974), análise do conto “O jantar do bispo” e atuação na Assembleia Constituinte (1975-1976).
[nota 7]. Frase muito semelhante aparece no conto Retrato de Mónica: “Ela põe a sua inteligência ao serviço da estupidez, ou mais exatamente: a sua inteligência é feita da estupidez dos outros. Esta é a forma de inteligência que garante o domínio. Por isso o reino de Mónica é sólido e grande.” (Andresen, S.M.B. Contos Exemplares. Lisboa: Assírio & Alvim, 2010. Página 135). Esta personagem é inspirada nas senhoras do Movimento Nacional Feminino, que apoiava o regime de Salazar.
[nota 8]. Este poema foi escrito em 1977 e publicado pela primeira vez na revista Loreto 13, n° 8, março de 1982.
[nota 9]. Andresen, S.M.B. & Sena, J. Correspondências 1959-1978. 3ª ed. Lisboa: Guerra & Paz, 2010. Página 54.