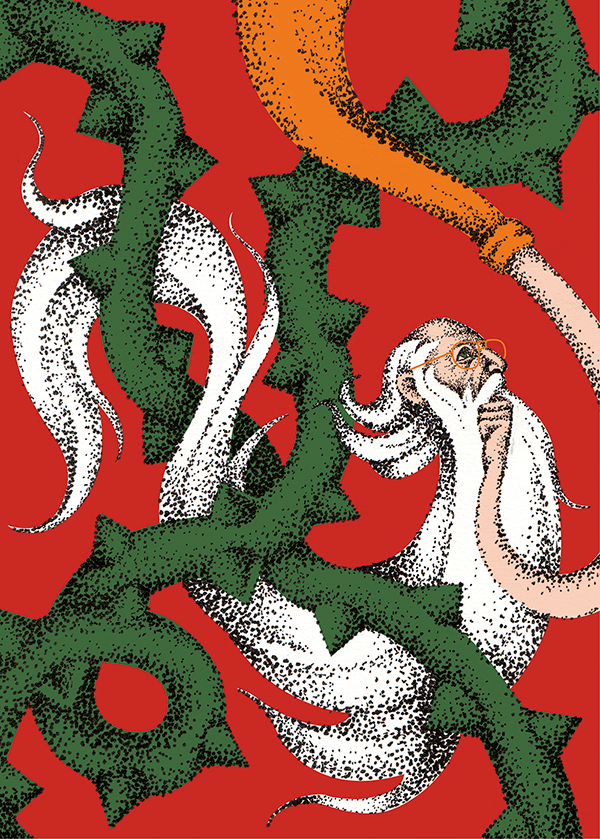
Iê volta do mundo…
Iê que o mundo deu…
Iê que ainda vai dá…
Seja na grande roda da vida ou na pequena roda do jogo, quem tem o nome lembrado não morre, pelo contrário, quando a chamada é feita o caboclo responde, baixa, brinca e batalha. Quantas luas se passarão para que a gente entenda que esse tal tempo do “progresso” nos plantou uma mentira, um quebranto que torna dissonante os nossos sentidos (alguns, hoje, já quase esquecidos)? É aí que o mundo dá volta e o jogador, que lê mandinga, faz a volta nele. Serpenteamos nesse tempo circular, o que acontecia ontem se passa também agora, qual será o jeito que o corpo dará para responder as demandas lançadas? Vamos se embora camarada, camará é hora, é hora… Se benze, fecha o corpo, baixa no pé do berimbau e sai para mais um jogo. O que não falta por aqui é batalha, logo uma termina a outra se inicia: Oh sim, sim, sim! Oh, não, não, não! Hoje tem, amanhã não! Hoje tem, amanhã não…
Vivemos um tempo de guerra, um tempo que dura mais de cinco séculos. A colonização é o que marca esse tempo, um evento inacabado que instalou as vigas que construíram e sustentam esse mundo que não é possível para todos. Por isso, ela nos atravessa, planta suas bases no mais profundo e sensível de nossas existências, nos adultera para que sejamos servis. Como nos soprou o preto-velho revolucionário Frantz Fanon, em seu caráter não se ergue civilidade, mas sim violência, destruição e humilhação. A colonização, ao contrário do que muita gente pensa, não é um fenômeno datado e não se limita à dominação e gerência de um território por parte da metrópole. Ela é mais. Consiste em um assombro que se manifesta nas diferentes formas de terror presentes até os dias de hoje.
Suas marcas estão em tudo, suas obras se impõem diante de cada passo dado nas margens e cantos dessa terra obsediada pelo olho grande do projeto contrário à vida. Da cara de pau de inventar descobrimentos, de reduzir a diversidade do mundo ao outro do europeu, da intervenção militar, catequização, guerra justa, plantation, estupros, torturas, esculachos, mercantilização de tudo, seja gente, água ou fé. As raízes das catedrais coloniais são profundas e firmam um Brasil que se amortalhou no terno dos “homens de bem”. Esse Brasil que penhora seus viventes na instalação de uma “bancocracia” vê na mortandade o impulso para o lucro. Afinal, a riqueza para eles é um ideal de grandeza ancorado na escassez, na pilhagem de corpos e no desmantelo do mundo.
Pisando rasteiro e atento aos movimentos do mestre no jogo, ato aqui uma pergunta: qual é a possibilidade de existir plenamente diante da imposição desse trauma instaurado aqui há mais de cinco séculos? Essa é uma questão que mobiliza a educação em sua radicalidade. A educação como fundamento do vivo, da ética e da capacidade que cada um de nós tem de se inscrever na relação com o outro como uma resposta responsável. A educação como prática de liberdade, ação dialógica e amorosa implica-se na libertação dos seres submetidos ao cárcere existencial e no rompimento com as lógicas de um sistema que estabelece contratos sociais regidos na subordinação da raça, gênero e classe.
Dessa maneira, se a educação se lança como um dos fundamentos da vida, das suas diferentes manifestações e da capacidade de nos inscrevermos no tempo, o enfrentamento à violência e ao esquecimento perpetrado pela lógica colonial demandam pedagogias próprias. Essas pedagogias emergem não como métodos cristalizados por obsessões cartesianas, mas como fazeres insurgentes, táticos, atentos às diferentes formas de sentir, fazer e pensar nas margens do planeta. Encaro a educação como um modo de tecer pertencimentos, circular experiências e roçar esperanças, por isso tenho apostado que a sua principal tarefa nessas bandas do planeta é praticar a descolonização.
É necessário convocar, compartilhar e inventar formas de desaprendizagem do cânone. Praticar uma espécie de capoeiragem com o modelo que se quer único e investe na apreensão das presenças, saberes e na instalação de dispositivos de poder colonial. Caçar os vazios deixados por esse projeto de dominação e desferir palavras de força que mobilizem o reposicionamento dos seres que são violentados. Garantir nesse jogo formas de justiça social, cognitiva e o reencantamento do mundo. A tarefa da educação é criar condições para um vir a ser em que as potencialidades, autonomia, liberdade e dignidade não sejam restringidas, mas sim orientadas por uma ética.
A pedagogia, por sua vez, atrelada ao ideal da educação, busca quais ações podemos exercer de maneira crítica e coletiva para que tal fenômeno se dê de maneira justa, equânime, afetuosa e responsável. Nesse tom, educar é sempre um processo de alteração e responsabilidade com as diferenças, por isso a emergência de desaprender dos parâmetros que se proclamam o único caminho possível. Esquivar da arrogância e prepotência de modos que não condizem com a diversidade do mundo, que a partir do seu narcisismo e neurose cultural praticam uma política totalitária que, de maneira dissimulada, vende um universalismo excludente. A educação como tarefa de descolonização nos implica o exercício de outros modos de existirmos, habitarmos e atravessarmos o tempo que não sejam os postulados, pregados, impostos e vendidos pela empresa colonial.
A descolonização se faz, a meu ver, não como um passe de mágica, não se reduz à proclamação de independência, muito menos ganha força sendo utilizada como fetiche conceitual. Ela é um roçado de práticas cotidianas que insurgem contra o estrangulamento do mundo e o desperdício das experiências sociais dos povos submetidos aos ditames da cultura colonizadora. A descolonização deve ser encarada como palavra geradora que mobiliza vibrações combatentes da escassez, do encapsulamento do tempo e do quebranto dos ciclos vitais. Tecida nos modos de fazer dos praticantes desse lugar, as palavrações mundo dos condenados e oprimidos daqui, como um surdo de terceira, ritmam o sincopado que contraria e atazana o caráter monológico desse modelo produtor de dicotomias.
Firmo com os mais velhos desse jogo que cruza amor e fúria: a descolonização se dá na medida em que o colonizado se reconhece em meio à guerra que ele foi lançado. Sem direito à escolha, mutilado pela ambivalência, asfixiado pelo peso do mundo que lhe foi imposto, cambaleante na condição de ser na medida em que, a cada passo, tentam incutir o seu desvio existencial, o colonizado se rebela, finta, rasura, cospe, maldiz, cria. A descolonização é um riscado de batalha, um cruzo em que a virtuosidade amorosa não deixa de ser também uma faca de ponta. Se podemos dizer que a colonização é uma guerra secular que permanece até os dias de hoje, podemos dizer também que ela não se sagrou vencedora por aqui, uma vez que há inúmeros registros de transgressão, rasura, invenção e invocação da vida contra essa empreitada.

Lançados a esses campos de batalha, haveremos de nos armar com as mandingas dos caboclos desse lugar: ler esse mundo com os dizeres que nos foram impostos não é suficiente. As gramáticas maternas, as tecnologias ancestrais, os princípios comunitários, os chãos, matas, águas, corpos daqui são leituras que precedem as das línguas que reduzem subjetividades e tentam conformar outros sentidos de mundo. Por isso, devemos fazer perguntas que vibrem em outros tons e mobilizem forças que combatam essa lógica perversa. O caboclo negaceia, pede volta ao mundo e, agachado ao pé do berimbau, amarra o verso: como esperançar em um tempo de profundo desencanto?
O movimento banhado na utopia atravessa o tempo e encarna a tensão entre a denúncia de um mundo cada vez mais inaceitável e o anúncio de um tempo a ser erguido por aqueles que estão nessa roda. A esperança, como nos lembra o caboclo Freire, não é meramente uma alternativa, mas um imperativo existencial, político, ético e estético daqueles que são atravessados pelo trauma colonial e seu contínuo de violência e desigualdade e por isso fazem da vida um curso de reinscrição da história.
Em 2021, o centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, se dá justamente em um contexto em que a nossa sociedade é exposta ao terror e à atualização das formas de dominação colonial. Nessa onda, seu nome e obra são alvejados sistematicamente por discursos que o desqualificam, simplificam e o utilizam em prol do fortalecimento da polarização e de retóricas maniqueístas. Produzido como estereótipo, pintado como Deus e o diabo, se esquecem que Freire é parido em uma terra livre do pecado onde, ao mesmo tempo, ninguém é santo. Daí, não adianta cercá-lo em uma das bandas de um mundo cindido, pois o caboclo nos convoca ao diálogo. Vida, arte e conhecimento se integram em seu ser educador, que em suas inscrições pedagógicas revelam o comprometimento e a luta com a principal tarefa da educação: invocar a vida e fazer dela um ato de amor e responsabilidade ao outro.
O lá, o lá ê!
Já bati quero ver cair!
A educação vibrada e defendida por Freire ao mesmo tempo versa e emana as energias de um Brasil profundo, popular enquanto esfera pujante da diversidade de saberes de sua gente. Combativa ao elitismo, a ortodoxia da agenda curricular e aos privilégios fincados nos alicerces coloniais, as práticas pedagógicas freirianas não titubeiam em se reivindicar como fazer político de responsabilidade cognitiva implicada ao caráter plurilinguista e pluriversal do mundo. Revolucionária como um menino e firme como a pisada do velho, ela integra dimensões que são capazes de atravessar o tempo e permanecer imantada de vivacidade. Assim, ela acontece de maneira sensível e com os pés no chão, como modo característico daqueles que são capazes de dobrar a morte pela beleza e arte do encanto. Ela não mira o acúmulo de nada, mas a transformação da experiência em liberdade, esperança e utopia.
Esperança e utopia, palavras de força que atualmente podem ser lidas como fora de moda, mas que no fundo nos chamam a pensar o conflito como dimensão estruturante da educação e da liberdade. Ao contrário do que a catequese buscou nos ensinar, dissimulando suas práticas de escolarização, se a educação é inerente à chamada condição humana, então não há uma única forma de educar. A variedade de educações corresponde à diversidade de formas de ser e saber. Por isso, nos dias de hoje, devemos lembrar a patente teológico-política e bancária das investidas que querem destituir da educação o seu caráter político. Assim, mais do que contradizer o próprio fenômeno educativo e fazer uso da palavra apenas como um simulacro, a defesa de uma educação que não seja política se coaduna com longa história da empresa colonial nessas bandas.
A educação é como ginga, experiência e manifestação do ser expressa como saber corporal que nos lança no jogo da relação. Um brinquedo de guerra, que se atenta às belezas do mundo e nos deixa atentos a batalhar por elas. Dessa maneira, ela é um fazer produtor de cismas, perguntas, curiosidades, brincadeiras, caoticidade e crítica. Não se tem ginga sem alteração do ritmo, sem preencher com o corpo o vazio deixado pela síncope. Dessa maneira, não há educação enunciada nem a partir de um padrão de existência, nem subalternizando outros modos. Educação é um acontecimento dialógico que nos mobiliza a identificar que a única possibilidade de sermos iguais é no reconhecimento e trânsito de nossas diferenças. Por isso, ela é primordialmente de caráter ético e estético, e só é possível de se dar na concretude da vida, suas práticas, movimentos e transformações.
Nas voltas que o mundo deu, nas voltas que o mundo dá, no Brasil de hoje o caboclo Freire, excomungado como mau cristão por saber ir ao campo de batalha, brada com valentia: “Negam a mim a condição de educador, por ser demasiado político, porém são tão políticos como eu. Certamente, contudo, numa posição contrária à minha”. Ruins de jogo e de ginga, os defensores da retidão não sabem dobrar uma esquina, por isso insistem em nos convencer que é um sucesso a reprise do BBB na colônia: a bala, o boi e a bíblia. Por aí, fica fácil compreender o porquê das tentativas de cancelamento de Paulo Freire em uma terra assombrada pelo carrego colonial. Ao contrário do que muita gente boa pensa, essas tentativas não se dão somente pelo tacanhismo dos devotos do terror, mas também pelo entendimento de que a obra de Freire é uma ameaça à manutenção das performances da dominação. Ao estabelecer interlocução com pensamentos advindos da chamada crítica ao colonialismo, Freire avança na leitura questionando como a lógica colonial opera produzindo alienações, dependências e retroalimentando as relações entre colonizador e colonizado, oprimido e opressor.
Com o corpo fechado e cismado com essa dinâmica, a educação aparece cumprindo função tática na transgressão da lógica, pois emerge como uma motricidade inconformista parida da experiência dos oprimidos. Essa ação, para ser libertadora, não pode se seduzir por uma troca de posições, mas deve expurgar as marcas da hospedaria do opressor, imprimindo outras formas de relação. Não se faz colonização somente com investimento bélico; sua arquitetura é composta de muitas frentes. Por mais que ela mire os corpos como primeiro lugar de ataque, a sua lógica ganha força na medida que ela produz tanto desmantelamento cognitivo quanto desarranjo das memórias, incute o desvio e naturaliza a desigualdade. A colonização estabeleceu uma cultura de saques e rapinagem que não se limita ao furto das riquezas naturais, mas se concretiza também no assalto à dignidade existencial.
Freire escolheu atentar aos ecos da margem, às enunciações paridas nas fronteiras, ao transe das palavras. Sua obra, na qual é impossível separar arte e vida, merece ser encarada com respeito e atenção por todas e todos nós, pois ela fala muitas línguas em uma única boca. Essas línguas confluem na condição ambivalente que é existir atravessado pelo evento colonização/modernidade. Entretanto, mesmo marcadas por diferenças, essas existências e esses temas vibrantes, geradores, se encruzam na capacidade de desconjurar essa praga rogada.
Como todo bom jogador, na roda ele não passa ileso às rasteiras, cabeçadas e escorregões. A ausência da ênfase nas problemáticas da raça, racismo, gênero e patriarcado em sua crítica à opressão faz com que muitos de seus interlocutores não credibilizem esses elementos como fundantes e estruturantes dos contratos de dominação no Novo Mundo. A leitura dos oprimidos não atrelada a uma crítica étnico-racial e de gênero contribui para a manutenção de retóricas discursivas que margeiam a questão colonial, mas, por outro lado, dão trato e acabamento ao problema ainda a partir de lentes ocidentalizantes. Seguindo nesse ponto, cabe salientar que, ao lermos sua obra, percebemos as marcas de pensamentos advindos de outras vozes da chamada crítica ao colonialismo, que não recebem o destaque nominal. Se a colonização se dá também como uma frente de produção de desvios epistêmicos e semióticos, é fundamental hoje olharmos com atenção esses aspectos.
Interlocutoras de Freire, como bell hooks e Catherine Walsh, destacam a força de sua contribuição, algo que se vê, também, nos diálogos dele com outros pensamentos tão importantes quanto o seu e com aspectos que ele não alcançou. O próprio Paulo Freire, ainda em vida, acolhe parte das críticas feitas e faz valer a máxima da dialogicidade, fundamento da educação como prática de liberdade, quando defende o inacabamento dos seres e a busca em ser mais. Como ser errante que é, sem preocupação em equivocar-se e por se disponibilizar às travessias, Freire assume a contradição como parte do processo educativo e reconhece o caráter inconcluso do humano, daí o diálogo só ser possível se há um profundo amor ao mundo e aos seres: “não é possível a pronúncia do mundo, que é um ato de criação e recriação, se não há amor que o infunda”.
Paulo Freire em seu centenário se faz menino pela vitalidade de sua contribuição para a educação brasileira, latino-americana e mundial, mesmo que tenha uma parcela desse Brasil que o rejeita e nega o diálogo. A potência de Freire está na sua capacidade de rodopiar no tempo e se inscrever como um problema filosófico que nos leva a escarafunchar a educação e a política como tempos e espaços possíveis para a prática de um mundo livre de opressores e oprimidos. Mobilizadas por essa busca, as pedagogias versadas por ele nos convocam a entoar as palavras-mundo imantadas de força e encanto, plantadas nas margens do planeta. Talvez, uma das aprendizagens que nos seja necessária é o mergulho profundo nas margens. Dessa maneira, somos provocados a assumir esse fazer como tarefa pedagógica para transgredir a obsessão pelos caminhos retos de um projeto civilizatório que nega a encruzilhada como caminho. A propósito, não seria a encruzilhada o signo primordial do que ele chamou de “inéditos viáveis”?
A encruzilhada, para aqueles que sabem lê-la e praticá-la, não é entendida como uma situação-limite, mas como um campo de invenções e possibilidades que contrariam toda e qualquer ação monológica. Uma das apostas que faço, embalado também pelos movimentos do jogo e ginga freiriana, é que a encruzilhada é um signo necessário para pensar a educação e a política. Essa aposta não se dá meramente por uma leitura apressada que se satisfaz em destacá-la como uma metáfora de interseções. A encruzilhada emerge como princípio dinâmico de toda e qualquer travessia e cabe lembrar que a sua força mora tanto nos seus vários caminhos, esquinas, quanto na confluência. Em outras palavras, podemos dizer que é ali que mora o seu dono que, assim como a educação, tem uma característica ímpar: a de circular no entre, ser a motricidade que propicia as coisas, as transformações, a multiplicação de soluções e a marcação do inacabamento do mundo.
A empreitada colonial, em seus esforços de assassinar não somente gente, mas também linguagens e cosmologias, nos escolarizaram com a cruz. Porém, como a leitura do mundo precede a da palavra, as encruzilhadas se mantiveram com suas bocas alimentadas e falantes firmando a máxima capoeirística de que a descolonização se faz também como campo de mandinga. Em outras palavras, transborda para as dimensões sensíveis da existência. Daí, não é à toa que qualquer cristão que destoe da doutrina e faça da sua vida um propósito educativo será pintado por aqui como “o catiço”.
No centenário de Paulo Freire, precisamos lembrar que ele raspou o tacho da educação, a encarou como problema filosófico e fez da sua cisma itinerância, esperança e amorosidade. Com a palavra firmada nos quatro cantos do planeta, ele se manteve em permanente atenção aos dilemas brasileiros e nos ajudou a pensar a prática educativa em sua radicalidade. A educação salta encruzando experiência, diálogo, invenção, brincadeira, inconclusão e transformação do humano e de suas ações. Por aí percebemos que ela é um efeito que vira-mundo, imantada em nós feito as sabenças encantadas das encruzas. Talvez seja por essa intimidade com a encruzilhada que no Brasil de hoje se reacenda a cruzada contra a educação e seus praticantes, porque são, assim como seu patrono, um catiço. Acertam o alvo antes de dar a pernada.