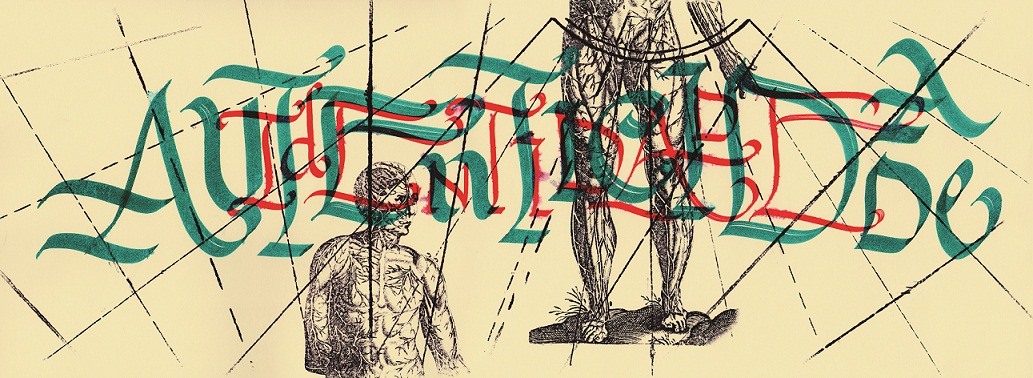
Na modernidade ocidental, quando se fala de literatura, nada tem sido menos rigoroso, nada tem sido mais oportunista e, ao mesmo tempo, nada tem sido mais indispensável do que toda e qualquer adjetivação do substantivo.
Literatura francesa, brasileira ou angolana – trata-se de evidente cacoete nacionalista. Pelo uso do adjetivo, julga-se que a produção literária é o instrumento necessário para reafirmar a nacionalidade política emergente, que passa a ser o fundamento da nacionalidade institucionalizada. Na apreciação dum conjunto de obras literárias pertencentes a um estado-nação, de que o Brasil é exemplo, o critério de autenticidade e a avaliação da qualidade são estabelecidos pelo grau de representatividade. Há 176 anos, quatro anos depois da nossa Independência, a correlação entre poesia e nação, estabelecida por Ferdinand Denis, traduzia a indispensável adjetivação de brasileira para a literatura que estava sendo feita na ex-colônia portuguesa: “(...) a América deve ser livre tanto na sua poesia, quanto no seu governo”. A liberdade conquistada no plano político por D. Pedro I deveria espraiar-se pelas artes, tornando-se o hífen que amarraria culturalmente regime pós-colonial e cidadão. Pouco importava, então, se a jovem nação livre, que a literatura representava, continuasse caudal da metrópole e seu povo fosse confundido com a elite branca e estrangeira dominante. O adjetivo nacionalista tinha ranço iluminista e retórico. Escrevia-se uma “comunidade imaginada”, para usar a expressão de Benedict Anderson.
Literatura parnasiana, simbolista ou modernista – trata-se de evidente cacoete universitário. O adjetivo condiciona o estudo e o ensino das letras a sucessivas fases dadas pela história literária, tendo como modelo explicador o estilo literário prevalente nessa ou naquela época. As fronteiras sociais emprestadas à arte pela adjetivação nacionalista são ultrapassadas pela adjetivação estilística e, em atitude só hoje discutível, ocidentaliza-se a noção de literatura, transformando-a em belles lettres. Em evidente eurocentrismo, a abordagem estilística toma o conjunto da produção literária de todo e qualquer estado-nação, de que é exemplo o Brasil, uma parte do “universal” literário. Pela opção estético-estilística, critica-se o historicismo da postura descrita pelo adjetivo de cunho nacionalista. Defensor da metodologia estilística de leitura, Afrânio Coutinho esclarece que a literatura não é um “bólide no espaço”, mas também não é “um epifenômeno da economia ou da vida social”. E conclui: “O essencial é o estudo da obra em si mesma”.
Modelo de historiador pelos sucessivos estilos literários apresentados em cronologia, o francês Gustave Lanson (1857-1934) afirmava que a história literária tinha montado até então, para uso próprio, uma “paródia” das ciências sociais. O fim da paródia anunciava o interesse exclusivo pela especificidade estética da literatura. No século 20, a nova anunciada por Gustave Lanson produziu uma série de metodologias de leitura que centravam o foco da luz crítica na análise do texto – na explication de texte, como dizem os pedagogos franceses, acentuando o aspecto formalista da leitura dita científica. As novas metodologias coincidem com o aparecimento dos formalistas russos (1910-1930) e culminam no chamado pós-estruturalismo francês (1970-1990). As sucessivas correntes metodológicas englobadas pelos marcos visavam a aproximar o estudioso do conhecimento do texto literário pela “literariedade” (ou seja, pelo que torna tal texto literário), para retomar o conceito clássico dos formalistas russos.
No seu bojo e pelo seu avesso, o fim da história literária como “paródia” das ciências sociais trouxe também outra série de metodologias de leitura de caráter universalista, que, ao contrário do que se esperava, aumentavam consideravelmente o peso dado aos critérios de ordem econômica e social na interpretação da obra literária, acentuando o aspecto conteudístico da análise. Esses critérios são tomados de empréstimo da adjetivação nacionalista do substantivo literatura, mas com a finalidade de estabelecer uma grande diferença. Descarta-se do conceito de estado-nação a inabalável hegemonia da elite dominante e precisa-se o conceito de povo dominado. Elite dominante e povo dominado têm o palco tomado pela luta de classes internacional, enquanto os personagens da classe operária saem em busca da supremacia revolucionária universal.
Entre nós, Antonio Candido buscou um equilíbrio delicado entre a postura metodológica formalista e a conteudística. Sem se descurar dos ganhos estéticos garantidos pela análise estilística do texto literário, ele procura fundamentar os ganhos por análise ideológica complementar, em que a função social da literatura alcança preeminência. Eis como o mestre paulista formula o problema fundamental da análise literária: “averiguar como a realidade social se transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto dela poder ser estudada em si mesma. E como só o conhecimento desta estrutura permite compreender a função que a obra exerce”. Na conclusão a que chega, afirma-se o equilíbrio: “convenço-me cada vez mais de que só através do estudo formal é possível apreender convenientemente os aspectos sociais”.
Desde meados do século 19, com a intenção sabida de azucrinar a cabeça dos historiadores e professores de literatura que se compraziam em qualificar a literatura por adjetivação, grandes poetas, como Stéphane Mallarmé ou Paul Valéry, têm apresentado configurações da obra literária em que qualquer adjetivo aposto ao substantivo é logo afastado e negado. A finalidade da proposta de origem oitocentista é, por um lado, a de singularizar e enobrecer o instrumento de trabalho do escritor-artista – a linguagem –, e, por outro lado, a de desacreditar as definições de literatura de caráter geográfico, histórico ou social. Citemos Stéphane Mallarmé, o poeta dos poetas. No soneto Le tombeau d’Egard Poe, lê-se que cabe ao poeta “Donner un sens plus pur aux mots de la tribu” (Dar um sentido mais puro às palavras da tribo). A busca de uma pureza redentora da palavra poética, transformada em sucedâneo laico do Santo Gral, é o modo como o artista justifica a própria vida e sua obra, ao mesmo tempo em que contribui para o bem geral da nação dos tribalistas. A obra literária de Mallarmé foi elaborada “pour aboutir à un Livre” (para terminar por um Livro). Livro, não se duvide, com inicial maiúscula, como no caso da Bíblia sagrada. Sem qualquer adjetivação, a literatura sela pacto com o fracasso estético na contemporaneidade consumista e marca encontro com o sucesso na eternidade. O que têm a ver esses poucos e apressados exemplos de rebaixamento estético, desempenhado por qualquer adjetivo acoplado ao substantivo literatura?
O principal fim da reflexão inicial é otimista e ideológico. Colocar o leitor de literatura num beco sem saída. O rebaixamento estético desempenhado pelo adjetivo aponta para o relativismo metodológico que, antes de afirmar como essencial o primado intransferível do gosto individual e de caracterizar como inútil a discussão sobre a literatura, alimenta e torna indispensável o debate público pelo enfraquecimento da certeza de que não há um modo absoluto de se escrever e de analisar e interpretar a literatura. Ela sempre escapa a qualquer modelo que se lhe imponha. Como não se deixa explicar por adjetivos, a boa literatura independe também de qualquer um dos “manifestos literários” que estiverem na moda e de qualquer uma das metodologias de análise de texto que predominam nessa ou naquela universidade. A produção e o conhecimento da literatura é um trançado que não está isento de repetições acumulativas, devaneios utópicos, clarividências premonitórias da ciência, equívocos passageiros da sensibilidade, luta de deserdados pela identidade, guerras intestinas pelo poder artístico etc. Em suma, é um beco sem saída.
O segundo fim é esperançoso. Mostra como o relativismo metodológico e, por consequência, ideológico, é a garantia de que novas brechas de esperança podem ser abertas na massa compacta do saber constituído sobre a literatura. Depois dos anos 1960, quando as políticas advogadas pelos grupos minoritários vieram à luz da discussão coletiva, outros e originais adjetivos juntaram-se ao substantivo literatura. Literaturas da mulher, afro-americana, judaica, gay, lésbica etc. Trata-se de compromisso indelével do texto literário com a constituição de novas e até então impensáveis identidades – raciais, linguísticas, sociais, sexuais etc. –, que nada têm a ver com as antigas identidades nacionais ou regionais e têm pouco a ver com as metodologias de análise que se afirmavam pelo centramento no ocidentalismo étnico e fálico da literatura.
Se poucas e desastrosas reviravoltas financeiras têm acontecido na performance operada pelo centramento econômico da globalização, é contraditoriamente no plano da geografia planetária que está sendo globalizada pela economia neoliberal que pipocam inacreditáveis reviravoltas literárias. Citem-se, por exemplo, as reviravoltas culturais que sugerem o livro Orientalismo – O oriente como invenção do ocidente, de Edward Said. A cultura passa a ser o local por excelência das reivindicações políticas dos subalternos étnicos no Ocidente (de que são exemplo, no caso latino-americano, os índios e os africanos), ou dos excluídos pela ocidentalização do mundo não-ocidental pelo slogan democracia e liberdade. Parodiando Caetano Veloso, que disse só ser possível filosofar em alemão – será que só se pode fazer e pensar literatura valendo-se exclusivamente das línguas escritas ocidentais responsáveis pela exclusão das tradições não-ocidentais? A literatura da tradição escrita ocidental não deveria ser mais permeável às manifestações da tradição oral não-ocidental, e vice-versa? A literatura, tal como a temos entendido no Ocidente, não poderia ter um sucedâneo substantivo em culturas não-ocidentais, ou este sucedâneo só seria considerado positivamente se fosse invenção do próprio Ocidente? Os ocidentais não deveriam dialogar mais com o seu outro (não-ocidental), e vice-versa?
Entre nós, é iluminador o modo como jovens pesquisadores universitários têm escutado e reproduzido textos de indígenas brasileiros. Definem-se pontos em comum entre cultura ocidental (europeia) e cultura não-ocidental (indígena) no Brasil, pontos estes que desandam o norte da bússola teórica, ao mesmo tempo em que certezas humanas são robustecidas. Cláudia Neiva de Matos, que tem coligido literatura indígena na região amazônica e, em troca, tem ensinado literatura brasileira aos seus habitantes originais, disse-me que, de todos os trechos de romances e poemas da nossa literatura que oferece nos seus “cursos”, há um que sempre causa pouquíssima estranheza aos novos e distantes leitores. Trata-se de uma passagem da rapsódia Macunaíma, de Mário de Andrade. Estaria isso acontecendo se Mário não tivesse re-substantivado, com a apropriação em sua rapsódia de mitos indígenas da região de Roraima, o adjetivo brasileiro, de nítida feição ocidentalizada, na expressão literatura nacional?
O terceiro fim da discussão sobre o adjetivo que qualifica a literatura é engajado politicamente. Remete- nos a este encontro no Recife, Literatura regionalista e o escritor contemporâneo: O regionalismo na contemporaneidade, cujo título, tanto a nível progressista quanto a nível pragmático – e mercadológico –, expressa a busca de inesperados e atuais adjetivos para o substantivo literatura.
Na política contemporânea, a questão regional fica aquém e além do estado-nação; fica também aquém e além do conceito neoliberal de globalização. A dubiedade espacial – decorrente da configuração do que seja o objeto identidade regional na atualidade – afeta de modo sistemático a compreensão dos problemas que a literatura (e as artes em geral) coloca. Antes de ser um enigma artístico ou literário, a atualidade do regional tornou-se arma política de muitos gumes. Alguns afiadíssimos. Outros poucos, cegos.
Defender hoje a regionalização do literário pode significar uma atitude crítica em relação ao atual governo da nação brasileira, atitude semelhante à tomada nos anos 1930 pelos escritores “tenentistas”, como Graciliano Ramos. Durante os quase dez anos em que o Estado Novo sequestrou a nação para moldá-la da sala presidencial do palácio do Catete, os romances de Graciliano tanto acentuaram o regionalismo combativo das “vidas secas”, quanto a “angústia” alagoana, assassina do milionário e patrioteiro Julião Tavares. Eis dois exemplos notáveis de sabotagem regional e literária aquém e além do projeto de estado-nação getulista.
De década e meia para cá, estamos vivendo sob a implantação de novo projeto nacional. Até 2002 ela foi feita sob a responsabilidade do PSDB; a partir de 2003 temos uma versão modificada, que está sendo enraizada sob a responsabilidade do PT. A diferença política na atitude dos escritores regionalistas brasileiros (o contrassenso na adjetivação se impõe) de hoje reside no questionamento do modo como as várias e diferentes regiões do vasto território brasileiro estão sendo atualmente selecionadas, priorizadas e premiadas nos planos econômico, social e cultural, pelo processo de implantação do estado nacional globalizado. A luta tem os tons ardorosos e suicidas da guerra fratricida e, ao mesmo tempo, os tons ardentes e vitais da melhoria para todos os cidadãos brasileiros, indiscriminadamente.
Tentemos compreender com simpatia e afeto o escritor contemporâneo nosso (em particular o que se instala em políticas e estéticas regionais, como as que se afiguram como fortes aqui nos estados do Nordeste). Ele se despede novamente do projeto nacional, para abraçar a crítica radical aos processos pelos quais os tentáculos da globalização, ao tomarem conta dos estados nacionais latino-americanos, mcdonaldizam as diversas formas da diferença regional, com um fim julgado não revolucionário, antiecológico e injusto econômica e socialmente. É como se o escritor regionalista estivesse nos dizendo que, lá de cima, a globalização econômica amamenta cá no terra a terra o retorno mítico das identidades regionais que, por seu turno, são obrigadas a se insurgirem contra o estado-nação instalado em Brasília e a globalização determinada pelo Primeiro Mundo.
Artistas de nítida dicção regionalista, como Ariano Suassuna e Antônio Nóbrega, depois de longos anos de trabalho regional, reaprendem as artes do palanque político nos programas da TV Senac ou da TV Cultura. As peças de teatro de Ariano, como o Auto da Compadecida, reganham o sucesso que conheceram antes da ditadura militar, em pleno período populista pré-64. Por outro lado, a cidade de Porto Alegre se tornou a sede de encontros internacionais contra a globalização pela economia neoliberal. São sucedâneos festivos, paródicos e críticos dos austeros seminários econômicos organizados pelo FMI, como o de Davos, na Suíça, ou dos organizados pela OMC, como o de Seattle, nos Estados Unidos. Esse estado de coisas gera uma consequência artística regional. Os jovens cineastas urbanos, formados pelo padrão nacional de qualidade Globo, nascem para a arte sob o signo do regionalismo nordestino (v., entre muitos, os filmes Auto da compadecida e Lisbela e o prisioneiro, para não mencionar Abril despedaçado, Baile perfumado, Amarelo manga e Cinema, aspirinas e urubus). Contraditoriamente? Nem tanto. Através do cinema, a temática regionalista procura o diálogo com a nação brasileira.
Com a mesma simpatia e afeto, focalizemos agora a luta pelos valores regionais (em particular os de caráter cultural). Essa luta expressa o modo como o artista ataca com a mesma lança a duas feras: o monstro da globalização a partir do modelo norteamericano e o seu filhinho também monstruoso, o modelo nacionalista posto em prática, em particular, pelo penúltimo governo do planalto central.
Nos novos tempos, permanecer aquém do projeto nacional em vigor é para os artistas regionalistas ter como alvo algo que está além dos partidos políticos nacionais. No seu radicalismo programático, o projeto regional desconfia do projeto nacional globalizado que está sendo realizado pelos Três Poderes, por ter sido ele colocado sob o domínio do monetarismo, do consumismo e das bolsas de valores. Desqualifica-o com os instrumentos precários que tem a bordo: a zabumba nordestina, a viola caipira mineira ou a sanfona gaúcha. Não o acata como intermediário ou parceiro na luta contra a globalização econômica pelo Primeiro Mundo. O liliputiano enfrenta o gigante, sem a mediação ou a parceria dos partidos políticos nacionais – se me permitem a comparação tomada ao inglês Swift. O liliputiano o enfrenta com a parceria das proliferantes organizações não governamentais (ONGs) que, como instituições supranacionais, agregam os subalternos de todos os matizes políticos, com a intenção de levá-los ao combate de igual para igual com o gigante. Começar por discriminar matizes talvez seja a forma de tornar mais relevante essa luta desigual, que às vezes tem o tom justo do cinza-chumbo e às vezes os tons grandiloquentes do verde-amarelo.
A cultura regional como terreno de luta estética abre cisão no tecido uniforme da indústria cultural hegemônica, e se apresenta como produtora de casulos de resistência maniqueísta, o mais evidente deles sendo o da disputa pelo mercado entre o produto nacional e o importado, entre o produto “natural” e o enlatado, entre cantores “caipiras” e cantores “sertanejos”. Programas como os de Inezita Barroso e de tantos outros cantores caipiras, apesar de gravados em videoteipes, se dão como lazer de operários ao ar livre do parque do Ibirapuera, em São Paulo, e são contra as crueldades praticadas contra o boi e espetacularizadas em rodeio pelos cantores sertanejos, como Chitãozinho e Chororó, ou por algumas novelas da Globo. O povo operário no gramado do Ibirapuera se confunde com o povão eletrônico, ambos combatentes de causas nobres e humanas.
Já que estivemos falando da atualidade do regionalismo pela primeira vez no Rio Grande do Sul – estado emblemático do Brasil fronteiriço –, retomemos o fio da meada aqui no Nordeste no mesmo clima de simpatia e afeto. Agora, para falar de outra projeção da cultura regional, por certo mais ardilosa e arriscada, já que, por um lado, não segue os parâmetros da luta popular estabelecidos pelo finado século 20, e, por outro, descaracteriza como falsas as formas agudas do regionalismo e do nacionalismo engajados e combatentes, pregadas também pelo finado século. Falemos de substantivas culturas nacionais, agora devidamente regionalizadas em outro e mais amplo contexto geográfico, o da União Europeia ao norte ou o do Mercosul entre nós. Há o regionalismo, o nordestino, dentro de um estado-nação, o Brasil, de que já falamos, e há o regionalismo do próprio estado-nação, o Brasil, dentro duma união de estados-nações, que está sendo formada, o Mercosul. Essas culturas nacionais, se devidamente regionalizadas, se tornariam aliadas e mais fortes sem ter por projeto a desconstrução dos respectivos estados-nações, como sempre esteve sendo proposto pelos regionalismos (no primeiro sentido da palavra).
De acordo com essa recente projeção política, o conceito de regional ao adjetivar cultura adquiriria um segundo e mais forte significado. As culturas nacionais regionalizadas estariam aquém – embora no mesmo plano – da indústria cultural globalizada e estariam além – embora no mesmo plano – das culturas nacionais cujo epicentro é o estado-nação. Há que salientar dois momentos. No primeiro deles, haveria dentro do estado-nação como que uma aliança estratégica das culturas regionais com a correspondente cultura nacional. Num segundo momento, cada cultura nacional coesa, robustecida e não enfraquecida pelas diferenças circunstanciais internas, se articularia a outras culturas nacionais num contexto geográfico mais amplo (o do Mercosul ou o dos estados-nações de língua portuguesa, enfeixados pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, eis dois bons exemplos). O novo todo (necessariamente fragmento do processo de globalização econômico levado a cabo pelo neoliberalismo) é constituído de alianças e de constelações, cujo intuito político, social, econômico e cultural é o da troca regional de recursos e valores no combate à uniformização pelo Primeiro Mundo.
Repitamos. As partes regionalizadas, de que são exemplos os estados-nações dos países sul-americanos, se somam para formar um todo supranacional, o Mercosul, que, fortalecido pela soldagem das partes em jogo, pode combater de maneira mais eficaz a fonte do todo globalizado.
Estamos falando de uma projeção política de cultura que, estrategicamente, toma assento em instituições supranacionais a serem construídas pelos estados-nações já envolvidos e a serem envolvidos em alianças, cujas pontes foram idealizadas coletivamente e em reação ao poder esmagador da globalização econômica em processo. Juntos, os estados-nações aliados saem em busca de outra e nova identidade, ao mesmo tempo nacional e supranacional. O companheirismo (político, social, econômico e cultural) nunca aceitará sem luta os princípios hollywoodianos ou mcdonaldizados da universalidade.
Ao propor o estado-nação na qualidade de região que é parte dum conjunto supranacional, estaremos dialogando positivamente (e desejamos que o diálogo seja também crítico) com o modelo que está sendo criado e proposto pela União Europeia e que, no início do novo milênio, recebeu excelente estudo por parte do filósofo Jürgen Habermas, em Après l’Étatnation – Une nouvelle constellation politique. À diferença do nosso raciocínio, que se atém por princípio à questão cultural, a análise de Habermas, como não poderia deixar de ser, centra-se nos aspectos propriamente econômicos da fase seguinte à do apogeu do estado-nação europeu.
Voltemos à nossa proposta inicial. Para o bem e para o mal, como adjetivar a literatura num dos contextos supranacionais propostos, como o do Mercosul? Literatura sul-americana e literatura do Mercosul seriam adjetivos imprecisos e narcisistas, reminiscentes do cacoete nacionalista a que nos referimos no segundo parágrafo. Literatura das margens, talvez fosse a melhor proposta, pois não só levaria em conta a margem que o adjetivo regional representa dentro do respectivo estado-nação, como também a margem que ganha o novo significado de regional no momento em que passa a adjetivar o estado-nação dentro duma aliança de estados-nações periféricos. Num terceiro movimento essa literatura das margens lançaria outras pontes de convivência com as diversas culturas e literaturas que se sentem também marginalizadas pelo atual processo econômico e político em marcha pelo planeta terra, como as literaturas africanas, ou asiáticas, ou como a literatura palestina ou afegã.
Se no campo propriamente dito da cultura as qualidades políticas dessa postura devem ser realçadas, talvez seja preciso precaução no seu uso aplicado ao campo das artes, ou melhor, ao campo estreito do que se convencionou chamar, desde o século 19, de literatura, ou de belles lettres.
Ou não.
Ao final do século 18, tomada pelo impulso da estética, a literatura se tornou objeto único, rarefeito e original no contexto do saber humano. Mais perdia clientes, mais ganhava em intensidade e profundidade. As obras literárias de Stéphane Mallarmé, de James Joyce e de Guimarães Rosa estão aí e não nos deixam mentir. Em oposição, as consecutivas adjetivações de literatura também estão aí e não nos deixam mentir. Essas adjetivações visavam a tornar a literatura menos única, rarefeita e original. Mais pé no chão. Quanto mais a literatura adjetivada ganhava clientes, mais perdia em intensidade e profundidade. Talvez tenhamos chegado, neste novo milênio, a outro momento-chave da discussão sobre literatura.
Não iremos dizer uma vez mais e equivocadamente que ela está morta. Diremos que passa por um processo de transformação, semelhante a outros processos de transformação por que passou no passado, a fim de renascer das cinzas e continuar sendo um dos mais felizes meios de expressão que o homem encontrou para melhor conhecer a si e falar da sociedade em que se inscreve e do mundo em que vive.
A transformação se daria na aproximação das antigas belles lettres das novas configurações do que seja cultura, estabelecidas sob o signo da antropologia social. Para sobreviver ao peso da tradição que a fundou na antiga Grécia e a tornou objeto maleável e instigante ao correr dos séculos até a modernidade, a literatura ocidental acabou bebendo água da fonte da juventude das culturas marginalizadas, optando por um frescor que, antes de ser genealógico, é catastrófico e construtivamente desterritorializador. No século 20, os processos de desterritorialização nas artes e na literatura foram comandados pela sua contaminação por culturas marginalizadas e não ocidentais. Veja-se o papel das culturas africanas nas artes plásticas da vanguarda europeia; regionalize-se a perspectiva com o papel da mitologia indígena em Macunaíma. Esses e muitos outros exemplos foram catalogados sob a rubrica de hibridismos. Desnecessário é relembrá-los nos seus detalhes, tão marcantes foram e continuam a ser para a constituição de identidades nacionais destruídas em virtude da colonização ocidental do mundo.
Não estamos querendo retornar ao tema do hibridismo nacionalista. Estamos falando de algo utópico e inesperado – as literaturas regionais do Mercosul, ou as literaturas regionais dos estados-nações de língua portuguesa, que se encontram na CPLP. Algo a ser construído pelas novas gerações, ainda que fragmentária e precariamente. Algo de concreto – política, social e economicamente – a ser alicerçado nas frágeis bases da cultura. Mais uma manifestação do abjeto “culturalismo”? Talvez sim, se o contexto ideológico ainda fosse o dos anos 1930. Estamos falando da possibilidade de reconstrução do mundo com tijolos que não são os convencionais, com tijolos não formatados pelo poder hegemônico da economia neoliberal globalizada. Reconstruir o mundo pelas margens, pelas manifestações culturais e pelo desejo – este, sim, universal – de justiça para todos. Um sonho. Talvez não. Mais um sonho culturalista. Talvez sim.
Silviano Santiago é autor de Uma literatura nos trópicos e Cosmopolitismo do pobre.