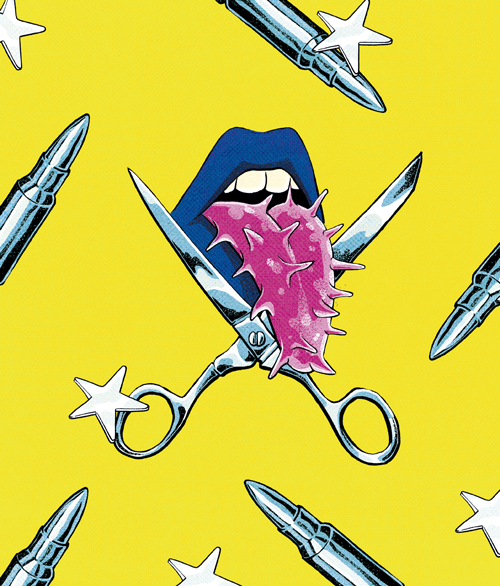
E quando é noite, sempre,
uma tribo de palavras mutiladas
busca asilo em minha garganta,
para que não cantem eles,
os funestos, os donos do silêncio.
Alejandra Pizarnik
(tradução de nina rizzi)
Estamos na década de 1970. Em um porão escuro, uma mulher é torturada por militares e policiais. Seus gritos batem nas paredes e se dissipam ali mesmo, sem alcançar ninguém do lado de fora, onde os dias seguem quase iguais. Ela está totalmente só em sua dor, em seu desespero. Nada os detêm e por isso eles continuam, e continuaram por anos, prendendo, espancando, matando, dando sumiço nos corpos. A ditadura no Brasil destruiu muitas vidas e manchou para sempre outras tantas. E cada vez que alguém defende o que foi feito, e os que o fizeram, suja ainda mais a nossa história.
Lawrence Weschler, em Um milagre, um universo (1990), dizia que o grito que se eleva das câmaras de tortura é duplo, “o corpo chamando a alma, o eu chamando os outros – e em ambos os casos fica sem resposta. A desolada lição da tortura é esse silêncio envolvente: seu objetivo é tomar esse silêncio e introjetá-lo de volta na vítima, para substituir a chama da subjetividade por um espaço vazio, abjeto”. A única resposta possível a esse chamado, após o acontecido, é a punição dos culpados. Como nem isso conseguimos por aqui, só nos resta falar e falar e falar, para que não falem eles, “os funestos, os donos do silêncio”.
Nossa literatura participa, desde o início, desse fluxo e segue estendendo a mão em direção àqueles que estiveram nos porões, nas celas, no exílio, silenciados e perseguidos, aos que não voltaram nunca, às suas famílias e amigos destroçados. Faz-se, assim, abrigo de suas histórias e de seus sonhos, e dos sonhos dos seus. Aos poucos, vem incorporando mais e mais personagens, lembranças de pessoas que existiram um dia ou que poderiam ter existido e por isso fazem sentido para nós. Há cada vez mais mulheres como protagonistas dessas narrativas, e vão surgindo também as crianças, os velhos, os trabalhadores, os moradores das periferias e do campo, os negros, os indígenas, os LGBTs.
Desde 2014, com a entrega dos relatórios da Comissão Nacional da Verdade (CNV), o tema voltou com mais força ao campo literário brasileiro, após um período de relativa estagnação. Algumas obras já fora de catálogo foram relançadas e muitos outros livros apareceram, trazendo seja a perspectiva de quem “esteve lá”, seja o olhar daqueles que herdaram o sofrimento. E há ainda as narrativas que se debruçam sobre o que resta da ditadura na vida cotidiana, nas instituições, nos presídios, nas relações sociais e mesmo afetivas.
Muito mais do que cicatrizes de um tempo distante, vamos encontrar histórias que não foram concluídas, feridas que continuam latejando. São textos que incorporam diferentes preocupações e procedimentos estéticos para refletir não só sobre a memória do passado, mas sobretudo sobre os riscos do futuro, em um momento em que as ameaças de uma nova ruptura democrática no país se tornam cada vez mais frequentes e desavergonhadamente explícitas.
Há, é claro, diferenças significativas entre essas obras recentes e aquelas produzidas e publicadas nos anos 1960 e 1970. De um modo geral, os livros, lá, possuíam uma urgência que não existe aqui. Falavam de um presente que parecia que não acabaria nunca, e, por isso, dobravam-se, doloridos, sobre si. A resistência, então, estava ligada ao ato de falar, às vezes cifradamente, sobre aquilo que não se podia dizer. Resistia-se no gesto de contar, na esperança de que alguém ouviria, na ilusão de que alguém pudesse ser salvo.
Nos romances atuais, a luta se estabelece, principalmente, contra o esquecimento, que é sempre um insulto à dor do outro. Mas essas narrativas sobre a opressão também são, hoje, talvez mais do que nunca, uma forma de dizer que eles, os carrascos, não terão a última palavra sobre corpos e vidas que tentam destruir. E de nos lembrar que o passado não acabou, se ainda compromete nosso futuro.
Logo antes da instalação da Comissão Nacional da Verdade, foi publicado um livro emblemático para essa discussão: K: Relato de uma busca, de Bernardo Kucinski. Ele não teve muita visibilidade quando foi lançado, em 2011, mas depois de algum tempo passou a ser uma referência importante para a retomada literária do debate sobre a ditadura. Contando a busca desesperada de um pai pela filha desaparecida (Ana Rosa, a irmã do autor), a obra chamava atenção para o terrível processo de apagamento dos crimes da ditadura.
Trechos de K. chegaram a ser incorporados nos relatórios da CNV. Os mesmos relatórios onde é possível encontrar o depoimento frio e repulsivo de um ex-delegado de polícia sobre o fim dado aos corpos de Ana Rosa e seu marido, Wilson Silva, torturados, assassinados e incinerados em uma usina de cana-de-açúcar. Se não fosse o livro escrito pelo irmão – que tenta lembrar sua existência e honrar sua história –, o que nos sobraria da jovem professora de Química da USP e de seu companheiro seria esse relato sórdido.
Kucinski não viu sua irmã ser capturada, torturada e morta, não pôde sequer enterrá-la e viver o luto junto com seu pai, por isso sua narrativa lida com lacunas e aproveita os recursos da ficção, que se mesclam com a dor do depoimento. A partir de um determinado ponto, só lhe resta imaginar, como todos que não foram ao limite do horror, silenciados para sempre. De qualquer forma, é importante lembrar que se trata de uma obra que traz a perspectiva de dois homens, o pai e o irmão, sobre uma mulher. E que o pai sequer sabia que ela participava do movimento de resistência.
QUANDO ELAS FALAM
Era comum nas narrativas sobre a ditadura que as mulheres aparecessem sempre do lado de fora – como as mães abnegadas de filhos torturados, as namoradas e esposas que aguardavam a saída dos companheiros da prisão, aquelas que cobriam a retaguarda, ou mesmo as que sofriam nas mãos de maridos opressivos que faziam parte ou lucravam com o regime.
Um contraponto interessante e necessário ao livro de Kucinski é o Volto semana que vem, de Maria Pilla, publicado em 2015. Ela constrói uma narrativa fragmentada, baseada em sua própria história de militância política, sobre sua prisão e exílio, mas atravessada pelas histórias de outros companheiros da resistência, em passagens por Porto Alegre, São Paulo, Cincinnati (EUA), Paris e Buenos Aires.
Maria Pilla lutou contra a ditadura no Brasil, exilou-se na Europa, mas depois voltou para militar na Argentina, onde foi presa em 1975 e torturada. Passou dois anos encarcerada (parte dos relatos se passam, justamente, na prisão feminina argentina) e então se mudou para Paris. Só retornou ao país 22 anos depois de se despedir de seu pai dizendo que voltava “na semana que vem”.
Organizados por datas e locais, que vão e vem, os capítulos do livro, sempre muito curtos, saltam entre cidades e épocas diferentes, procurando assim estabelecer conexões que vão além do compartilhamento de tempo e lugar, abarcando as relações entre as muitas vidas interrompidas pela intolerância e pela violência política que tomaram conta do Brasil e de outros países da América Latina entre os anos 1950 e o início da década de 1990.
É uma obra introspectiva, que não parece buscar respostas, nem mesmo exigir justiça. Nesse sentido, talvez seja até mais angustiante que outras, que reivindicam a lembrança coletiva. É a história de uma mulher ferida, como tantas outras, tentando achar espaço para guardar seus mortos – daí os diferentes nichos que vão aparecendo, como se fossem gavetas de um grande arquivo da memória. Melancólico e triste, o livro nos leva de um lado para outro, transportando sempre um terrível sentimento de perda.
Ainda com a perspectiva de mulheres que “estiveram lá”, é possível citar três outras obras – nenhuma delas autobiográfica, embora saibamos que as autoras participaram da luta contra o regime – que são representativas dessa abertura para outros pontos de vista e lugares sociais.
Nem tudo é silêncio, de Sonia Regina Bischain, de 2010, Outros cantos, de Maria Valéria Rezende, e Felizes poucos, de Maria José Silveira (ambos de 2016), são livros que lidam com diferentes espaços sociais e ampliam o leque de participação das mulheres na resistência à ditadura. Em todos eles há rememoração, a busca de recuperação do passado não exatamente como ele foi vivido, mas como ele é sentido no presente.
Sonia Regina Bischain começa seu romance com uma mulher sem memória, talvez com Alzheimer, incomodada com a invasão de sua casa por uma estranha, que mexe em suas coisas e tira tudo do lugar. Aos poucos, a perspectiva muda para a invasora (na verdade, sua nora) que retoma a história da velha senhora e passa a conduzir a narrativa.
Muito antes de perder a memória, ela perdera o filho, assassinado pela ditadura. Sua nora é a viúva, que participou com o jovem marido dos movimentos sindicais de esquerda na periferia, décadas atrás – e a lembrança desse moço é apenas mais um apagamento em discussão no romance.
Seja na ficção, seja nas memórias dos sobreviventes, as narrativas da ditadura costumam apresentar uma violência que irrompe na normalidade da vida. É a ruptura da ordem legal observada pelo ponto de vista da classe média intelectualizada (a um só tempo autora, protagonista e leitora desses livros). Uma classe média para quem “normal” é sinônimo de estar a salvo da violência.
Ao deslocar a perspectiva para a periferia de São Paulo, Bischain nos convida a entender o modo como a ditadura se infiltra no dia a dia dessas pessoas, não como momento de exceção, mas como uma carga a mais de sofrimento, especialmente entre as mulheres. A repressão política se soma, então, a um ambiente em que o capitalismo, o patriarcado, o racismo, a pobreza e o descaso se manifestam não apenas na forma de incentivos à resignação, de limitação de horizontes e de opressões cotidianas, mas também de violência aberta.
Assim, o desaparecimento e morte do rapaz se liga, literariamente, à perda da memória de sua mãe, anos depois. Mas também à história da menina indígena que é estuprada e abandonada na beira de uma estrada, muitas décadas antes. E prossegue, junto com a exploração das empregadas domésticas e de seus filhos. A isso se junta, é claro, a dor das ausências impostas pelo regime.
Fragmentado e atravessando um período mais amplo, para melhor acolher narrativas que não se pretendem únicas, o livro de Sonia Regina Bischain é sobre vidas silenciadas, sobre feridas que não cicatrizam, sobre perdas que não podem ser esquecidas. Mas é, também, uma história de sobreviventes e de seus parcos recursos, uma história de mulheres e da solidariedade possível entre elas.
Em Outros cantos, de Maria Valéria Rezende, a protagonista também se confronta com a própria memória. Envelhecida, ela está dentro de um ônibus que vai para o Sertão nordestino, ao encontro de uma experiência vivida no passado, 40 anos antes. Mas Maria ainda é dona de sua história e, da mesma forma que escolheu o Sertão como espaço de atuação política durante a ditadura, no presente da narrativa ela decide o que lembrar e o que contar – ninguém fala por ela.
Sabemos que, geograficamente, ela não está indo para o mesmo lugar em que esteve antes, mas a viagem é catalisadora da memória. O romance começa com o cheiro do “couro curtido, suor e tabaco” que invade o ônibus, um cheiro imaginado, porque o vaqueiro que se senta ao lado dela é um caubói de rodeio que rescende à água-de-colônia barata. E termina com a chegada da personagem na cidadezinha onde a esperam para uma palestra.
A relação de Maria com o Sertão é, desde sempre, de estranhamento. Nascida na cidade, com passagens por outros países, ela se muda para o povoado de Olhos d’Água como professora do Mobral, com o objetivo de misturar-se à população sertaneja, preparar o terreno para a vinda de outros companheiros e para a revolução que ajudariam a fazer.
Mas nada funciona como o esperado e ela passa os dias se adaptando ao lugar, buscando entender as pessoas enraizadas ali e aquelas que, arrancadas, tentam conseguir dinheiro na cidade grande. E é assim, através de sua surpresa interessada e de suas lembranças afetivas, que os leitores vão se aproximando dessas vidas calejadas pelo trabalho, desgastadas pela exploração. Seu testemunho da labuta diária dos sertanejos inclui revolta, solidariedade e uma profunda admiração.
Maria dorme na estrada, acorda, relembra. O movimento do ônibus, suas freadas, o vai e vem no corredor, a poeira e os cheiros que entram impõem um ritmo à narrativa, que se interrompe, acelera e desacelera. Há melancolia no livro, mas há, principalmente, serenidade – a certeza da importância da história vivida e o afeto pelos encontros passados.
Felizes poucos, de Maria José Silveira, por outro lado, traz um conjunto de contos que buscam, de algum modo, retomar a alegria presente na luta de homens e mulheres contra a ditadura, além da generosidade de seus sonhos com um país mais justo e igualitário. São histórias de jovens idealistas nas grandes cidades, universitários e profissionais liberais, mas também de operários nas fábricas e de camponeses sem nenhum estudo que ousaram imaginar uma vida com mais dignidade para todos.
A alegria está presente nos encontros em bares e livrarias, na vida clandestina com os amigos procurados pela polícia, no jantar pobre com a família reunida, na organização dos sindicatos, partidos, nas Ligas Camponesas. Está, fundamentalmente, no sonho compartilhado. Uma alegria que se derrama, alastra, convida, até ser silenciada pela repressão, que pisa em cima, arranca pedaços e mata.
O livro é destinado aos jovens, não por qualquer tipo de simplificação da narrativa, mas para estabelecer um contato, para dizer daqueles que acreditavam em um outro futuro para nós. Maria José Silveira – que teve de se exilar no Peru em 1973 – tem outros romances sobre o tema, mas esse livro é especialmente interessante, por tentar fazer da memória uma ponte de acesso às novas gerações.
TEMPOS DEPOIS
E há ainda as narrativas sobre aqueles que “não estiveram lá”, mas que, de um modo ou de outro, são herdeiros do sofrimento. Elas costumam trazer protagonistas muito jovens, lidando com questões que não conseguem ver ultrapassadas, porque continuam doendo em muita gente.
Em Azul corvo, de Adriana Lisboa (2010), por exemplo, uma adolescente se muda para os Estados Unidos após a morte da mãe e conhece o homem com quem ela viveu um dia e que participou da Guerrilha do Araguaia. Embora ele pouco fale de seu passado, a narrativa vai recuperando pedaços da história e seus destroços. Paralelamente à vida de imigrante da garota em tempos recentes, vamos acompanhando o sofrimento do ex-guerrilheiro, que abandonou o campo de batalha logo antes de todos os seus amigos, e a mulher que amava, serem brutalmente assassinados. A jovem se faz, assim, depositária de sua memória.
Já em Mulheres que mordem (2015), de Beatriz Leal, temos argentinos como protagonistas (como em A resistência, de Julián Fuks, outro livro importante sobre o assunto, também publicado em 2015), mas neste caso, são pessoas ligadas ao regime. Um militar, torturador, sua mulher e a filha que adotaram, roubada de uma mãe assassinada nos porões da ditadura argentina. Vivendo no Brasil, o passado os alcança e atormenta, destruindo as relações e deixando um vácuo no lugar.
Claudia Lage, em O corpo interminável, de 2019, por outro lado, reúne dois jovens – o filho de uma “desaparecida” e a de um fotógrafo que, de algum modo, participava das sessões de tortura. Juntos, eles precisam entender o que aconteceu no passado e as implicações disso em suas vidas. Enquanto eles recolhem informações, inúmeras histórias vão se erguendo no texto, todas de mulheres, espancadas, estupradas, brutalizadas, assassinadas.
Diferentes tempos se sobrepõem em uma narrativa que empurra os leitores para dentro da cena e os deixa ali, atordoados. Só que esse é, também, um livro sobre o amor. Em meio à barbárie, vai se desdobrando uma sutil rede de afetos, que acolhe, dá abrigo, pinta dedos com unhas arrancadas que ainda não cresceram, expulsa homens violentos para fora de casa, faz dois jovens machucados se encontrarem. Um amor que não perdoa, não se acovarda e tampouco oferece redenção, mas protege os feridos e fortalece a repulsa contra os algozes.
As narrativas escritas por mulheres citadas aqui são apenas alguns exemplos de um conjunto bem maior, obras que trabalham, especialmente, com a problematização da memória e do esquecimento, e sobre a dor. O que não quer dizer que outras questões ou outras abordagens não estejam presentes na produção feminina dos últimos tempos.
SOBRE AVANÇOS
Há alguns anos venho atualizando uma lista bastante selecionada de livros sobre a ditadura. Um levantamento que inclui basicamente romances, mas também alguns poucos volumes de contos e um punhado de obras memorialísticas, que trazem a ditadura não apenas como pano de fundo, mas como centro da narrativa. Não é um inventário completo, muito longe disso, mas ajuda a visualizar o que foi e está sendo produzido a respeito do assunto.
A lista tem, no momento, 110 livros. Destes, 40 foram escritos por mulheres (um deles em coautoria com Carlos Heitor Cony) e 71 escritos por homens (incluindo o livro do Cony com Anna Lee). Essa diferença (com pouco mais de um terço de mulheres) é, como já observei em outros levantamentos metodologicamente mais consistentes, comum na literatura brasileira em geral.
>>> Confira aqui a lista de narrativas da ditadura feita por Regina Dalcastagnè (UnB)
Mas o mais curioso é que dos 40 livros escritos por mulheres, 35 foram lançados após 2000, e apenas cinco (de três autoras diferentes) saíram antes disso. Entre os homens, 37 livros foram lançados antes de 2000, e somente 34 após essa data. Em suma, a diferença é significativa, apontando um grande avanço na produção feminina sobre o tema.
Não custa ressaltar que em todas as áreas, romance, poesia, contos e crônicas em geral, as mulheres vêm produzindo mais e com maior visibilidade nesses últimos anos no Brasil – lembrando que partimos que um patamar muito baixo e que ainda não ultrapassamos o limite de cerca de 30% dos livros publicados.
De qualquer forma, com o aumento da quantidade, a literatura brasileira ganha uma variedade maior de temas, estilos e abordagens, contam-se outras histórias, sobre outros lugares, a partir de diferentes perspectivas. Sobre o tema da ditadura, acontece o mesmo.
Para além das narrativas de denúncia, de luto, de rememoração, começam a surgir, por exemplo, as narrativas históricas, que tentam resgatar acontecimentos e personagens reais, como o romance Tocaia do Norte de Sandra Godinho, publicado em 2020, que retoma uma expedição do governo, liderada por um padre italiano, na Amazônia brasileira em meados da década de 1960.
Em plena ditadura, e com inúmeros interesses em jogo, incluindo a disputa por terras e pelas jazidas encontradas na área, a violência explode junto aos indígenas Waimiri-Atroari, que foram praticamente dizimados pelos militares nas duas décadas seguintes, com bombardeios aéreos, chacina a tiros, esfaqueamentos e destruição de locais sagrados.
Outro exemplo é a Trilogia infernal, de Micheliny Verunschk, composta pelos romances Aqui, no coração do inferno (2016), O peso do coração de um homem (2017) e O amor, esse obstáculo (2018), que também se debruça sobre a disputa de terras no Brasil, dessa vez no Nordeste. Laura, a protagonista, é filha de um torturador, que ela acredita também ter matado sua mãe. Enquanto cresce no Sertão, a menina vai seguindo os rastros e juntando informações sobre o pai e seus crimes.
Composta por diferentes vozes, que se complementam e tornam mais intensa a narrativa, a história começa quando o pai traz para casa um garoto acusado de canibalismo e que, ele sabe, seria linchado se permanecesse na delegacia.
A presença concreta da selvageria exterior no espaço privado desencadeia uma série de reflexões, que aproximam ditadura, tortura, feminicídio, disputa por terras e outras violências que parecem plantadas no solo e nas almas do lugar. A trilogia termina com a protagonista, já escritora, participando das audiências públicas da Comissão Nacional da Verdade e restituindo a biografia dos mortos e desaparecidos, em uma espécie de mimese do trabalho desenvolvido pela CNV.
Enfim, a produção das mulheres sobre o tema da ditadura vem se expandindo em quantidade, qualidade e diversidade. Ainda há, é claro, muito a se dizer e a se enfrentar, mas esse é um compromisso a ser assumido por todos os escritores e todos os cidadãos brasileiros.
Manter viva a memória da ditadura é essencial para evitar que ela se repita. Não por acaso, silenciar o debate sobre o assunto é uma prioridade da nova extrema-direita que, nos últimos anos, saiu das catacumbas e tomou conta do país. Não são raros os casos de professores que se viram assediados por adotar livros didáticos, paradidáticos ou literários que tratam da nossa história recente. Escolas, tanto públicas quanto privadas, muitas vezes se rendem à pressão de pais radicalizados, de pastores e de políticos que não aceitam qualquer discussão sobre o tema.
Tentativas de censura similares ocorreram em exposições de arte, em conferências, em programas de radiodifusão, em inúmeros espaços culturais e acadêmicos. A ditadura é, atrás apenas das discussões sobre gênero e sexualidade ligadas à emancipação feminina e às demandas de reconhecimento da população LGBT, o maior tabu para a extrema-direita.
Também por isso é importante falar sobre o assunto, sobre os prejuízos causados ao país, sobre nossas perdas, sobre todo o desgaste e o sofrimento gerados pela repressão: porque não podemos nos render a esta chantagem, não podemos reduzir o debate público aos limites que eles desejam impor.
O direito à fala é uma premissa básica da democracia, que nem sempre é respeitada. Basta ver a perseguição a escritores, jornalistas, cineastas, professores e outros trabalhadores em diferentes momentos de nossa história, incluindo os dias de hoje. Nem por isso nos calaremos.
Que as palavras, abafadas, mutiladas, continuem encontrando asilo em nossas gargantas e que retornem ao mundo como canto ou como grito.