
Uma biografia de Borges acaba de ser editada em português; não é a primeira, e certamente não haverá de ser a última. Trata-se de Borges, uma vida, de Edwin Williamson (Cia. das Letras, R$ 68), publicada originalmente em inglês em 2005. A obra pode ser útil, mas não se caracteriza por apresentar grandes novidades nem por introduzir novas perspectivas sobre a vida ou sobre a produção do autor argentino. Williamson escreve um trabalho sério, documentado, fornece um amplo panorama do contexto político argentino, que pode ser valioso para leitores não familiarizados com o assunto, mas entre suas virtudes não figura essa constante necessidade de interpretar os textos borgianos a partir de eventos biográficos, traumas e invocações psicológicas de todo tipo. A biografia, entretanto, pode ser interessante não por desvendar algum hipotético segredo ou por oferecer alguma impensada chave interpretativa, mas porque impõe uma reflexão acerca do lugar que ocupa Borges no imaginário global das letras da atualidade. Toda vez que surge um novo ensaio, uma tese ou uma proposta de trabalho sobre Borges, essa reflexão tende a se atualizar. Se nem toda contribuição é capaz de redefinir as percepções sobre o fenômeno Borges, pelo menos ajudam a pensar nos motivos que despertam o interesse e confirmam a vigência das suas ficções, enquanto instauram pelo menos duas interrogações sempre pertinentes: por que se escreve hoje sobre Borges? Para que se escreve hoje sobre Borges?
Escrever uma biografia de Borges pode ser uma aventura temerária. Esse adjetivo, temerária, não alude aqui ao culto da coragem nem à ousadia intelectual; é na verdade uma forma de expressar certa desconfiança. O próprio Borges disse e escreveu muitas vezes, com irônica condescendência, que sua vida não se distinguia pela profusão de acontecimentos memoráveis, desses que excitam a curiosidade dos leitores e garantem uma definitiva densidade novelesca aos anos vividos. Amores, desventuras, contradições, dramatismos, que em outros autores argentinos tão diversos entre si como um Sarmiento, uma Victoria Ocampo ou um Rodolfo Walsh são cruciais para entender a trajetória pública e as opções literárias de um escritor, parecem sempre menores, algo irrelevantes, no caso de Borges. “Vida y muerte le han faltado a mi vida”, escreveu alguma vez, sem jactância nem melancolia (ou com melancólica jactância), embora a sentença também possa ser entendida como uma impostação. Contudo, não é essa imaginada ou verídica falta de episódios singulares a que permite duvidar hoje da pertinência de uma biografia de Borges. Afinal, toda vida pode e merece ser narrada, e mais ainda em se tratando de um autor tão influente e perdurável nas letras atuais. O problema é outro. Falar de um autor consagrado e universalmente ungido como Borges supõe já enfrentar uma séria dificuldade inicial. Pois, o que dizer de Borges que já não tenha sido dito? Como fazer para não cair nas armadilhas da repetição e do lugar-comum? Como evitar a multiplicação de mais uma glosa dessas imagens, auras e afirmações já solidificadas pela tradição e pela crítica?
Tais ressalvas, contudo, poderiam ser também facilmente refutadas. Afinal, se Borges é um clássico, essa incerta categoria que, segundo o autor de El Aleph, permite às gerações dos homens ler um livro com prévio fervor e misteriosa lealdade, e se os clássicos são aqueles que de alguma forma impõem, na critica e no mercado, a necessidade de continuar escrevendo, por que não redigir então mais um ensaio, mais uma interpretação, mais uma biografia? Se Borges é referência inconteste na literatura de hoje, algo diferente sempre poderá ser acrescentado, algo que permita prosseguir multiplicando esse mito feito de labirintos, metafísicas apócrifas e bibliotecas infinitas. Afinal, escrever sobre Borges hoje supõe referir constantemente as interpretações que se sedimentaram até formar parte do mesmo universo ao qual pertencem seus contos, ensaios, poemas e até as vicissitudes da sua vida privada. Escrever sobre Borges é escrever em círculos; é invocar esses muitos Borges, relembrar permanentemente as citações que flutuam por esse universo borgiano que se confunde com o próprio universo de toda a literatura.
Existem muitos autores consagrados, e os cânones garantem a vigência de dezenas de nomes próprios. Poucos, entretanto, gozam do tipo de reputação que Borges lenta e constantemente foi acumulando pelo menos desde os anos 1960. Na América Latina do século 20, uma região e um tempo marcados por um extenso e heterogêneo número de autores notáveis nem mesmo aqueles que representam a figura um pouco anacrônica do “grande escritor” – como, por exemplo, Carlos Fuentes, Neruda ou Julio Cortázar – são motivos de tamanha unanimidade. Nem sequer aqueles legitimados pelo Nobel como Octavio Paz ou García Márquez (ou, menos ainda, o controvertido Vargas Llosa) ocupam a mesma posição de Borges. Arguedas, Roa Bastos, Rulfo, Arlt, Lezama Lima, Onetti, Asturias, Guimarães Rosa, Carpentier, Felisberto Hernández, Puig são, entre muitos outros, autores fundamentais e inevitáveis dentro do sistema literário, mas, mesmo assim, não geraram tanta repercussão quanto Borges. Bolaño é observado com grande fervor pela crítica atual, mas não sabemos como será lido daqui a 20 anos. Obviamente, não se trata aqui de afirmar que um autor é “melhor” ou “mais famoso” do que outro, mas de registrar os modos de disseminação, misteriosos e firmes, desse nome, Borges, dentro das órbitas da literatura contemporânea.
Na literatura argentina, em particular, Borges é o grande acontecimento do século 20, ou quiçá de toda a literatura nacional escrita desde a independência. Como Beatriz Sarlo lembrou em mais de uma ocasião, assim como o peronismo é o grande evento da política, o marco indispensável para entender a história argentina das últimas seis décadas, Borges é o marco obrigatório da literatura argentina, a peça insubstituível em torno da qual funciona a máquina literária. É evidente que Borges nem sempre ocupou esse lugar, que foi se consolidando, como em todos os casos, ao longo do tempo. Após seu retorno da Espanha, em 1921, em plena eclosão das vanguardas, haverá de publicar seu primeiro livro, os poemas de Fervor de Buenos Aires, em 1923, enquanto participava ativamente nos debates e nas revistas que proliferavam no campo intelectual de uma cidade exemplarmente cosmopolita e periférica. Na década seguinte, surgem notórias experiências em prosa (a biografia de Evaristo Carriego (1930), os ensaios de Discussão (1932), a ficção burlesca História universal da infâmia (1935)), mas é nos quarenta, a década de Ficções (1944) e El Aleph (1949) quando Borges começa a ganhar outro tipo de reconhecimento.
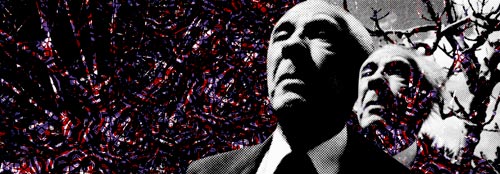
Na década da definitiva irrupção desse peronismo sempre desprezado e combatido por Borges, na década de uma Europa marcada pelo fascismo e pela guerra, o prestígio do autor vai ganhando uma proporção que tenderá a se consolidar em dimensão planetária ao longo dos 30 anos seguintes. Um dos fatores que contribui nessa consolidação é sua constante participação na revista Sur, fundada em 1931 por Victoria Ocampo. A revista, que teve um lugar proeminente no cenário cultural latino-americano, congregava algumas das personalidades literárias mais interessantes da época. Adolfo Bioy Casares, Silvina Ocampo, José Bianco, Ezequiel Martinez Estrada, Amado Alonso, Eduardo Mallea eram, entre muitos outros, presenças habituais nessas páginas, que divulgavam a literatura que estava sendo produzida nesse momento pelos autores locais (muitos dos contos, poemas, resenhas e ensaios de Borges apareceram na revista antes de ser incluídos em volumes individuais), traduzia a produção de autores europeus relevantes e servia como permanente tribuna de debates políticos e literários. Em 1942, quando Borges não recebe o esperado Prêmio Nacional de Literatura, ao qual concorria com El jardín de senderos que se bifurcan, Sur prepara um desagravo; em julho desse ano (o mês em que morre Roberto Arlt), o número 94 da revista reúne uma série de depoimentos que enfatizam a singularidade de Borges e exaltam a sua figura. Escrito com urgência, a modo de protesto, o volume não pretende oferecer estudos aprofundados da obra, mas servir como homenagem e como cerimônia de legitimação que já em si revela a preponderância que a literatura de Borges tinha no campo intelectual dessa época. E mesmo que nem todos os comentários fossem igualmente laudatórios (o de Ernesto Sábato, por exemplo, não omite alguma ironia), o fato de organizar um número especial de desagravo por um prêmio não recebido indica que Borges era percebido, já nos anos 1940, sob o prisma da excepcionalidade. A afirmação de um dos colaboradores, Bernardo Canal-Feijóo, resume assim essa percepção: “a sua obra sempre me pareceu da categoria dessas que tornam óbvias de antemão as consagrações magistrais, porque trazem consigo um próprio magistério”.
Contudo, apesar das efusivas apologias dos membros da revista Sur, e dos explícitos reconhecimentos dos seus leitores, a figura e a obra de Borges não estavam livres de controvérsia. Durante muito tempo, já desde os anos 1930 e até pelo menos os anos 1970, Borges era criticado por seu aparente hermetismo, por seus barroquismos, por ser “pouco argentino” e estar mais influenciado por suas leituras inglesas do que pela realidade que o circundava, e por suas posições políticas elitistas e conservadoras. Mas essa reprovação era também sintoma da dimensão que o autor ocupava com força cada vez maior no sistema das letras vernáculas. Relegado pela cultura oficial durante os anos do peronismo, a partir do golpe militar de 1955, que derroca o governo de Perón, passa a receber emblemáticas honrarias e cargos, como o de diretor da Biblioteca Nacional, professor de literatura inglesa na Universidade de Buenos Aires, membro pleno da Academia Argentina de Letras e o Prêmio Nacional de Literatura. Borges costumava se definir como um libertário ou uma espécie de anarquista. Para seus detratores, era, como grande parte do grupo Sur, um autor que defendia os interesses da classe dominante. O próprio Borges, com beligerante humorismo, favorecia esse lugar-comum, multiplicando frases de efeito que nem sempre deveriam ter sido tomadas ao pé da letra (“espero que me perdoem por acrescentar que desacredito na democracia, este curioso abuso da estatística”; “afilie-me ao Partido Conservador, o que é uma forma de ceticismo”) ou adotando atitudes destinadas a figurar na história da infâmia, como, durante a trágica década de 1970 das ditaduras militares e das desaparições massivas, sua visita ao Chile de Pinochet e seu iníquo apoio ao governo de Videla.
No período que separa os anos 1950 dos 1970 (marcado pela proscrição do peronismo e por contínuos golpes militares), essa discussão, focalizada nas repercussões da figura pública do autor, se torna mais acirrada, e opera como um grande divisor dentro do campo intelectual. Paralelamente, sua obra se torna cada vez mais conhecida no exterior, iniciando um percurso de universalização que continua se expandindo até hoje. Referência – como espelho invertido ou como inventor de mundos – para os autores do chamado boom latino-americano, seus textos são também traduzidos nas mais diversas línguas; é cada vez mais lido e mais admirado. Na literatura de língua inglesa, Borges é aclamado por autores tão influentes como John Updike, Nabokov, Paul Auster, Susan Sontag, Thomas Pynchon, Paul de Man ou Harold Bloom. Na França, é condecorado como Comendador da Ordem das Letras e das Artes, Blanchot, Deleuze, Genette e Ranciere escrevem sobre ele, Foucault se inspira na enciclopédia chinesa de O idioma analítico de John Wilkins para reformular a relação entre as palavras e as coisas; mais tarde, Baudrillard adverte no mapa do império de “Sobre o rigor da ciência” o reino do simulacro. Borges recebe prêmios internacionais prestigiosos como, entre tantos outros, o Formentor e o Cervantes (“una generosa equivocação, que aceito com impudicícia”). Vários filmes são feitos a partir dos seus contos. É laureado em várias universidades, viaja regularmente, e se transforma em um conferencista profissional. Continuará publicando e dando infinitas entrevistas até a sua morte. Para morrer, escolhe um exílio, e empreende com Maria Kodama a longa e última viagem rumo a Genebra, onde falece em 1986.
Borges é hoje uma atração turística na cidade de Buenos Aires; é também uma espécie de mito, uma sintaxe, uma forma de adjetivar, um repertório formulado a partir de um arrabalde sul-americano, um autor para todas as bibliotecas do mundo. A morte, o tempo e a multiplicação de perspectivas foram diluindo, sem anulá-los, os dilemas que surgiam dessa dupla face do Borges reacionário em política e revolucionário em literatura. Outras leituras souberam colocar muitas aspas nesses dois adjetivos. Autores que manifestam a centralidade de Borges nas suas próprias obras, como Ricardo Piglia, Silviano Santiago, Beatriz Sarlo e Alan Pauls (por citar, como sempre, apenas alguns) leram as relações entre literatura e política a partir dos mecanismos que confluem na escrita, ampliando, a partir de Borges, as significações da escrita política e da política da escrita. No pensamento contemporâneo, a multiplicação da presença de Borges é evidente na prática teórica e ficcional. Partindo de Borges e retornando a ele, novas interpretações permitem repensar a condição das literaturas nacionais, as funções da leitura, a noção do real, os usos da citação e do arquivo, a relação entre literaturas consagradas e periféricas, as transfigurações do cosmopolitismo e do americanismo, os vínculos do texto com o passado e a história, as combinatórias possíveis entre as diversas tradições, as promessas da heterotopia. As opções poderiam se multiplicar, e provavelmente haverão de se multiplicar, à medida que futuros leitores de Borges atendam os ecos desse nome e se permitam incorrer em novas repetições, em novas diferenças.
Alfredo Cordiviola é professor titular do Departamento de Letras da UFPE.
Leia mais:
A salvação pela estética é a saída possível, por Lucila Nogueira