
Das velhas construções ocupadas com álcool, grafite e amor livre, o porta-voz dos versos parte para a embarcação no Capibaribe. Messiânico e ordinário, declama as verdades cirúrgicas sobre a cidade delineada em preto e branco, estrofes escritas nos bastidores pelo roteirista Hilton Lacerda.
A paisagem que se pintou no ficcional Zizo, do ator Irandhir Santos, inspira dimensão onde viver é pulsão artística e marginal, pronta para se desnudar ao público diverso das salas de cinema. O roteirista mergulhou no lirismo marginal para conceber Febre do rato, dirigido pelo cineasta do desejo e da tramoia urbana, Cláudio Assis. “A ambiência”, diz Hilton, “é muito forte entre esses poetas. Este universo tem um senso de cultura popular tão forte que às vezes se torna hermético para quem vê de fora”.
Assim foi escrito. O nicho da poesia maldita nunca delimitou um campo consensual de afinidades, fossem elas verso ou ethos. Embora possamos nos aventurar a pincelar vetores que aglutinem os inumeráveis marginais, sempre esbarraremos num entrave prévio: o de nunca ter havido estatuto que torneasse, via punho cartesiano da historiografia, do que – ou de quem – tratamos ao nos referirmos ao termo.
Não à toa, a base da concepção maldita da literatura brasileira, nascida no Rio de Janeiro, começou a desmoronar no próprio berço. Já em 1985, o poeta Chacal maldisse a herança da antologia 26 poetas hoje, organizada em 1976 pela professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Heloísa Buarque de Hollanda – mesmo tendo a coletânea alavancado prumos comerciais entre os poetas envolvidos, ele incluso.
Naquele momento, Chacal se apoderou de microfones ácidos para proclamar que o livro “pegou o bonde atrasado da legitimação. Tem pessoas que vieram a reboque e que não prestaram, nem prestam, serviço algum à literatura. É tipo esses discos de rock com 20 grupos”. Em encontro com a reportagem, ele explica. “Normalmente os grupos literários se formam a partir de manifestos, como o concretismo, o modernismo ou a geração de 1945. Mas, nós? Ana Cristina César, Paulo Leminski, Chico Alvim, eu, cada um tinha um estilo muito diferente. Tinha gente de contracultura e gente de supercultura. Fala coloquial era uma característica? Já era presente no modernismo. Estar fora das editoras? Os primeiros livros da maior parte dos autores foram publicados assim”.
“Nossa história não nasceu como um projeto, mas muito espontaneamente”, continua. Foi fruto ácido da política literária de então, capitaneada pelos concretos e suas ressonâncias na academia, na crítica e no tropicalismo. Os marginais, burgueses munidos de mimeógrafos e rebelados contra a repressão, surgiam do outro lado das tensões, em geral com inclinação mais discursiva ou assertiva. Alguns, como Chacal, eram formados “no samba, no rock n’ roll, na literatura beatnik”. Outros, “como Leminski, tinham a concisão da poesia concreta”. Aproximavam-se, mesmo que errantes, ao se reconhecer num corpus que trombava no real ultrajante.
O grito da independência, controverso em essência, gerou a verve inquieta que estabeleceu a prática dos recitais como instituição, já no Pernambuco de 1980. Cida Pedrosa, uma das cabeças do Movimento de Escritores Independentes de Pernambuco, empossa o espírito em versos, realçando a fertilidade do momento: “Geração ácida/que diluía a alma em álcool/e fazia da redoma o copo/com certeza, senhores/vai longe, muito longe, o tempo/em que tiramos o papel do limbo/e cravamos o punhal no branco”.
Décadas depois, coletâneas como Marginal Recife, lançada em 2002, deixam entrever produção que patina entre escrituras boêmias, apontamentos de cotidiano, atração escatológica e crítica social, mas sem sincretismo. De um lado, o poema hit de Valmir Jordão belisca o capitalismo: “Coca para os ricos/cola para os pobres/Coca-Cola é isso aí!” Do outro, a poesia convulsiona em Lara: “Poesia,/eu te amo assim mesmo/como tu és:/Pobretona,/Sem senso prático (...)”. Mais à frente, a criação literária é sórdida em Erickson Luna: “Os vícios tragam-me depressa/à parte a rebeldia que me torna em jovem”.
Talvez ponto inequívoco de interseção tenha sido, como escreveu Francisco Espinhara, o destino-entrega dos autores à miscigenação de vida e obra literária: “Os poetas esquecidos no beco/transam sangue a trago seco/dormem como trapos sobre o chão”, escreveu em referência à Sete de Setembro, rua ponto de encontro para versações sobre política, arte e rebuliços outros. Se havia traços comuns, observa Cida Pedrosa, era “um modus vivendi, uma batalha muito física que tinha no corpo e na voz os principais meios de veiculação”.
Já as sínteses estéticas são mais diluídas. Segundo Cida, houve poucas proposições efetivas em termos de uma política de estilo, embora haja pontos de relevo, como a fecunda herança da poesia curta, tal como já ironizou Lara – “Escreva pouco,/seja sintético/e facilmente consumível”. No bojo das análises, é comum que se fale, por exemplo, na poesia bomba de Valmir Jordão ou na crônica urbana de Miró da Muribeca, autor incorporado ao grupo original alguns anos depois.
Como alerta Cida, no entanto, encontrar o limiar profícuo entre estética e modus vivendi passou a ser desafio. Para alguns, a arte per se teria sido acachapada pelo mítico literato que vai de encontro aos seus leitores onde quer que estejam. “A maior parte deixou uma obra muito boa, mesmo que do ponto de vista mais clínico. Mas, às vezes, pode acontecer da persona de um poeta ofuscar o quanto ele é bom poeta”.
Parte dos marginais pouco ou nada publicou. França, falecido em 2007, era mais categorizado pela vociferação ambulante. Erickson Luna, morto no mesmo ano, lançara seu primeiro livro, Do moço e do bêbado, apenas em 2004. Mesmo assim, foi lembrado como o “último dos beatniks”, elegia carinhosa à vida boêmia. Como num universo de Baudelaires ou Jim Morrisons, entender a arte maldita colou-se à exigência de perceber a vida maldita.
“A tradição gauche, a produção beat tem algo do tipo”, aponta Chacal. “É extremamente romântico o cara da resistência fazer um negócio pra ninguém ler. É heroico ser livre porque não se tem mercado e ser gostado mais pela atitude, enquanto pouca gente conhece a poesia de fato”.
Deslocar a obra da prática — ou vida — literária, portanto, efeito de metodologia possível para esboçar uma teoria ou uma crítica da produção marginal, talvez possa descreditar certos escritores exatamente por violar o fundamento de que sua produção é equilíbrio entre versos e impacto de versos no mundo, e que só assim pode ser compreendida em seu sentido político. Miró, ilustre showman marginal, recentemente foi alvejado.
Num Bairro do Recife assoberbado pela multidão, onde marcou com a reportagem, convida-nos para o árido boteco na Rua Tomazina, pois está “arredio de gente e não aguento mais poeta do meu lado, nem tietagem sem nexo”. No geral, pode ser visto e reimaginado proclamando assertivas socioeconômicas numa reunião abarrotada de moradores em seu bairro. De tempo em tempo, porém, desliga-se do mundo, ordena um destilado e observa as pessoas em volta.
“É na hora da reclusão que eu mais crio. Pego um cara pra ler e, se gosto, dá uma inveja e termina saindo alguma coisa”. Em geral, o olhar denuncia amor e ódio pela cidade, tramitação do cotidiano, observações sobre a urbe de piadas cáusticas e cunho coloquial. No reencontro com o público, impossível não arrancar risos de plateias diversas. “Por que eu vendo? É a ‘corpoeticidade’ (conceito usado por André Telles do Rosário em tese sobre o poeta). Se eu chegar com um livro na mão e me apresentar pra 100 pessoas, vendo 70”.
O carro-chefe das vendas tem exemplares como Poesia pra pular, que gerou declaração vulcânica do crítico Bernardo Souto. “Por trás de um ônibus lotado/e uma cadeira vazia/há sempre um grande vômito”, rabisca o poema. No que o crítico ataca: “Ora, podemos constatar, sem grande esforço, que a única diferença do ‘poema’ transcrito acima para um gracejo de um bêbado espirituoso após uma noite de farra é a materialização do texto através da mancha gráfica na página”.
Minando a sugestão luxuriosa de uma inspiração romântica, Bernardo diz que Miró “vomita” seus versos, que não teriam valor estético e só se tornam obra após ingresso num sistema literário. A reação às provocações, que mais uma vez retumbam o clichê Duchamp de relação com as instituições, gerou debate caudaloso no blog do crítico, reunindo analistas e escritores mais novos, como Wellington de Melo. Entre acusações de fascismo, surgiu afirmação de que, afinal, “estamos mesmo em tempo de vômitos”.
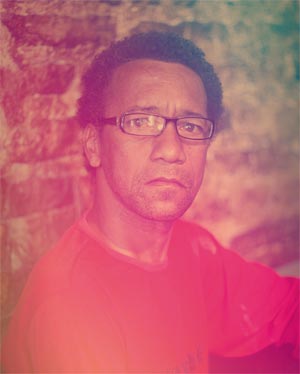
Não à toa, Miró é imune ao ultracerebral João Cabral de Melo Neto, “sisudo demais”. Diz que só na entrega sensível a poesia é capaz de chegar até o outro. Nas palavras de Valmir Jordão, há certa produção literária de tergiversação acadêmica que “fica um rococó lindo, mas não tem conteúdo, enquanto o nosso lirismo é cru”. A diferença entre uns e outros, termina Miró, é que os marginais “andam mais de ônibus”. Um gesto de dimensões políticas que, para Cida, se capilariza e não se deteriora. “Miró é o cara que encontra a polis, é a criatura que dialoga com ela. Há alguns poetas que morrem e a cidade não percebe que o perdeu. Feliz é o poeta que, ao morrer, é lembrado por sua aldeia. Sua poesia não morrerá”.
Mas, afinal, chegou o momento em que, como nunca, Miró passa a viver “bem” apenas de poesia. Palestras e profissionalização da poesia como função pedagógica. Chacal, por sua vez, saiu da autoatribuída selvageria para ser “absorvido pelo mercado e pelo sistema”, produzindo eventos e mais palestras. Se, na realidade de 1980, veicular livremente exigia mimeógrafos, fotocópias e organizações civis, hoje livros são menos custosos e competem com redes sociais e blogs – como o Interpoética, editado por Cida –, plataformas de clamor democrático. É possível ainda ser marginal?
Valmir Jordão mantém-se como “operário da literatura”, mas põe em xeque a pertinência do termo. “Seria babaquice estar na marginalidade com redes sociais. Seríamos monstrengos. A situação não é mais a mesma de 30 anos atrás, embora o tratamento ainda seja diferente. Ainda nos diferenciam”, diz, ao condenar a pulverização da crítica. Para Chacal, colhemos frutos agridoces de uma democracia capitalista, onde políticas são sempre apaziguadas, para a pena do pensamento crítico.
“Na época da ditadura, o governo militar era o espantalho que a gente queria acertar. Agora temos o mercado, e o inimigo que existia fora da gente passou a ser interior e invisível. Antes, quem se opunha não deixava de integrar o sistema. Hoje, se você não consome, está fora”. Sugere, então: talvez haja diferença fundamental entre os ditos marginais, incorporados à lógica do consumo, e aqueles que, ainda distribuindo panfletos para pagar o ônibus, permanecem invisíveis. Marginais que talvez um dia descubramos.
Recentemente, Lara (um dos artistas-pesquisadores de sua geração) escreveu ensaio em tom de, enfim, manifesto, reposicionado um sentido literário para a marginalidade – termo que, de longe, critica, em favor da noção de “independência”. Lara usa tom conciliatório, repudiando qualquer extremismo. De um lado, afirma que “nem sempre o mais importante é a obra-prima”. Do outro, que “se há riscos no ‘belo pelo belo’, também há no ‘sujo pelo sujo’, uma tendência contemporânea”. Acredita, porém, que a estruturação do mercado admite meios-termos: “a ‘resistência’, atualmente, pode ser feita por pessoas razoavelmente ‘normais’, assimiláveis pela coletividade”.
Mesmo assim, o andar da carruagem parece ter colocado a própria produção poética na berlinda. “A poesia é marginal desde que Platão expulsou os poetas, mas agora o deus é o mercado e não há mais editora que publique poesias”, diz Valmir Jordão, que está escrevendo livro de contos para “entrar na estratégia”. Chacal, do alto de relativo estrelato maldito, ainda se rebela: “O poeta, quase como um estigma do bem e do mal, é sempre um marginal. Sua linguagem carece de adeptos”.
Luís Fernando Moura é jornalista.