
Walter Benjamin (1892-1940) está em três linhas da História da literatura ocidental, de Otto Maria Carpeaux (1900 – 1978), que ganhou recentemente nova edição pela Editora Leya: “Walter Benjamin, mais crítico da cultura que da literatura, desenterrou o teatro barroco alemão e escreveu excelentes ensaios sobre Baudelaire, Gide, Kafka, Brecht e Döblin” (a edição da obra de Carpeaux começou em 1959, mesmo ano em que se inicia a tradução do pensador alemão para um segundo idioma, o francês). São três linhas ainda frescas porque Benjamin, mais crítico da cultura que da literatura, continua a desenterrar o barroco. Continua a reafirmar-se como “o primeiro crítico de literatura alemã”.
Desenterra o barroco pela primeira vez em sua obra mais complexa, Origem do drama barroco alemão (de 1925, publicado em 1928 e a partir de agora referida como ODBA), tese de livre-docência rejeitada pela Universidade Frankfurt. A banca, da qual fazia parte Franz Schultz, professor de germanística que havia sugerido o tema a Benjamin, não entendeu a ambiguidade do meio milhão de citações sobre a forma do Trauerspiel (expressão que já foi traduzida de inúmeras formas: drama barroco alemão, na tradução de Sérgio Paulo Rouanet, publicada em 1984; ou drama trágico, como sugere a tradução do português João Barrento, de 2004, publicada só agora no Brasil pela editora Autêntica. No título do tradutor português, temos: Origem do drama trágico alemão).
Como afirma Hanna Arendt em Homens em tempos sombrios, o barroco “nunca esteve realmente vivo” na Alemanha e, nesse sentido, contava para o estranhamento causado pela ODBA a admissão por Benjamin de que “o passado só falava diretamente através de coisas que não haviam se transmitido”. Uma forma morta (ou que nunca esteve viva), mas em cujos textos o filósofo localizou a potência de “dar a ver no tempo no qual nasceram, o tempo que os conhece”. No drama barroco, o alemão encontrou a origem de práticas políticas de seu tempo sombrio e, como um pássaro anunciando mudança nos ares, torceu a teoria da soberania de Carl Schmitt para colecionar os sinais que pragmaticamente interpretou tão mal ao custo da própria vida.
Benjamin viu, no Trauerspiel, alegoria e melancolia: um drama que representava uma queda sem saída, que não pretendia distrair, nem consolar, em que o essencial e o acessório se confundiam, a agitação política não era escatológica, e a linguagem se tornava violenta e cifrada para acompanhar os acontecimentos. Citando a observação do escritor J. M. Coetzee a respeito da originalidade do filósofo, Benjamin também havia compreendido que “a política apresentada como um teatro grandioso, e não como discurso e debate, não se limitava a explicar o fascínio do fascismo, mas era o fascismo em essência”. O barroco era então uma “atual” encenação de personagens “à deriva no palco”, a caminho de uma catástrofe melancólica, que só poderia ser contornada (e talvez por isso só pudesse ser intensificada) pelo estado de exceção.
Autora de títulos como Benjaminianas: cultura capitalista e fetichismo contemporâneo e O iluminismo visionário: Benjamin, leitor de Descartes e Kant, Olgária Matos sugere que o drama barroco está repleto de fantasmas. Diferente da tragédia antiga, neste novo mundo não existem soluções definitivas: os homens, como os homens do tempo de Benjamin, aparecem dominados pelo mundo das coisas, onde os êxitos são transitórios e as catástrofes, a regra.
“Quando uma obra de pensamento é forte, ela permanece no tempo porque ela desafia a vida do espírito. Ela continua a ser reaberta e a ser reinterpretada porque cada período encontra nas obras a sua inteligibilidade interna. Imagine uma obra que não foi entendida, foi recusada pela academia, que foi a maior obra jamais escrita sobre o barroco e até hoje continua causando espanto, por seu método, por parecer heteróclita. Na ODBA, Benjamin trabalha em vários registros – literário, político, histórico, dramatúrgico e filosófico. Mas é uma obra que não tem nada de ecletismo: o que há é a busca de afinidades, e as afinidades não reconhecem uma relação causal entre os enunciados. Por isso o método de Benjamin é um método ‘se fazer’ do pensamento. Isto é, o pensamento se fazendo, precisou se valer da literatura, precisou ir às artes, precisou ir à medicina, precisou falar do Expressionismo, precisou falar da política”, observa Olgária em entrevista ao Pernambuco.
Michael Löwy, brasileiro radicado na França, pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique, também lembra que o custo da preservação da ODBA caiu, em primeiro lugar, sobre a vida do próprio Benjamin. “Ela custou-lhe a carreira universitária. Ao recusar essa obra, a Universidade de Frankfurt cortou pela raiz a possibilidade de ele fazer uma carreira na universidade e isso o empurrou para a vocação de crítico literário, que ele assumiu, com muita dedicação. O itinerário intelectual e pessoal de Benjamin resultou um pouco desse ‘fracasso acadêmico’ da ODBA, o que se deve ao fato de o livro ter um caráter, digamos, esotérico – em particular em seu prefácio, que é muito hermético, difícil de entender. Por isso o júri da Universidade de Frankfurt declarou: ‘Já que nós não entendemos, nos recusamos a julgar a tese’. A indecisão dos monarcas, a servilidade dos cortesões são coisas atuais, muito evidentes na Europa de hoje, mas eu pessoalmente não acho que a ODBA seja um dos livros mais atuais de Benjamin. Sem dúvida em outros trabalhos podemos encontrar melhor essas constelações entre o presente que vivemos hoje e o presente do drama barroco, a exemplo das Teses sobre o conceito de história (1940)”. Löwy é autor de Walter Benjamin – Aviso de incêndio.
A ODBA foi baseada numa ousada teoria neoplatônica das formas literárias, ia contra as regras da academia, deve ser considerado como um dos textos mais radicais e um dos frutos mais inteligentes da cultura europeia da primeira metade do século 20. É o que acena Márcio Seligmann-Silva, professor livre-docente de Teoria Literária na Unicamp, autor de títulos como A atualidade de Walter Benjamin e de Theodor W. Adorno e Ler o livro do mundo. “Como para mim Benjamin tem uma grande atualidade, o mesmo vale para essa obra. Ela pode ser pensada como nossa contemporânea em vários sentidos. Por seu método, que é transdisciplinar, une filosofia, história da arte, teoria política e teoria literária, de um modo original e muito inspirador”.
“Também pelas temáticas abordadas”, continua Seligmann-Silva em entrevista para o Pernambuco, “esse ensaio é atual, como a teoria da soberania, da melancolia, da alegoria, do barroco, da tragédia: todos esses conceitos ainda possuem um grande valor e isso não apenas para a reflexão estética. Podemos pensar a atual crise da modernidade (ou da pós-modernidade, como alguns preferem chamar) utilizando esses conceitos. Para Benjamin, o mundo da alegoria barroca tem como sua força centrípeta a referida ‘fidelidade aos objetos’ do melancólico e alegorista, que coleciona as ruínas do mundo. Já em Baudelaire, no século 19, Benjamin identifica um gesto semelhante, o do trapeiro que reúne e investe de sentido aquilo que a sociedade joga fora, transformando o lixo em seu tesouro. Essa dialética entre o resto, o que sobra e é descartado e, por outro lado, a sua transformação em tesouro, é central, como um procedimento heurístico onipresente na obra de Benjamin. O próprio drama barroco alemão era uma espécie de resto, já que era um gênero desprezado pela historiografia literária. Benjamin soube extrair dessas obras esquecidas poderosos insights que até hoje iluminam a crítica cultural. É interessante perceber que apesar de ter elegido dois temas eminentemente germanísticos em seu doutorado e também em sua livre-docência, ou seja, nos ensaios sobre o romantismo e o barroco alemães, em nenhum momento Benjamin sucumbiu ao pensamento nacionalista. Pelo contrário, ele desenvolve abordagens que desmontam a postura nacionalista que enaltece as ‘grandes obras nacionais’ como um patrimônio intocável que merece apenas veneração. Daí Benjamin se sentir livre para resgatar um gênero como o drama barroco alemão que, por seu elemento grotesco, não facilitava uma leitura nacionalista e ufanista. Benjamin vai justamente enfatizar esse aspecto grotesco do barroco alemão”.
De acordo com Tereza Callado, professora de Filosofia da Universidade Estadual do Ceará, organizadora do Encontro Internacional Walter Benjamin e editora dos Cadernos Walter Benjamin (www.gewebe.com.br/cadernos.htm), o drama barroco se diferencia da tragédia clássica, entre outros aspectos, pela natureza noturna da narrativa e pela negativa da síntese (Benjamin rejeita a dialética idealista hegeliana). “O drama barroco é noturno, e concebido temporalmente num sentido figurado, parasitário, onde o mal se configura investido de um poder soteriológico, inexplicável, construído de uma ideologia fechada, que se transforma em causa, na óptica de Benjamin, de todo o sofrimento no mundo, onde os limites estão fundidos aos da morte. É esse o motivo pelo qual Benjamin exclui a síntese. O Trauerspiel a construiu de forma dramática. Para o filósofo, a síntese é concreta e paralisa o pensamento. Ao se concretizar no mundo — e isso vai acontecer quando ela se ‘personifica’ em uma ideologia —, são excluídos todos aqueles que se posicionaram avessos a ela. Foi o que aconteceu ao regime da cortina de ferro, ao totalitarismo nazista, às ditaduras da América Latina e aí por diante, até às ortodoxias religiosas... como estamos assistindo nos fundamentalismos. Em suma, o sistema fechado é causa de sofrimento. Ao contrário, a leitura aberta da história possibilita a felicidade. E no estado de indefinição em que vivemos atualmente, com a morte da crítica, é perigoso se tender para o lado da síntese. Ela possibilita a tragédia. Para o que Benjamin nos acena? A história precisaria permanecer aberta, para que seja possível se educar para a decisão, na ação política compreendida lato sensu, acredito. Por isso Benjamin viu no Trauerspiel o drama barroco e não a tragédia, desfiada pelo destino. Trauerspiel é o drama da existência, que inclui o conflito, a tensão, e daí o aspecto lutuoso, sem deixar de ser Spiel — artifício, jogo, para além do luto, a partir da decisão.”
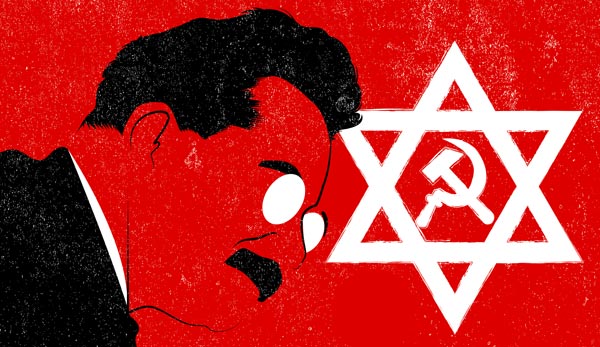
A ACÉDIA
O drama barroco fala da ausência de referência em um mundo sem Deus, falta de transcendência que põe em xeque a capacidade de decisão dos soberanos. O monarca do drama barroco não é capaz de decidir: a prolixidade dos seus pensamentos faz a ação se converter em inação. O tirano tem ao mesmo tempo poder e medo, intrigas e traições encontram seu palco na história convertida em um tempo interminavelmente longo e as ações se tornam gratuitas em um mundo e em vidas desprezadas pelo tédio. Daí que a melancolia seja um tema central da ODBA.
Mas a questão da acédia se refere não só ao monarca, mas também ao oportunismo espiritual do cortesão. “O cortesão no qual essa preguiça melancólica do espírito serve de pretexto para acompanhar o poder. Servir de eco, de sombra ao poder. Servir simplesmente como uma cauda ao poder real, monárquico. Essa atitude contemplativa, de inércia, é a atitude do cortesão que simplesmente se adapta aos poderosos. Esse é um tema que Benjamin trata na ODBA, mas de uma forma histórica, acadêmica, porque devemos lembrar: foi um livro escrito em um período em que Benjamin não havia descoberto o marxismo. É uma problemática um pouco metafísica, teológica e literária, que é bastante impressionante, mas que não chega a ter realmente uma expressão política mais contundente. É com a descoberta do marxismo, que se dá logo em seguida, que Benjamin vai repensar essa e outras questões, e reformulá-las em outros termos. A questão da acédia volta nas Teses sobre o conceito de história. O tema aparece para designar o equivalente moderno do cortesão que é o historiador conformista, responsável pelo historicismo que apenas repete e reproduz a história dos vencedores”, acena Löwy.
Segundo Márcio Seligmann-Silva, para quem a comparação dessa acédia com o conceito de “tédio profundo”, de Heidegger, não seria válida, Benjamin também falava criticamente de uma “melancolia de esquerda”. “Por outro lado, sua análise da melancolia no seu livro sobre o drama barroco alemão deixa patente que ele percebia uma relação entre esse estado anímico e a fidelidade ao mundo das coisas. Essa fidelidade é essencial para se entender o universo do próprio Benjamin, ele mesmo um grande colecionador e alguém com muitos traços do melancólico. Não gostaria de aplicar o termo ‘tédio profundo’ para essa melancolia, já que não se trata aqui de tédio nem de algo profundo. Pelo contrário, o melancólico se apega à materialidade do mundo, à sua superfície desprovida de toda transcendência. Isso não tem nada a ver com a neometafísica heideggeriana. Benjamin também opunha o tempo mítico (da repetição, no qual não existe experiência), que caracteriza os personagens de Kafka, ao tempo messiânico, que surge em Benjamin como uma interrupção absoluta, um tempo do agora (Jetztzeit). Já o soberano barroco, que Benjamin caracteriza como figura paradoxal que ao mesmo tempo decide o estado de exceção e é um incapaz de tomar decisões, permite introduzir na teoria política um ponto de vista que coloca de ponta-cabeça a teoria do decisionismo de Carl Schmitt. Ao invés do soberano absoluto e autossuficiente, vemos em Benjamin a figura de um indeciso, vítima das intrigas de sua corte.”
Na leitura de Tereza Callado, Benjamin reconceitua, com base nas alegorias do Trauerspiel, a melancolia que aparece como taedium vitae entre os medievais. A tonalidade afetiva do melancólico não é só inação ou ação de repetição, mas algo que desativa o tempo, suspende o ato: espera o pensamento fazer seu trabalho paciente. “O filósofo observa nela a criatividade para dilatar a percepção sobre a realidade. Desse modo, a torna criativa; do mesmo modo, a poesia spleen de Baudelaire, originada no tédio, é capaz de denunciar o status quo, que na modernidade consiste no tempo infernal da repetição. Nos dois casos, o olhar que tenta digerir a realidade com o Grübeln (o ruminar reflexivo) com o objetivo de vislumbrar saídas, mesmo labirínticas, é possibilitado pelo estado de ânimo que acomete o melancólico, aquele que está sob o signo de Saturno. No sentimento de insatisfação e rejeição diante do mesmo fenômeno na sua pré e pós-história (aqui me refiro à incapacidade de decidir do príncipe barroco que causa a vertigem, que também é a vertigem da existência na metrópole), o método do desvio desvela a inexorabilidade da Verhängnis (fatalidade) que acomete o homem barroco (quando o mundo se torna vazio de sentido), tanto quanto aquele que debruça seu olhar sobre a vitrine.”
“A diluição de sentido do objeto antigo é a mesma”, continua Tereza. “Lá, o esvaziamento do sentido é desencadeado pelo rigor da moral luterana, que previne o cristão contra os artifícios da indulgência plenária (recompensa pela ação ‘caridosa’). Essa nova mentalidade se alastra, tinge tudo e a todos de melancolia, sobretudo os grandes, aqueles que tem que decidir, como o príncipe barroco. Ali, a fatalidade vem aliada à injustiça, aos jogos de poder alcançados pela ambição e o egoísmo e constroem um conceito de história para a época – história naturalizada. Essas relações de força são desencadeadas como uma avalanche sobre o homem.”
Aqui entra, no conceito de estado de exceção – expediente político sugerido pelo direito constitucional da época, a digressão feita por Benjamin contra a teoria da soberania vigente no absolutismo barroco. “O monarca que é o responsável absoluto pela salvaguarda do seu povo é coagido pelas contingências do conflito civil religioso, gerado pela reforma luterana, a interferir nessa situação delicada por se tratar de uma disputa de irmãos na mesma crença, então dividida em moral católica e moral luterana. Seja utilizando a imparcialidade, o conformismo, seja a apateia medieval aconselhada como recurso contra o pecado da vanitas, o Estadista não consegue contornar o conflito, embora imperiosa seja a contingência a exigir uma decisão”.
Nesse impasse, aponta ainda a professora de filosofia, aguça-se a percepção da fragilidade da insígnia real, descoberta na solidão do soberano. “Na tragédia dos antigos, Édipo também descobre sozinho o peso do destino, mas enquanto Édipo se pereniza como herói, o drama barroco não conhece personagens, nem escatologia. As figurações estão sob a ordem de um destino que é a condição de mortal, a ser expiada por todos. O cenário é o da naturalização da história, onde a physis, ao invés de definir a harmonia pré-estabelecida no cosmos, na percepção dos antigos, tende ao decadente, ao precário. Esse dado dispensa a necessidade de uma culpa. Assim todos são manipulados, seja pelas leis de ferro da natureza, a morte, seja pela história, na verdade história do poder, e aí os papéis se alternam, se invertem. Nessa dialética na imobilidade (com a qual Benjamin rejeita a dialética idealista hegeliana) tanto o soberano conhece a superioridade do bufão em desarticular por um instante a sua tristeza, como o fiel conselheiro irá fazer o papel de conspirador, traindo o príncipe por apatia. É da natureza do drama barroco, na fixidez da sua forma, que nenhum dos personagens exiba o menor sopro de ideal revolucionário. Não há tragédia, pois todo conflito se enquadra nas leis dilatadas da calculabilidade da criatura, onde a história é concebida dessa forma.”
Benjamin desenterra com a ODBA não só um gênero que sequer esteve vivo, mas a atualidade intensiva de Benjamin, um modo de pensar que funda outra noção de atual sob a ideia que a felicidade, sempre tocada pela nostalgia, reabre o passado — atualidade que faz de Benjamin mais do que “belos livros de Walter Benjamin” — uso aqui, para concluir, a pertinente expressão de Jeanne-Marie Gagnebin em seu ensaio para Pensamento alemão no século XX, em crítica à glamourização do pensador. Desenterramos com a ODBA, enfim, a força da alegoria, do não compreendido, do recalcado, sempre pronto para apontar para o nosso próprio século aquilo que ele tem de mais fantasmático, conspiratório e lutuoso. O que nele se dissimula por afasia, inapetência, falta de gosto e decisão, sintomas de nossa total, ou quase total, submissão à ordem das coisas.
Paulo Carvalho é mestre em Comunicação Social
Confira a nossa segunda matéria de Capa:Três anotações para você ler com Benjamin