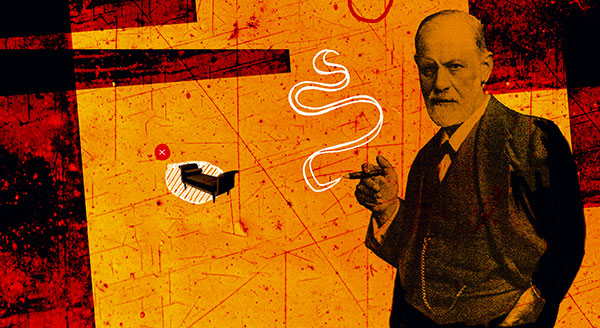
Freud (1856-1939) introduz o Caso Dora(a jovem vienense Ida Bauer, ou Dora, era histérica. Sofria com dores de cabeça, tosse nervosa, afonia, insociabilidade. Também estava deprimida. Foi psicanalisada por três meses em 1900) como quem joga definitivamente fora as chaves de um mistério. “Estou ciente de que existem — nesta cidade, pelo menos — muitos médicos que (por revoltante que possa parecer) preferem ler uma história clínica como esta, não como uma contribuição à psicopatologia das neuroses, mas como um roman à clefdestinado a seu deleite particular. Posso assegurar aos leitores desta espécie que toda história clínica que possa publicar no futuro será garantida contra sua perspicácia por medidas semelhantes de sigilo, muito embora esta resolução fatalmente ponha restrições bastante extraordinárias à minha escolha de material.”
Restrições extraordinárias. Contornava, portanto, Freud uma questão: fazer passar, pelas limitações do sigilo médico, assuntos sexuais, pessoais, familiares (“A elucidação de um caso de histeria implica certamente na revelação dessas intimidades”), tratados “com franqueza”, mas sem devastar a vida daquela que lhe oferecia o “material” da escrita (à época, o Caso Dora também foi discutido através de correspondências, com o médico Wilhelm Fliess, “em cuja discrição” tinha o narrador “total confiança”, e diretamente com o pai da paciente).
A citação está no texto Fragmento da análise de um caso de histeria(escrito em 1901 e só publicado em 1905). Freud demonstra-se consciente da sua condição de escritor. O “selo literário”, sabia, era o destino de sua disciplina, ainda que justamente desse deslizamento não científico surgisse a necessidade de uma postura “antirromanesca”. Em um dos parágrafos mais famosos dessa luta por legitimação, escrito no Caso Elisabeth, quase uma década antes, e publicado em Estudos sobre a histeria(1893-1895), o psicanalista já se queixava: “A mim causa singular impressão comprovar que minhas histórias clínicas carecem, por assim dizer, do severo selo da ciência, e que apresentam mais um caráter literário. Mas consolo-me pensando que este resultado depende inteiramente da natureza do objeto, e não de minhas preferências pessoais”.
Os casos clínicos acenavam, pois, para uma narrativa “exemplar”, destinada ao tratamento de “inúmeros outros pacientes que sofreram ou sofrerão um dia do mesmo mal”, a ser lida sem qualquer discrição. O “deleite particular” com o que acontecia na clínica era um horizonte, uma tentação, preocupava-se desde sempre Freud. Mas também, sabia o médico vienense, que o que ele desejava falar estava destinado à incompletude, à contingência. Narrar, mesmo cientificamente, era restringir, escolher as melhores janelas, calar alguns segredos de seus personagens, encontrar em outros associações que se mostrariam profícuas mais adiante (sem falar que o inconsciente não apenas freudiano, mas o do próprio Freud, também falava por sua escrita). Escrever era, portanto, navegar o rio do sintoma, a princípio um “rio não navegável cuja corrente é em determinado ponto estrangulada por massas de rocha e em outro dividida, perdendo-se entre baixios e bancos de areia”. Ordenar a incapacidade dos pacientes de fornecer uma história, digamos, romanceada de si mesmos, fosse por dissimulação consciente, fosse por dissimulação inconsciente. O que estava em jogo no relato da clínica era recriar a memória, saltar em sua duração.
Em O inconsciente estético, Jacques Rancière constata que a psicanálise é inventada no ponto em que filosofia e medicina “se colocam reciprocamente em causa para fazer do pensamento uma questão de doença e da doença uma questão de pensamento”. Inscreve-se historicamente no cerne de um movimento cujos heróis filosóficos são Schopenhauer e o jovem Nietzsche e “que reina na literatura que, de Zola a Maupassant, Ibsen ou Strindberg, mergulha no puro sem-sentido da vida bruta ou no encontro com as forças das trevas”. Ou seja, Freud não apenas possuía uma filiação literária-filosófica, como seu discurso estava amparado pelas mesmas condições de possibilidade: o seu Édipo dá o testemunho de que, “em matéria de pensamento, é sempre de doença e de medicina que se trata.” E seu Édipo é inconcebível no regime clássico de representação, não porque mata o pai e se deita com a mãe, “mas pelo modo como aprende, pela identidade que encarna nesse aprendizado, a identidade trágica do saber e do não-saber, da ação voluntária e do pathos sofrido”. Está maniacamente obstinado por “saber o que é melhor não saber”, tomado pelo “furor que impede de ouvir” e reconhecer “a verdade na forma em que ela se apresenta”.
Édipo fala de “uma catástrofe do saber insuportável, do saber que obriga a subtrair-se ao mundo do visível”. Não por acaso, Freud é um leitor (um leitor tornado possível) dos textos de Hoffman, Jansen e Shakespeare, cujas obras hesitam entre fantasmas, duplos e o real.
Na biografia Freud - Uma vida para o nosso tempo, Peter Gay comenta que o psicanalista ficou muito ressentido em razão de ter sido preterido para o prêmio Nobel. Sentia-se, contudo, “encantado” pelo Prêmio Goethe, oferecido a ele em 1930. O texto deste prêmio, aliás, dizia: “A psicanálise (...) enriqueceu não só a ciência médica, mas também o mundo mental do artista e do pastor, do historiador e do pedagogo.” Freud sempre esteve preocupado em defender a cientificidade do seu método. Não era propriamente um escritor (de ficção ou memorialista), não era um ensaísta, não era poeta e nem era filósofo da cultura. Mas Freud tinha a consciência que o estilo fazia parte do que ele estava buscando dizer?
Para a psicanalista Purificacion Barcia Gomes, autora de O método terapêutico de Sherazade, sim. Mas encontrar o estilo não era o objetivo. “Podemos dizer que Freud era um verdadeiro ‘analista de texto’. A que texto me refiro? Refiro-me ao relato dos pacientes, tanto de suas vidas como de seus sonhos, aos textos literários propriamente ditos — poemas, contos, mitos etc. Freud preocupou-se, acima de tudo, com a linguagem, tanto em seu conteúdo quanto em sua expressividade, e esteve sempre tão atento ao que era dito (ou escrito) quanto ao como era dito (ou escrito). É impossível, homem culto e articulado que era, que não estivesse sempre consciente da forma e, portanto, do estilo de seus próprios escritos. Como sabemos, grande parte da teoria psicanalítica e das descobertas psicanalíticas decorreu da auto-observação de Freud: era treinado e habituado a observar suas próprias produções espontâneas, sonhos e lapsos”.
“Uma coisa, porém, é Freud ter consciência da importância de seu estilo”, continua Purificacion, “e outra é sua motivação ao escrever: ele desejava, acima de tudo, convencer as pessoas que o liam ou ouviam de que suas descobertas sobre a alma humana eram verdades de cunho científico. Não é provável que ele estivesse preocupado em comunicar-se com as pessoas como um autor que escreve ficção ou poesia o faz. Muito pelo contrário: Freud temia que seus escritos fossem tomados por ficções ou devaneios poéticos. Se seus escritos provocam deleite, emoção, vivências estéticas ou admiração literária, tendo a acreditar que, para Freud, esses seriam subprodutos de seu trabalho, e não sua intenção primária”.
A psicanalista Noemi Moritz Kon, autora de Freud e seu duplo - Reflexões entre psicanálise e artee A Viagem — Da literatura à psicanálise, em que estuda a gênese do pensamento psicanalítico e da literatura fantástica de autores como Poe, R.L. Stevenson e Guy de Maupassant (Kon também é organizadora de 125 contos de Guy de Maupassant, editado pela Companhia das Letras), acena igualmente para o caráter literário do texto freudiano.
“O Prêmio Goethe trata-se do único que Freud ganhou em vida. Como escritor e cientista, e em igual medida (esse ‘igual medida’ é bem interessante). Agora se ele tem noção da capacidade de escrita dele? Fabio Herrmann (1944-2006) comenta que Freud trabalhou como um escritor ficcional, todas as noites, depois de 10 horas de atendimento. Comenta também que é como se nós fôssemos personagens dessa ficção freudiana. Personagens que, ainda por cima, sonham os sonhos do Freud. Aliás, Freud escreve que as histéricas recuperam a magia colorida das palavras. Na simbolização, é como se as histéricas recolhessem a potência das palavras na formulação de suas criações sintomáticas”.
Ana Cecília Carvalho, psicanalista, escritora, autora de A poética do suicídio em Sylvia Plath, Estilos do xadrez psicanalítico: a técnica em questãoe de O livro neurótico de receitas, entre outros, alerta para o local inaugural da psicanálise, traduzido pelo Prêmio Goethe. “Talvez não seja errado dizer que essa concessão, embora motivada pelo desejo de dar o justo reconhecimento do trabalho de Freud, refletia uma certa dificuldade para se entender o que era a psicanálise e para saber em que campo ela se encaixava. Ora, não sendo uma filosofia da cultura nem um gênero literário, muito menos uma especialidade da medicina ou uma ciência nos moldes da ciência tradicional, ela se coloca na interface desses campos, muitas vezes para nos obrigar a redefini-los a partir do seu eixo teórico mais importante, que é a teoria do inconsciente”.
“Se Freud não ficou exatamente feliz por ter recebido um prêmio de literatura”, acrescenta ainda Ana Cecília, “talvez tenha sido porque ele via nessa premiação uma tentativa de fazer da psicanálise algo diferente do que ela é. No meio de expressões mais ou menos veladas de resistência às ideias psicanalíticas, existem aquelas que desconhecem o caráter investigativo da psicanálise e ignoram o fato de que, embora seja também um método terapêutico, originado na clínica da neurose, ela nos permite compreender, de modo sistemático, fenômenos culturais fora da clínica. Nunca é demais lembrar a definição dada por Freud para a psicanálise: ela é, em primeiro lugar, o nome de um procedimento para a investigação de processos mentais que dificilmente são acessíveis por qualquer outro modo. Em segundo lugar, a psicanálise é um método terapêutico baseado nessa investigação. Finalmente, ela se constitui em um conjunto de informações psicológicas obtidas por essas duas linhas de trabalho, informações que, ao longo dos anos, veio a se acumular em uma nova disciplina cientifica. Não há dúvida que a divulgação das ideias psicanalíticas em todo o mundo é tributária do estilo claro, próprio de Freud, de escrever. Mas acredito que a afirmação da psicanálise e o respeito que ela recebe no campo das ciência se devem à maneira como, desde a sua invenção há mais de cem anos, ela tem se mostrado eficiente não apenas para compreender a natureza do sofrimento psíquico em suas variadas formas, mas também para entender produções humanas tais como a literatura, a guerra, o trabalho, as artes e a religião”.
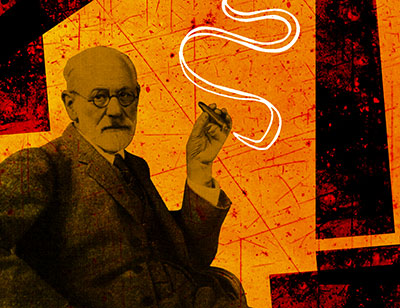
FREUD AJUDA?
Se é verdade que o estilo de Freud, distante do das monografias clássicas, causa algum tipo de deleite, e que somos, mesmo leitores leigos, instigados por tramas complexas, talvez não fosse descabido perguntar: qual a natureza do “alento” que encontramos na leitura por exemplo de textos como Luto e melancolia? (Como não sentir-se implicado nas características de um mal tão comum: desânimo profundamente penoso; suspensão do interesse pelo mundo externo; perda da capacidade de amar; inibição de qualquer atividade; diminuição dos sentimentos de autoestima; expectativa delirante de punição? Esse texto, incluisve, entrou na lista de mais vendidos de não ficção no Brasil este ano, numa cuidadosa edição da Cosac Naify).
“Certos textos freudianos, o primeiro que vem à mente é o Caso Dora, têm uma trama extremamente atraente para o leitor. Outros casos clínicos como O homem dos lobose O homem dos ratossão também muito apreciados por leitores leigos em psicanálise. Todas essas obras têm certa semelhança estrutural com os romans à clefe, portanto, prendem a atenção até o final — esperamos pela ‘explicação causal inconsciente’ com a mesma impaciência com que aguardamos a solução de um romance de mistério. Já do gênero mais épico/mítico podemos pensar na importante ficção psicanalítica que é Totem e tabu. A sensação de conforto, em uma determinada relação, advém da vivência de sentir-se compreendido, de sentir-se acolhido, próximo ao nosso semelhante. Deixamos de sentir-nos sós. Esta sensação pode tanto ocorrer em uma análise, na leitura de textos psicanalíticos ou de textos literários, no encontro com o ser amado etc. Não penso que essa vivência seja a mesma que é oferecida por um livro de autoajuda, onde se ensina ao leitor ‘o caminho das pedras’ para a felicidade. Ao contrário, os textos psicanalíticos, assim como os bons textos da literatura, nos aproximam de nós mesmos”, sugere Purificacion Barcia Gomes.
Para Noemi Moritz Kon, a aproximação com o leitor atualiza uma potência inerente ao texto freudiano. “Eu falo de uma psicanálise estética não porque exista poesia na psicanálise, mas pela potência criadora que o encontro psicanalítico pode ter através das novas narrativas que podem ser criadas. Dou aula de psicanálise para estudantes que estão se iniciando e discutimos os sonhos de A interpretação dos sonhos(1899), os atos falhos que ele apresenta em Sobre a psicopatologia da vida cotidiana(1901). Ambos textos com mais de cem anos, mas que nos mantêm dentro dessa ficcionalidade que é o discurso psicanalítico de Freud. Psicanálise é linguagem e só permite transformações porque ela tem em si a potência de literatura, como Roland Barthes (1915-1980) fala. Note que os grandes psicanalistas têm sempre uma escrita muito peculiar. Melanie Klein (1882 – 1960) é quase selvagem. Winnicott (1896 -1971) tem um estilo simples e nessa simplicidade traz os seus conteúdos. O estilo de Freud é pomposo, rebuscado, com um humor colossal, com exemplos e analogias muito elegantes”.
“Há desconfiança de Freud em relação a sua fantasia e a fantasia dentro de sua própria disciplina”, afirma ainda Kon. “Mas a fantasia, entendendo a linguagem mais modernamente, ela é criadora de realidades. Freud inventou uma disciplina em que a verdade ficcional, ou como ele mesmo fala, a realidade psíquica é real, verdadeira, tão ou mais que a realidade material. Ele diz isso. A gente sabe que esse reino da fantasia é o lugar onde algumas vezes a gente se esconde, mas certamente em alguns momentos é o lugar onde a gente se acha. Ficção não tem nada a ver com mentira ou inverdade. Mas com a experiência, e experiência é ‘inacabamento’. Quando estava nos primeiros anos da minha formação de psicanálise eu dizia que não se tratava de uma leitura, mas de uma releitura. Eu já conhecia tudo aquilo: Freud dava uma forma para aquilo que eu já experimentava. Eu me sentia cabendo inteirinha. Isso é um alento. É o alento de se sentir humano. Saber que as angústias que vivemos, os laços que fazemos, os sonhos que experimentamos, lembramos ou esquecemos fazem parte e configuram a minha subjetividade”.
“Numa aula de psicanálise, quando falamos do Édipo... Bom, cada um fica pensando no seu pai, na sua mãe, na sua namorada, nos seus filhos. É convocado em pensar na sua história em sua singularidade, mas convocado a pensar como humano em sua história em sua singularidade. Esse pertencimento é um alento. Eu não sofro só. Às vezes é dolorido. Às vezes rimos juntos. Às vezes nos identificamos. Dói é esquisito, mas nos fazem pensar que aqueles atos esquisitos que nos fazem sofrer tem algum sentido. Isso abre portas para a gente saber da gente. Isso também é um alento. Autoajuda me parece bem diferente. Porque trás saídas prontas. Freud traz é abertura e nenhuma saída. Nenhuma compreensão, nem esgotamento no sentido da ideia de cura”, conclui Kon.
Ana Cecília Carvalho, contudo, ressalta o lugar insubstituível da clínica. “Infelizmente uma psicanálise não se faz com a leitura dos 24 volumes da edição das obras completas de Sigmund Freud. Quando nos reconhecemos ali (por exemplo, nas já citadas características presentes em Luto e melancolia), sentimos um certo conforto, mas isso não é suficiente para mudarmos. O efeito terapêutico de uma análise depende do estabelecimento e da manutenção de certas condições, e elas vão além da busca por esse alento. Entre essas condições encontra-se o acatamento, por parte do analisando, da regra fundamental do trabalho analítico, que é ele tentar dizer tudo que lhe vem à cabeça. O analista, treinado para reconhecer as expressões do Inconsciente produzidas na chamada ‘associação livre’ do analisando, interpreta esse material tendo como pano de fundo as repetições da história infantil do paciente que se atualizam no aqui e agora da sessão analítica”.
Noemi Moritz Kon lembra que o psicanalista mantinha trocas com os escritores Romain Rolland (1866 – 1944), Stefan Zweig (1881 – 1942) e Arthur Schnitzler (1862 – 1931), este último trabalhado por ela em Freud e seu duplo — Reflexões entre psicanálise e arte. “Freud colocava os literatos como o seu duplo, em particular Schnitzler. O duplo na psicanálise é aquilo que causa simultaneamente terror e mais do que amor, uma sideração. Eu me perco nesse outro. Schnitzler foi um contemporâneo, dramaturgo, médico como ele, que se tornou um homem importante da sociedade vienense. Era mulherengo, popular e Freud chegou a declarar que teria medo de encontra-lo (é dele Breve romance de sonho, livro que serve de mote a De olhos bem fechados, de Kubrick, assim como Contos de amor e mortee a peça Senhorita Else, considerada o primeiro monólogo interior)”.
Cervantes, Shakespeare, Goethe, Schiller são alguns dos escritores mais presentes na escrita freudiana, ela mesma fundada sobre o Édipo rei, de Sófocles. São textos explicitamente voltados à literatura: Delírios e sonhos na Gradiva de Jensen(1907), Alguns tipos de caráter encontrados no trabalho psicanalítico(1916), Dostoiévski e o parricídio(1928) e O estranho(1919).
“Freud utilizava os textos literários com muita liberdade, como se fossem ilustrações, evidências, metáforas de suas teorias e descobertas. Buscava nos mitos, romances, peças teatrais invariantes do comportamento humano. Trabalhava com esse material da mesma maneira que com seus pacientes — buscava descobrir os fundamentos da psique, suas motivações e conflitos. As produções literárias eram utilizadas por ele como material manifesto de outro conteúdo — o latente — o qual urgia descobrir e comunicar ao paciente/leitor. Nesse movimento não fazia apreciações de crítica literária, nem buscava o valor estético-artístico do texto. Admirava os artistas/autores quando eram capazes de perceber e descrever aspectos do psiquismo profundo dos seres humanos e os encarnavam em seus personagens. Quanto à filiação literária profunda na história de vida de Freud, refiro os leitores à obra de Sérgio Paulo Rouanet, Os dez amigos de Freud”, explica Purificacion Barcia Gomes.
(Sobre a obra citada, ao ser solicitado, em 1906, pelo editor vienense Hugo Heller para que fizesse uma lista com dez livros, Freud indicou títulos com os quais mantinha uma relação de amizade — não obras clássicas ou seus prediletos. São seus “amigos” nessa lista: Multatuli, Thomas Macauley e Rudyard Kipling, Émile Zola e Anatole France, Gottfried Keller e Conrad Ferdinand Meyer, Theodor Gomperz, Dmitri Merejkovski e Mark Twain).
Em conclusão, para a construção de um projeto científico empurrado pela escrita, não deixa de ser curiosa a observação da psicanalista Elisabeth Roudinesco em introdução ao título Por amor a Freud — Memórias de minha análise com Sigmund Freud(Zahar, 2012), com textos da poeta Hilda Doolittle (1886 – 1961) a respeito das sessões com o médico vienense. Diz Roudinesco: “É somente para mascarar o que se passou nela que Hilda Doolittle refaz sua aventura psicanalítica, da qual, sem dúvida, jamais saberemos a palavra final”. Segundo Roudinesco, os textos de Doolittle não trazem “informações precisas sobre a maneira como Freud conduzia seus tratamentos”. Ora, jamais poderiam.
“Acreditamos que nossas memórias ou relatos são objetivos, correspondem ponto por ponto à realidade factual. No entanto, nossas memórias são sempre decorrentes de uma seleção de percepções, emoção e vivências que ocorreram em determinado momento de nossas vidas, e que vão sendo estruturadas e reestruturadas constantemente, como se em nossas mentes residisse um escritor que revisasse e reescrevesse seus textos tantas e tantas vezes que a versão final acaba por guardar pouca semelhança com o inicial. Em todas as ocasiões em que relatamos uma experiência passada, em verdade, criamos um misto de descrição/ficção, a qual será modulada de acordo com os estados emocionais que viermos a experimentar”, explica Purificacion.
“A maneira como vemos a nós mesmos e ao mundo circundante é uma espécie de relato em metamorfose constante, que tem por objetivo adaptar-nos às necessidades e vicissitudes de cada momento. É um tipo de ferramenta relacional: se estou em presença de alguém que me ama, me admira, tendo a lembrar de minhas histórias pessoais como algo interessante, vivo; se, por outro lado, sinto-me humilhado e desprezado por alguém, tenderei a lembrar-me dos mesmos episódios sob uma ótica mais sombria. É essa maleabilidade da memória narrativa que permite ao analista deduzir, do que está sendo relatado pelo paciente, as emoções, conflitos e desejos subjacentes. A isso chamamos transferência”, conclui.
Todas as narrativas são perspectivas e, neste sentido, ficcionais. Como vimos, até mesmo Freud, a quem podemos deixar passar tudo que aqui está para além da literatura, com chaves, ou sem elas, seja como gozo (e nem sempre prazer), seja como construção de novos devires e rupturas... Uma ambiguidade tipicamente freudiana, aliás.
Nesse texto, optamos por citações retiradas da edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, da Imago, com primeira edição de 1972, em 24 volumes. No Brasil, uma nova tradução das obras completas, desta vez direta do alemão e em 20 volumes, vem sendo publicada pelo Companhia das Letras, sob coordenação e tradução de Paulo César de Souza. A nova versão está em seu sexto tomo e foi publicada fora da ordem cronológica dos escritos.