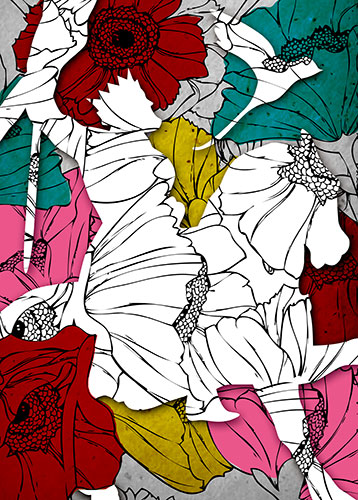
Caminhando pelas ruas de Buenos Aires com os olhos virados para o chão, o jovem, “hétero, branco, abastado, tudo confabulando a seu favor”, Sebástian tenta projetar suas lembranças em uma ficção que lhe escapa constantemente pelas mãos e pelas janelas que ele insiste em preencher de significados. Ele foi a Buenos Aires para começar, mediar e terminar seu primeiro romance. No entanto, o vazio lhe sopra o rosto a cada esquina que cruza. “Por que esse impulso de roubar para o texto o que é da vida, de converter em ficção o que a ficção não comporta, por que quer brindar seu personagem ou o personagem de seu personagem com essa manifestação patente do voluptuoso acaso quando poderia guardar para si, e só para si, essa volúpia (?)”, questiona Sebástian, seu personagem, o personagem de seu personagem e, sobretudo, o autor de todos eles, Julián Fuks, no livro Procura do romance(editora Record).
Após o bem recebido livro de contos Histórias de literatura e cegueira, Fuks decidiu escrever seu primeiro romance sobre as dúvidas de um jovem escritor brasileiro a se indagar quanto aos caminhos que deveriam ter seu primeiro romance. Com isso, o (jovem) escritor brasileiro, filho de pais argentinos tal qual Sebástian, exercita não apenas uma metalinguagem, como termina por provocar não intencionalmente uma questão que ronda quase silenciosamente decisões de editoras e escritores que atuam no mercado literário brasileiro. Seriam os jovens escritores de hoje tomados pela inquietude de escrever obrigatoriamente um romance? Estaria esse mercado asfixiado pela imposição do romance como único gênero literário legítimo?
Se diz “quase” silenciosamente porque em um recente artigo publicado no jornal literário Rascunho, sob o título de Mercado complexado, o crítico e também escritor Vinícius Jatobá decidiu colocar o dedo na ferida: “Existe um descompasso entre os interesses das editoras e aquilo que vocacionalmente o Brasil produz de melhor enquanto tradição em termos de literatura”, escreveu ele, afirmando com isso que o país menospreza sua tradição em contos e crônicas (e hoje escanteia por completo a poesia) em detrimento de uma necessidade premente de se publicar romances porque assim o mercado impõe. E porque assim, hipoteticamente — não há pesquisas quantitativas ou qualitativas sobre mercado literário no Brasil, — o público deseja.
Em entrevista ao Pernambuco, Jatobá sustenta seu argumento: “Sinto que existe, sim, uma pressão das editoras pelo romance e uma espécie de desconforto com o conto porque é difícil vendê-lo. E acho que tudo isso começa com aquela ideia do Mário de Andrade”, diz, referindo-se à célebre frase do poeta e romancista que certa vez afirmou, sem constrangimentos, que “conto é tudo o que o autor chamar de conto”. Jatobá contesta: “A verdade é que conto tem estrutura dramática e concentração poética próprias e não é qualquer coisa que se pode chamar conto”.
O escritor Fernando Monteiro, autor de romances premiados e bem recebidos pela crítica (Aspades - Ets Etce A cabeça no fundo do entulhosão alguns deles) fez uma observação semelhante à de Jatobá durante o 10º Festival Recifense de Literatura, quando criticou em cena aberta romancistas de várias gerações. Convidado à provocação neste texto, ele cria um paralelo para a situação: “É aquela mesma pressão que um cineasta de curta-metragem sente quando alguém lhe diz que está na hora de fazer um longa. Quando as duas coisas são completamente distintas. O curta tem uma linguagem sua, assim como um conto. Mas é aquela coisa, enquanto você faz curtas ainda está se preparando para um dia fazer cinema ‘meeesmo’.”
Sem discutir os desdobramentos comerciais do tópico, editores brasileiros garantem que essa estreita relação com o romance é tudo menos uma imposição de cima pra baixo. “De forma geral o romance é o gênero que mais atrai os leitores — e isso é um fenômeno secular e mundial. Para muita gente, a forma da literatura é a forma do romance, ou seja, ele seria o meio ideal para o contato com a literatura. Isso não é um fenômeno brasileiro, é algo mais ou menos difuso na consciência do leitor ocidental. Claro que outros gêneros, como o conto, poesia, ensaio, têm demanda e apreço, o que conta é a qualidade da realização. Mas de fato o romance parece contar com maior estima entre muitos leitores”, opina Leandro Sarmatz, um dos editores da Companhia das Letras.
“O público não especializado busca mais o romance. Isso não é só no Brasil, é mundial”, ratifica Marcelo Ferroni, um dos editores da Alfaguara. E se mostra otimista em relação ao atual desdobramento do gênero no País: “Acho que estamos prestes a ter um momento muito bom no romance nacional.”
Deduzimos assim que o debate poderia facilmente se arrefecer com a justificativa de que o romance é secularmente o gênero literário de mais prestígio e que, portanto, seria natural que ele fosse sempre prioridade entre as editoras. Mas o argumento ganha outros contornos a partir do momento em que essa primazia estilística se transforma em uma discreta imposição comercial a escritores que, vocacionalmente, estariam inclinados a escrever outros gêneros literários.
A se tomar um depoimento da editora Luciana Villas-Boas para a Revista da Cultura, em 2010, quando ainda era editora do grupo Record: “Considero um equívoco começar a carreira com livros de contos, ou poesia, ou crônica. Esses gêneros não têm público e os livreiros começam a associar o nome do autor a fracasso de vendas. Melhor publicar esses gêneros em outros veículos e investir tempo, pesquisa e estudo na construção de um romance.”
Não é preciso dizer que tanto Monteiro quanto Jatobá questionam esse raciocínio pelas questões artísticas que nele se encontram. “Chega até ser grosseiro raciocinar assim, mas imagino que comprar um romance hoje é deduzir que aquilo tem mais páginas e, portanto, mais pensamentos, mais personagens, é a lógica do pague um e leve dois”, provoca Monteiro, que vai mais além e afirma entender o romance hoje como uma “camisa de força” do comércio. “De uns anos pra cá o romance foi artificialmente açulado no Brasil”, acredita.
Açulado ou não, o fato é que é natural que os escritores se sintam impelidos (ou ao menos tentados) a começar a escrever pelo romance, como aconselharia Luciana Villas-Boas. Até porque em uma das pontas dessa cadeia existem as premiações, muitas delas generosas em seus troféus, porém quase todas negligentes no que diz respeito aos gêneros literários que não sejam romances. O Jabuti não tem categoria específica para o conto e a crônica e coloca ambos os gêneros debaixo do mesmo guarda-chuva. O mesmo acontece agora com o Portugal Telecom, que somente este ano se dividiu em três categorias (antes todos os gêneros concorriam entre si): romance, poesia e, claro, a dobradinha conto/crônica.
“Sim, é natural que o prêmio valorize a obra premiada e, sendo ela um romance, isso é bom para o mercado”, afirma Adriana Ferrari, coordenadora do Prêmio São Paulo de Literatura, cujo único gênero contemplado é justamente ele, o romance. “Mas não sou da tribo de quem não lê romance não é um leitor. Seria o mesmo que dizer que quem não gosta de música clássica não gosta de música”, garante.
Para Fernando Monteiro, assim como para Jatobá, a compulsoriedade do romance ditada por todos esses mecanismos do mercado não é diagnóstico, e sim sintoma de um cenário maior, que diz respeito a uma quebra da íntima e intransferível relação do leitor com a literatura, uma relação que vai ficando cada vez mais longe no retrovisor, distância imposta pelas normas de mercado e por uma certa acomodação de todos os envolvidos nessa cadeia produtiva, dos leitores às editoras, passando pelos próprios escritores.

O PARADOXO DO ROMANCE
Antes de falar desse cenário, precisamos voltar a Sebástian. Ou ao que lhe deu nascimento. Aquilo que afligia Julián Fuks ao escrever Procura do romancenão tinha nada que ver com debates comerciais, posto que o livro surgiu de uma contenda bem mais existencial: a da morte do próprio formato romance. Escrito paralelamente ao livro acima citado, a dissertação de mestrado de Fuks, chamada de Juan José Saer e o paradoxo necessáriobusca entender como que, diante de todas as questões que se desdobravam diante de um gênero que parecia haver esgotado todos os seus limites, com escritores como James Joyce e, depois, Samuel Beckett, ainda sobrevivia altivo e serelepe sendo “o” meio literário por excelência.
Na introdução, ele explica: “Seja porque o sujeito protagonista da modernidade (e, portanto, do romance) teve sua totalidade rompida e tornou-se mera aparência, ‘objeto de si mesmo’, ou porque sua existência se diluiu ‘na insubstancialidade do mundo em ruínas criado por ele próprio’ — ambas complexas ideias propostas por Lukács —; seja porque esse sujeito está fustigado por uma crise da experiência exemplar e da sabedoria que se transmitia de geração para geração, e tem como uma de suas características a incapacidade de reconhecer os episódios na passagem do tempo e de ‘intercambiar experiências’ — como quis Benjamin e ecoou mais recentemente Giorgio Agamben —; o caso é que pareceu ter-se tornado patente uma verdadeira impossibilidade de narrar, baseada em uma descrença em relação ao sentido e à função de tal ato.”
Acometido por essas questões, que em muito se esmiuçam nos dilemas do protagonista de seu romance, Fuks chega a algumas conclusões. Em nossa conversa, ele reafirma a existência do paradoxo ao qual se propôs estudar: “Se por um lado o romance foi um dos gêneros que mais se deixou acometer por uma crise das artes, da literatura, da representação e do sujeito como um todo, ele foi um dos que mais se deixou transformar por isso. E beirando ele próprio a crise da forma do romance, manteve uma vitalidade mercadológica”.
Essa vitalidade pode ser lida hoje não mais como uma prerrogativa de escritores que atingiram uma maturidade do pensamento, mas também como resultado de uma demanda estipulada do mercado por romances (sic) duela a quien duela. A lembrar mais uma vez que não existem pesquisas que tracem o perfil do leitor brasileiro.
Mas Fuks, que concorre este ano ao Prêmio São Paulo de Literatura na categoria de autor estreante, afirma não ter se intimidado por tal panorama. “Não chego a me preocupar com a questão mercadológica, não escrevi um romance porque pensava que isso me daria mais projeção ou me permitiria vender mais exemplares. Mas realmente essa tensão excessiva da grande atenção que se dá aos romances acaba sendo uma provocação a todos os escritores brasileiros. E isso foi o que me interessou problematizar no Procura do romance, colocando um jovem (Sebastián) que sente uma necessidade um tanto inexplicável de escrever esse romance.”
O PARADOXO DO MERCADO
“Houve uma assimilação da literatura ao mundo pop rock. O escritor hoje tem que ter grandes audiências, tem que ser bonito e, sobretudo, jovem. O que é curiosamente um antimodelo do que sempre existiu na literatura, quando os escritores eram mais valorizados na velhice”, alfineta Fernando Monteiro, que, vale ressaltar, afirma não ter planos de voltar a escrever romances. “Enquanto esse mercado for dessa forma, eu não tenho lugar. Voltei para a causa abandonada da poesia porque todas as causas abandonadas me fascinam.”
Diante da provocação dessa “literatura pop rock”, voltamos então a discutir não apenas uma possível imposição do romance dentro do mercado nacional, mas, anterior a isso, a maneira como a literatura é colocada (ou retirada) agora no cotidiano dos leitores. “As pessoas hoje, quando pegam um livro, têm duas atitudes. Ou elas vestem um fraque, colocam óculos de grau, sentam em uma poltrona pesada e vão ler um romance sério, de um autor sério, num momento sério, ou o cara vai para a praia, coloca um chinelão e vai ler uma coisa vazia, que o distraia. E o mercado é um pouco vítima dessa fantasia da alta literatura”, pontua Jatobá.
Ainda segundo ele, essa bipolaridade da literatura ora totêmica, ora trivial, termina por colocar de lado questões mais importantes como o fato de que estaríamos perdendo aquele orgânico interesse pela narrativa literária (e por outro lado aumentando nosso apego a todos os outros tipos de narrativa), e a discussão da forma enquanto um meio de adequação à nova velocidade de se consumir a narrativa. Afinal de contas, parece ser contrassenso imaginar que, justo no momento em que o tempo e o silêncio se tornam bens escassos, contos e crônicas sejam tão acintosamente preteridos pelo mercado.
Fernando Monteiro questiona: “Por que poesia e conto não vendem? E é curioso pois nessa nova velocidade de vida que temos hoje seriam justamente esses os gêneros mais fáceis de serem vendidos”. Sobre a ausência de poesia, o escritor tem suas teorias: “A poesia exige que você decifre códigos. E ninguém está mais disposto a ir atrás do código.”
Ainda no mesmo tópico da relação tempo/texto, Jatobá vai além: “Se pergunta: ‘como é que o marketing vai vender o conto?’ E eu pergunto: ‘como é que o marketing vai vender literatura?’ E devolver a literatura às pessoas? Porque essa literatura está sendo sequestrada dos leitores pelo preço e por essa impostura.”
Leandro Sarmatz, da Companhia das Letras, pondera: “Há essa impressão, reforçada pelo ibope do romance, que de fato um livro de contos é mais difícil de divulgar que uma narrativa longa. Mas depende do autor, do tratamento editorial dado ao livro, entre outros aspectos.” A lembrar que a Companhia das Letras é uma das poucas, entre as grandes editoras, hoje no Brasil a publicar poesia contemporânea nacional, tendo lançado livros de José Paulo Paes (Poesia completa), Paulo Henriques Britto (Formas do nada), Armando Freitas Filho (Lar), Francisco Alvim (O metro nenhum), Ana Martim Marques (Da arte das armadilhas), Eucanaã Ferraz (Sentimental), entre outros.
Algumas soluções simples já foram dadas por ainda esparsas iniciativas que viabilizam a distribuição maior não apenas dos contos, como dos textos curtos de uma forma geral. Em abril deste ano, a Penguin-Companhia das Letras começou a vender ensaios como Antropofagia, de Caetano Veloso, e 100 aforismos sobre amor e a morte, de Friedrich Nietzsche, por preços que iam de R$ 7,50 a R$ 10,90 no formato de e-books. No fim de 2011, a Editora 34 vendeu, separadamente, textos da Antologia do conto russo. O preço unitário do conto variava de R$ 0,99 a R$ 2,99.
“Quando a gente pensa em literatura, pensa em estruturas um pouco necrosadas, como o livro. Eu sou um entusiasta do livro. Mas acho que você podia vender brochuras com contos individuais a R$ 1. O conto poderia chegar aos leitores por PDF ou por textos para celular”, sugere Jatobá. Soluções como essa, ainda pouco convencionais para o mercado, ajudariam a resolver, em sua opinião, não apenas a questão dos contos ou mesmo crônicas, como seriam um pontapé para se discutir o verdadeiro problema do mercado: “Acho que as editoras teriam agora que sentar, conversar e se perguntar: ‘vamos devolver a literatura para a vida das pessoas?’ E o conto poderia ser o começo desse trabalho.”
Confira a outra matéria de capa, Onde estão a loucura e a inquietação