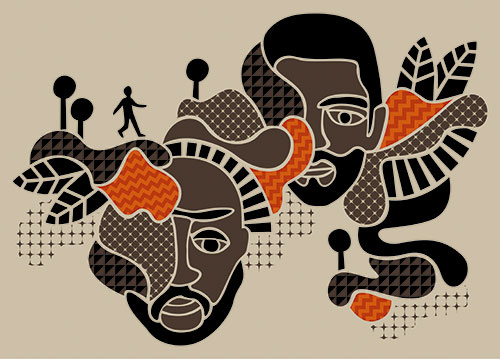
Durante o século 20, são apontadas duas crises da narração. Em textos que questionam dois momentos distintos da literatura, são colocados em xeque não só o problema da linguagem e do conteúdo produzido, mas o próprio sentido e a possibilidade de narrar. Inicialmente, as crises são concentradas na figura do homem que narra e é anterior ao surgimento do romance em sua forma moderna, podendo ser, inclusive, consideradas determinantes para o surgimento do romance. Ancorando a sua reflexão em um estudo daquele que seria o último dos narradores pré-modernos, o escritor russo Nikolai Leskov, Walter Benjamin nos leva até o final da Primeira Guerra Mundial quando o horror dos campos de batalha fez com que os homens voltassem mudos para casa. Impossibilitados de compartilhar suas vivências nas trincheiras, incapazes de entender aquilo que presenciaram, os soldados perceberam que, pela primeira vez, os fatos vividos eram grandes demais para o corpo humano, que o ultrapassavam de muitas maneiras. Do mundo antigo, daquilo que era familiar e que se consideravam seguro, tudo foi destruído pelo surgimento de um horror inédito, que não parecia possível de existir. As vivências da guerra desorientaram os homens e os tornaram incapazes de se mover e de se reconhecerem naquilo que viam ao redor. A Primeira Guerra, para Benjamin, significou o final irreversível de um tempo onde as histórias narradas eram um reflexo daquilo que se vivia, onde o sentido era facilmente alcançado por quem escutava e a identificação era plena porque a experiência era compartilhada. Era a época em que reinava um costume milenar de se contar histórias.
O segundo golpe sofrido pela narração pode ser caracterizado como uma crise da própria linguagem, dos mecanismos de narrar e foi apontado por Theodor Adorno, teórico também alemão e pertencente à mesma geração de Benjamin. Os relatos entram em crise, ele observa, quando as formas tradicionais de narração utilizadas dentro do romance perdem a sua força com a ascensão de novas tecnologias e novos meios nos quais as feições humanas e o mundo podem existir e de maneira mais palpável, dando novas possibilidades ao romance. Assim, com o surgimento e popularização do cinema e da fotografia, surge o paradoxo que estaria no centro de qualquer produção literária a partir de então: ao mesmo tempo em que o romance exige a narração, a narração se tornou desnecessária. É, de certa forma, a crise também do realismo e da própria estrutura da forma moderna por excelência, o romance. Como possível solução, Adorno aponta a revolta empreendida contra a linguagem discursiva, exemplificada na obra do autor irlandês James Joyce. Assim, temos uma escrita que quebra a sintaxe comum e questiona a organização da própria linguagem, em uma narração que transborda e ultrapassa os seus próprios limites.
Mesmo que diferentes em suas origens e momentos históricos, as duas crises resultam no surgimento de uma Literatura que tem em comum o objetivo de restaurar a possibilidade de narrabilidade, através da transmissão daquilo que escapa ao primeiro olhar e que é essencialmente singular (a experiência, no caso de Benjamin, que passa a ser materializada com a vivência banal e burguesa do flâneur; o simples estar no mundo e o próprio mundo, no caso de Adorno, materializado no fluxo de consciência, na subversão discursiva da modernidade). É um projeto que busca sintetizar o caos do que se vive e pensa, que busca restaurar e recuperar, ainda que através de uma linguagem que se põe em questão constantemente.
A narração em João Gilberto Noll, no entanto, parece seguir em direção oposta. As histórias não buscam unir as peças do quebra-cabeça das vivências e emoções humanas, não procuram redenção através da ordenação do caos ou de sua representação discursiva. Os contos, novelas e romances de Noll partem do pressuposto que não há um mosaico a ser montado e apontam em direção à dissolução, ao abraço e à aceitação passiva do não entendimento. São histórias narradas por personagens anônimos que se deslocam em um universo também desprovido de marcas e definições. O que sobra é uma eterna caminhada sem destino em cenários destruídos, onde também os objetos vão aos poucos perdendo suas características. Os substantivos parecem se esquivar e perder seu sentido à medida que se percebe que a própria vida dos personagens retratados também já perdeu o seu sentido há muito tempo.
Nascido em Porto Alegre, João Gilberto Noll começou o curso de Letras na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas abandonou a formação na metade e foi ao Rio de Janeiro trabalhar como jornalista. Noll começa a sua carreira de ficcionista em meio à violência e censura da ditadura militar, lançando seu primeiro livro de contos, O cego e a dançarina, em 1980. Aclamado pela crítica e contemplado com o título de revelação do ano pela Associação Paulista de Críticos de Arte e o Prêmio Jabuti, Noll inicia então uma carreira de intensa produtividade, tendo lançado, em pouco mais de 30 anos, 19 livros, unidos através de um rigoroso projeto estético que constrói a sensação de uma paisagem devastada, de uma destruição também interior que não busca tradução. A atmosfera de destruição está presente em todo o universo do autor: as relações humanas, os encontros casuais com seres marginalizados, o caos social, a violência que aparece tanto no meio externo e quanto no interno. O caos existe e persiste, a escrita, nesse caso, não tem o poder de reorganizar a desordem, reenquadrá-la, e restituir a inteligibilidade.
Se a narração em primeira pessoa usualmente significa uma busca do personagem principal por autoconhecimento, por fazer a sua história finalmente fazer sentido, em Noll essa escolha narrativa é subvertida, através de uma narração em primeira pessoa anônima. Paradoxalmente, o narrador, ao mesmo tempo em que é o construtor do discurso e está no centro da ação, está distante daquilo que conta, alheio à sua própria vida. Causada às vezes por uma recusa em ser nomeado ou por medo de se apresentar em um mundo hostil, em outras por pura impossibilidade de alcançar a própria identidade, essa ausência do nome próprio acaba se tornando um tema recorrente. Lugar de articulação entre pessoa e discurso, o nome próprio pode ser visto como o ponto fixo num mundo que se move. Se tudo o mais está em crise, à deriva, a certidão de nascimento significa uma certeza e garante a identidade do indivíduo biológico em todos os campos possíveis (jurídico, familiar, social). Desde o seu nascimento, no momento em que é batizada, a criança humana já é colocada como referente da história contada por aqueles que a cercam e em relação à qual ela terá mais tarde que se deslocar e posteriormente reescrever.
No romance de estreia de Noll, A fúria do corpo, publicado em 1981, temos um narrador que se recusa explicitamente a fornecer um nome próprio. Acuado pela violência da ditadura militar, o personagem percebe que preservar a sua identidade em segredo é a única possibilidade de proteção, o único refúgio com o qual pode contar em um mundo hostil. Nesse caso, o registro da certidão de nascimento foi apagado conscientemente junto com o passado, perdendo todos os seus significados: “Mas se quiser o meu nome, busque na lembrança o que mais de instável lhe ocorrer. O meu nome de hoje poderá não me reconhecer amanhã”. Se esse apagamento em A fúria do corpoaparece como estratégia de sobrevivência, em Solidão continental, romance mais recente do autor, a busca pela lembrança do nome próprio e do endereço se apresenta como única possibilidade possível de vida, de redenção, de liberdade e de retorno à vida cotidiana. Acordando desorientado em um hospital público de Porto Alegre, o narrador não faz a mais vaga ideia de como chegou ali, de como aquele estado atual se conecta com sua última lembrança. Tudo o que sabe é que precisa responder às perguntas do médico se quiser recuperar um pouco de si mesmo. Dessa maneira, os dados pessoais, o nome e o endereço, se tornam símbolos de uma origem perdida, se transformam em um cais inalcançável que se afasta cada vez mais e parece pertencer a um passado distante, guardado em uma memória que já não é mais acessível. Ele percebe que, de alguma forma, se tornou incapaz de uma assinatura, mas que é justamente isso que ele precisa se quiser de volta a sua rotina.
Entretanto, não é somente os personagens que se afastam de suas nomenclaturas, mas o espaço e o próprio tempo narrativo perdem suas denominações, colocando todos os elementos narrativos a arrastar em um deserto inominável. Os lugares que são descritos nos romances são constituídos de ruas que perderam os nomes, prédios prestes a desabar, terrenos baldios, apartamentos cobertos de poeira, hotéis decadentes. Mesmo quando nomeadas, as cidades são lugares desprovidos de seus símbolos espaciais: seus monumentos, suas características arquitetônicas. Por se limitarem a ruelas escuras, praças públicas deterioradas e avenidas impessoais no vai e vem de carros, essas cidades poderiam estar localizadas em qualquer lugar do mundo e em qualquer tempo. Assim, Porto Alegre e Chicago se transformam em uma só coisa, o deslocamento espacial da viagem empreendida entre as duas metrópoles parece não importar. Os cenários por onde os personagens se movem não o ajudam a localizar-se, mas somente o confundem e parecem eles próprios também estarem em movimento.
Se, após a perda do sentido de coletividade que dominava o mundo pré-moderno, a narração se reinventa através da relação com a cidade grande e com o deslumbramento frente às novidades trazidas dos processos de modernização, em Noll a relação com a cidade é completamente esvaziada. Tão explorada por Benjamin como símbolo moderno do homem que busca o resgate da experiência através de suas vivências superficiais frente aos estímulos trazidos pelo progresso, a figura do flâneurdesaparece na narração do escritor gaúcho. Se a flanèriese constituía por um encontro com o desconhecido na própria cidade e o eterno choque frente à novidade, o percorrer do espaço empreendido pelos personagens de Noll não tem nenhuma função libertadora, não ensina, não causa espanto ou surpresa. Esses homens sem nome e sem rosto estão sempre à deriva, sendo levados por uma correnteza de acontecimentos da qual se sentem alheios ou simplesmente incapazes de compreender. E, por não alcançarem nenhuma compreensão, se sentem obrigados a simplesmente seguir em frente. O resultado disso, na narrativa, são os sucessivos cortes e desvios temporais. A narração é constituída por pequenas peças que não se encaixam, que nunca se relacionam entre si.
O passado, quando aparece, não força um encontro do personagem consigo mesmo porque ele é incapaz de encontrar elementos com os quais se identifica. A sensação que temos é que eles foram simplesmente lançados em um cenário pós-catástrofe pessoal onde a memória que explica a situação em que se encontram no presente não pode mais ser alcançada. O tempo não aparece confuso ou embaralhado, é simplesmente apagado ou suspenso, perdendo completamente a sua importância e passando a ser marcado por elementos sempre externos àquele que vive. É uma música no rádio, a repetição de um elemento, as marcas que aparecem no corpo (ou às vezes o corpo que se desintegra, como em Hotel Atlântico, onde o personagem-narrador vai perdendo, literalmente, partes e funções corporais: primeiro há a amputação de uma perna, depois alguns dedos são perdidos na estrada, em seguida perde de súbito a visão).
O que João Gilberto Noll parece afirmar, com a criação de seu universo deteriorado e sua repetição quase obsessiva de personagens, é que, por mais que os contextos dramáticos possam variar, por mais que as histórias sigam e corram seus caminhos, o homem está sempre ali. Esse homem sem nome, desesperado, dissociado do seu passado e incapaz mesmo da experiência superficial da vida na cidade moderna, está sempre ali e, por não ter nome ou rosto, parece habitar dentro de cada um de nós.
Confira a segunda máteria de Capa: “Sim, sou um autor de linguagem”