
Quando os oumis (objetos, utensílios, máquinas ou instalações) começam a desaparecer, os homens (homens e mulheres) suspeitam se tratar de erros de fabricação, coisa que o governo certamente vai remendar. Até o dia em que todos os oumis somem, desentranhando os homens das coisas que os dominavam. E quando todos ficam cegos, menos a mulher do médico, resignada ela conclui que “cada vez irei vendo menos, mesmo que não perca a vista tornar-me-ei mais e mais cega cada dia porque não terei quem me veja”. Até o dia em que todos voltaram a ver e, com fé, a reparar.
Ambas as situações descritas acima se encontram ilustradas em dois textos do escritor português José Saramago. O primeiro no conto “Coisas”, do livro Objecto quase, e o segundo no romance Ensaio sobre a cegueira. Falam de apocalipses distintos, um centrado em uma sociedade subjugada às suas próprias invenções e outro crítico à cegueira a qual voluntariamente nos submetemos. Tratam, no entanto, da mesma questão, algo que passa por toda a obra de Saramago: tanto as coisas quanto as imagens só têm sentido porque somos nós quem damos sentidos a elas. Libertas desses sentidos, coisas e imagens tendem a desaparecer. E o homem vanesce junto.
O fenômeno do sumiço de tudo aquilo para o qual não atribuímos mais percepção é uma parábola que diz muito sobre o que se convencionou chamar de Jornalismo Cultural. Na mídia impressa, onde ele sempre teve seu terreno salvaguardado, seu espaço é cada vez mais enxuto, minguado e, pior, adulterado por um jornalismo pautado por assessorias de imprensa. Livre do sentido de existir, uma vez que é controlado, por uma agenda de consumo, o Jornalismo Cultural da reflexão e do confronto vai entrando em fade out, aquele gradual escurecimento da cena.
Fala-se em crise, em choque de mídias, interesses comerciais. Baques acontecem, em maior ou menor medida, quase todos os anos. Mas a baixa mais recente deixou abalada as estruturas de quem costuma discutir o tema. O fim da revista Bravo!, editada nesses últimos anos pelo conglomerado Abril e lançada originalmente pela editora D’Avila em 1997, sangrou desesperança entre a classe jornalística. Em sua última capa, a imagem de José Saramago, em destaque graças à publicação de um livro póstumo numa revista, seus leitores já sabiam, igualmente falecida.
Armando Antenore, redator-chefe da revista desde 2005, publicou uma carta aberta logo após o anúncio do fechamento da Bravo!. Nela, ele fazia perguntas que, imagina-se, alguns leitores e jornalistas se fizeram coletivamente. Questões práticas – quantidade de leitores, valor da impressão da revista, retorno de anúncios – pontuavam o texto. Mas as perguntas mais relevantes ficaram, claro, em aberto: “A Abril poderia ter insistido um pouco mais? Pecou por não descobrir jeitos inovadores de sustentar a publicação? É difícil responder – em especial, a segunda pergunta. A crise está instalada na imprensa de todo o mundo”, (in)conforma-se Antenore.
A tal viabilidade comercial do Jornalismo Cultural torna-se uma questão cada vez mais latente à medida em que as páginas dos cadernos e suplementos culturais vão, tal como as coisas de Saramago, sumindo do nosso campo de visão. Seria possível hoje vender um conteúdo que te faça refletir, questione suas convicções e te exija alguma leitura prévia? Quando a esfera pública da discussão de ideias se limita a redes sociais que legitimam seu modo de pensar, é viável investir em um negócio cuja natureza é o pensamento crítico?
Naturalmente, essas questões que partem da premissa do Jornalismo Cultural como um dos subprodutos do jornalismo levantam várias outras que dizem respeito não exatamente à relação desse produto com quem o consome, mas fundamentalmente com a relação do Jornalismo Cultural diante dele mesmo. Portanto, antes de se discutir se ele pode ter uma solução comercial, é preciso saber a que esse jornalismo se propõe, sua forma e conteúdo.
Ana Maria Bahiana, jornalista especializada em cinema que vive há duas décadas em Los Angeles, com experiência de quem trabalha com Jornalismo Cultural há mais de 30 anos e passagem pelos mais importantes meios de comunicação do Brasil — incluindo aBravo! e a TV Globo —, dá a epígrafe do problema: “O Jornalismo Cultural vem sofrendo uma erosão profunda, que não pode ser culpada em um único fator. O processo vem de longe, da década de 1990, e só fez se acelerar com a expansão da internet. Em sua base está a erosão da própria profissão de jornalista, achatada por baixos salários, falta de horizonte e de aspirações, um vácuo que foi paulatinamente tomado pelas assessorias de imprensa e o marketing dos produtores de cultura, fornecendo conteúdo pré-fabricado, empacotado e, obviamente, controlado e sanitizado.”
Entra em cena o paradoxo do “ovo ou a galinha?”. A realidade dos jornalistas mal remunerados, pouco especializados e reféns de releasesé causa ou consequência de um mercado que demanda por textos mais objetivos, pautados por assessorias, a serviço do mercado? As duas respostas parecem válidas. Mas há saídas para ambas, como bem pontua um texto do jornalista e escritor Michel Laub, em coluna recente na Folha de S. Paulo: “Não estou certo de que o velho humanismo, do qual a melhor imprensa cultural é herdeira, sobreviverá nas próximas décadas. Torço para que sim, assim como torço para que surjam novas formas de remuneração para profissionais e empresas, tanto nos modelos que conhecemos quanto nos do futuro. Enquanto isso não ocorre, resta o otimismo da ação. No caso do jornalista, trata-se da recusa à indulgência com os outros e com si próprio.”
Professor da PUC e colunista do Segundo Caderno, do jornal O Globo, Arthur Dapieve trabalha com Jornalismo Cultural desde a metade dos anos 80, conhece as vicissitudes do ofício e acredita, tal como Laub, que há sim uma certa complacência de alguns jornalistas. Ele lembra que “a luta na redação do velho Jornal do Brasil era a mesma: como fazer o Caderno B se libertar da agenda? O quadro piorou, é verdade, mas já havia essa angústia. É raro um suplemento cultural conseguir se desvencilhar da agenda e pensar um pouco mais profundamente o panorama. Não acho que isso decorra de um interesse das empresas de comunicação. Na verdade, elas têm olhos para políticas, economia e pouco mais... Isso decorre, parece-me, da insegurança das equipes diante da possibilidade de a concorrência dar justamente aquela matéria que se optou por não dar, em favor de uma ‘pensata’. Ao mesmo tempo, há menos profissionais na praça capazes de fazer essa ‘pensata’. Cobrir a agenda é mais fácil. Você não precisa conhecer nada muito a fundo, bancar nada, refletir sobre nada. As assessorias te entregam tudo bem mastigadinho.”
Julio Daio Borges, editor do Digestivo Cultural, site que se autoproclama “a maior referência em cultura da internet brasileira”, identifica obstáculos semelhantes: “Recentemente, a maioria das publicações acabaram se submetendo a uma dinâmica de mercado. Com o enfraquecimento das redações e o fortalecimento das assessorias de imprensa, quase todos os veículos deixaram de ‘pautar’ para ‘serem pautados’. É muito raro uma publicação que consiga ‘burlar’ essa lógica de eventos & lançamentos, como, por exemplo, a Piauífaz. Se antigamente havia aquela famosa separação entre Igreja e Estado (a parte ‘editorial’ e ‘de anúncios’), as assessorias de imprensa foram derrubando esse ‘muro’. Em vez de fazer um anúncio — e supostamente preservar a autonomia da redação —, o cliente passou a contratar uma assessoria, que, diretamente, ‘plantava uma ideia’ na redação. Sendo mais barato, em termos de divulgação. Infelizmente, a maioria dos leitores também segue um tipo de lógica de consumo. Então, saber dos eventos & lançamentos igualmente parece ser uma necessidade básica dos leitores. Acontece que o jornalismo, nesse processo, abandona seu papel de mediar a relação, apenas repassando de um para outro. Assim, a ‘agenda’ tomou o lugar da crítica, do ensaísmo e da discussão de ideias.”
No que diz respeito à crítica, um segmento do Jornalismo Cultural cada vez mais ensombrado pelas resenhas, a regra ardilosa do mercado é a mesma: “A crítica muda de acordo com o momento. Hoje, por exemplo, quer dizer, há uns 20 ou 30 anos, existe um grande esforço de Hollywood para substituir a crítica pela propaganda. Isto é: não convivência, mas aniquilamento mesmo do espaço crítico, substituição do diálogo que a crítica representa pela imposição do sentido publicitário. Ao mesmo tempo, parte dos leitores se assume como consumidor, o que é curioso, porque ele vê na crítica algo consumível. Quer dizer, um produto que deve ser do seu agrado, quando a crítica é justamente um antiproduto.” O depoimento é do veterano crítico de cinema Inácio Araújo, hoje mais ativo no blog de cinema que tem, hospedado no portal Uol.
SERVIÇO A FAVOR DA REFLEXÃO
É importante lembrar, no entanto, que o humanismo a que Laub faz referência em sua coluna na Folhanão está preso a pautas que discutam tudo que foge à agenda do momento. Algumas edições da Bravo!estiveram aí para provar que o Jornalismo Culturalde agenda poderia ser uma contemplação do pensamento contemporâneo desde que não se entregasse ao que Daniel Piza, autor do livro Jornalismo Cultural, um dia chamou de escrita “burocrática e passiva”.
Wagner Carelli, homem à frente da criação da Bravo!, na época em que a editora D’Avila resolveu apostar em um projeto arrojado de revista cultural, explica: “A Bravo! foi agenda informativa de eventos culturais desde o princípio — foi essa característica, na verdade, a razão maior de seu sucesso imediato e surpreendentemente estrondoso. Foi a primeira e única publicação a tratar alta cultura — se me permitem o uso do termo, que tenho em boa consideração ainda que por aí o avaliem mal — como objeto de consumo acessível, e como tal selecionada, interpretada e agendada. Era ela mesma um maravilhoso objeto de consumo, com suas quase 200 páginas em quatro cores, seu tamanho descomunal para uma revista de temática ‘marginal’, seus folders incríveis, suas fotos e ilustrações magníficas. Toda a sua pauta se fazia sobre a agenda cultural e artística do mês, e então partia-se para uma exegese dessa agenda, por assim dizer. Aí residia toda a diferença: Bravo! tratava a cultura como propôs Aristóteles: como o mais divinamente desfrutável entre todos e quaisquer bens, e tratava todos e quaisquer eventos dignos de nota como acepipes únicos, preparados pelos melhores chefs.”
Carelli frisa, no entanto, que a proposição original da revista foi gradualmente traída quando a Abril assumiu a publicação: “Serviço é algo que o bom jornalismo tem de prestar. Como o ‘entendem’ Abril e congêneres é algo completamente alheio ao jornalismo. Eu costumava brincar que se a Bravo!estivesse na Abril, eles a fariam à imagem e semelhança de Claudia, como todas as suas revistas, das de economia às de esporte. Era para ser uma piada. Uma vez na Abril, a primeira mudança feita no staff da revista foi substituir a designer que concebeu sua forma, a melhor diretora de arte do Brasil, pela diretora de arte de Cláudia”.
Autor do livro Revistas de invenção: 100 revistas de cultura do modernismo ao século XXI, o jornalista Sergio Cohn observa que há um problema estrutural nessa lógica de submissão às assessorias. E, mais uma vez, a escassez de jornalistas especializados não está enclausurada em si mesma. “Acredito que a questão é financeira: o Jornalismo Cultural está cada vez mais pautado pelos assessores de imprensa. Assim, as grandes empresas de comunicação não precisam contratar, com custos elevados, grandes nomes para exercer o papel de reflexão, e podem apenas replicar conteúdos já prontos. A perda é imensa.”
Em todos os depoimentos acima, o que parece consensual entre os jornalistas que trabalham na área é que se existe uma crise no Jornalismo Cultural, ela não nasce isolada de uma crise no jornalismo de um modo geral. A mesma lógica da agenda e da escrita que se ajoelha aos releases de imprensa pode ser igualmente aplicada a outras áreas do jornalismo.
O triste fim da Bravo!, do Sabático (caderno literário do Estadão)e o progressivo retalhamento das páginas e orçamento dos cadernos culturais — a se pontuar que o caderno Prosa & Verso, suplemento literário do jornal O Globo acaba de perder uma dupla, ou seja, quatro páginas — são sintomáticos dos apuros que a chamada “grande imprensa” vem sofrendo. A se lembrar de que, apenas nesses últimos três anos, vimos serem sepultados dois grandes e tradicionais jornais impressos do país: o Jornal do Brasile o Jornal da Tarde.
Levando em conta que os suplementos culturais sempre foram vistos como o “caderno 2” ou “caderno B” de seus respectivos jornais e, portanto, representavam sempre o iogurte da feira, é triste constatar que a supressão de suas existências é tudo menos uma surpresa. “É o negócio jornalismo que está em questão. Revistas e cadernos como esses não trazem publicidade. São um luxo. Os jornais estão cortando o luxo. Talvez um dia descubram que o mais importante é o luxo, mas não sei...”, diz Inácio Araújo.
Em depoimento ao Pernambuco, Michel Laub sustenta que “há uma crise geral da ideia de mediação, que não é de agora e não se restringe ao jornalismo (veja o que acontece na política e nas artes, por exemplo). Isso obviamente afeta o jornalismo cultural, uma área com dificuldades de autossustentação desde sempre.”
INTERNET: SOLUÇÃO OU PROBLEMA?
Assim como outros jornalistas, não apenas culturais, Inácio, Ana Maria Bahiana e Julio Daio Borges conseguem melhor fazer circular suas ideias na internet. Mas uma vez questionados se o lugar do Jornalismo Cultural hoje é (somente) na internet, as opiniões são diversas. Daio Borges acredita que “feliz ou infelizmente, tende a ser. Porque as pressões econômicas, para se manter um veículo impresso são muito grandes hoje. Além do fato de as pessoas comprarem cada vez menos impressos – pelas razões que todo mundo conhece —, a publicidade vem sofrendo igualmente o impacto da internet. Ou seja: fora a baixa vendagem de exemplares, os impressos têm cada vez menos anunciantes. A internet se tornou um refúgio. Mas a internet, obviamente, não é perfeita. Ao mesmo tempo em que abriga os críticos ‘militantes’, digamos assim, que abraçam a causa como uma ‘profissão de fé’, a internet é um refúgio para todo o tipo de diletante. Então, o leitor navega entre altos e baixos, podendo encontrar tanto um oásis quanto um deserto”.
Professor da Metodista, onde dá aula sobre mídia e produção cultural, e da PUC de São Paulo, o jornalista José Salvador Faro reúne em seu site vários textos que debatem o Jornalismo Cultural. Em sua opinião, a internet não é, “em absoluto”, o único horizonte para a prática da reflexão da cultura. “Há inúmeras outras experiências de crítica da cultura em plena atividade. O melhor caso me parece ser o que é feito no jornal Valor Econômico. Mas o suplemento do Globoé outra iniciativa que merece destaque. A Ilustríssima, da Folha, pretende ocupar o espaço deixado aberto pelo sumiço do Sabático. O jornalismo nas plataformas digitais confundem o cenário, mas não acredito que substituam as práticas tradicionais do Jornalismo Cultural.”
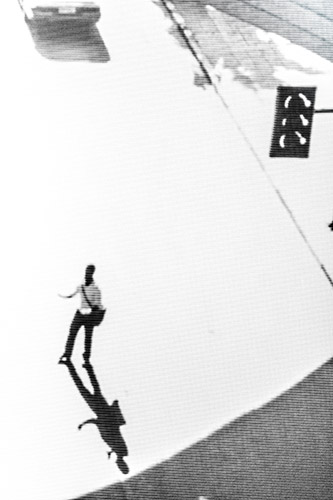
ALÉM DA PLATAFORMA
A discussão do suporte, seja internet, papel, TV ou rádio, diz respeito às perspectivas do Jornalismo Cultural, mas não dá conta do núcleo duro da questão, afinal de contas, “o bom jornalismo se faz em qualquer lugar, sobre qualquer suporte. O bom jornalismo não deixa de ser bom — foi, é e continuará a ser bom. Se desaparecer desta mídia, vai reaparecer naquela. O importante é que quem o faça insista e persevere em fazê-lo bem, seja onde for. Se as empresas de comunicação estão interessadas em fazer bom jornalismo é outra questão”, ressalta Carelli.
O revés se encontra justamente em discutir esse tal “bom jornalismo”, algo que, para muitos, se encontra hoje em estado de exceção. Não existe uma gênese do problema, simplesmente porque ele não é um só. Primeiro vem a questão do Jornalismo Cultural como um campo próprio do jornalismo. Segundo uma pesquisa apresentada em 2008 pelo programa Rumos, do Itaú Cultural, “de um total de 126 disciplinas que tratam de jornalismo cultural e áreas afins, somente 16, ou 12,7%, abordam o tema com exclusividade, o que demonstra que ele não é tão presente nas matrizes curriculares. Essas matrizes privilegiam as disciplinas de áreas tangenciais ao jornalismo cultural propriamente dito, como estética, cultura de massas e cultura brasileira, temas tradicionais nos currículos, com um total de 42,85%. Logo a seguir vêm as disciplinas de conteúdo específico (26,98%) e semiplenas (17,47%). O jornalismo cultural, como disciplina plena, é a quarta colocada.”
“É um sintoma da pouca importância que o Jornalismo Cultural possui no mercado hoje. Interessante perceber, também, que os grandes veículos de Jornalismo Cultural raramente foram criados ou editados por jornalistas profissionais. Na maioria das vezes, foram artistas ou pensadores da cultura que tocaram os projetos de revistas e jornais culturais, seja de forma amadora ou profissional. É o caso desde os grandes suplementos das décadas de 1950 e 1960 até as revistas independentes das décadas subsequentes. Seria importante uma pesquisa e análise da relação entre esses dois fatos — a ausência curricular de Jornalismo Cultural e a dupla função de artistas e pensadores/pesquisadores como editores e jornalistas na área da cultura”, conclui Sergio Cohn.
Dapieve é um pouco mais brando em sua crítica às grades curriculares: “Creio que essa oferta ou não oferta nelas deve ser reflexo da disponibilidade de professores capazes de ministrar a matéria. Acho, na verdade, que acontece o mesmo com jornalismo científico, esportivo, político, econômico... Elas também não são fixas ou ao menos frequentes. Na minha concepção de grade, todas essas ‘subabilitações’ deveriam ser oferecidas todos os semestres, como eletivas. Os alunos experimentariam aquelas pelas quais mais se interessassem.”
Somado a isso, o próprio termo “Jornalismo Cultural” se torna um conceito difuso quando se tentam fincar balizas entre tudo aquilo que pertence ao “cultural”. Há quem se incline mais a defender uma “alta cultura”, como pontua Wagner Carelli, há quem abrace carinhosamente a chamada cultura pop e, claro, há também quem utilize suplementos culturais como um depósito de restos de tudo aquilo que não coube nas demais gavetas de um jornal.
“Cultura é uma área difícil, porque a princípio ela abarca tudo. Se quisermos levar às últimas consequências, teremos uma hipérbole, abraçando todas as manifestações da vida humana como “culturais”. A visão antropológica da cultura traz essa questão. Mas, ao mesmo tempo, como não colocarmos moda, arquitetura, design e outras áreas que não fazem parte das chamadas “belas artes” como parte fundamental do pensamento cultural contemporâneo? Como pensarmos um artista como o Hélio Oiticica, por exemplo, sem entendermos essas áreas do saber? O jornalismo cultural, portanto, mais do que o jornalismo, que está marcado pelos objetos de investigação, talvez precise estar marcado por um tipo de abordagem – a de mapear, apresentar e refletir sobre as ressonâncias culturais dessas áreas do saber. Esse talvez seja o seu campo específico”, sugere Cohn.
Sem mais a influência que exerceu até os anos 70/80 em seu papel de mediador das artes, o Jornalismo Cultural como reflexo e refletor de seu tempo tem um futuro tão nebuloso quanto seu presente. A preocupação sobre a viabilidade comercial desse jornalismo está diretamente ligada às questões acima citadas — sua relevância na Academia, o escopo de seu interesse, as mídias para onde ele pode se expandir —, mas acima de tudo aos valores que se atribuem hoje à reflexão.
Eesse cenário não é dos mais animadores. Ana Maria Bahiana, em post recente compartilhado no seu Facebook, atesta: “O que mais me assusta na medida em que a década avança não é a multiplicação das fontes de informação: é a progressiva extinção do pensamento crítico.Pensamento crítico se aprende na infância, se consolida na adolescência e amadurece na juventude. Vem de casa, da escola, da necessidade de não aceitar que as coisas são simplesmente porque alguém diz que elas são, a vontade de ver todos os ângulos de uma questão, ser capaz de formar e fundamentar opiniões próprias. Quem perde isso, sinceramente, perde tudo. Vira peão de jogo, massa de manobra e jamais será o sujeito de sua própria vida. Isso me preocupa muito, porque está se formando mais de uma geração que não apenas desconhece o que é pensamento crítico como o repele quando o encontra”.
Ao contrário da literatura, quando como que por um milagre os cegos voltam a enxergar e as pessoas se livram das coisas materiais que as prendem, não é possível hoje prever se a vitória humanista prevalecerá. Com crise que é alheia ou não à sua própria forma, fica ainda mais difícil vaticinar nesse temporal de que forma o Jornalismo Cultural, diligente e quixotesco em sua tarefa de fazer sentido apenas para desfazer todos os sentidos, poderá sobreviver.