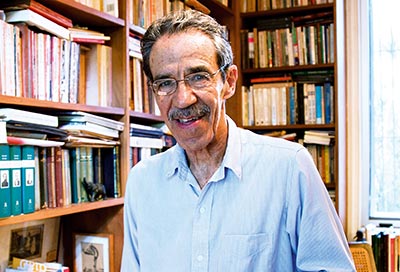
“Escreverei para alguém/ certeiro ou incerto/ meu dever comprido/ jamais cumprido/ quando chegar a hora de sair?”, pergunta Armando Freitas Filho no recém-lançado Dever (Companhia das Letras). Este é um dos poemas em que, aos 50 anos de sua estreia em livro, ele revisita e avalia seu percurso, para também colocar em crise sua produção atual e futura. Nascido no Rio de Janeiro, em 1940, o autor de Raro mar (2006) e Lar (2009), entre outras obras, reunidas em Máquina de escrever (2003), abre seu novo livro — premiado no mês passado pela Fundação Biblioteca Nacional — com poemas sobre o período de infância e adolescência, permeados por um sentido de partida, ausência e mudança sintetizados no dever de crescer.
Na entrevista a seguir, Armando Freitas Filho fala sobre sua transição constante, o novo livro, memória, ruptura e tradição literária, comentando ainda a organização de Poética, reunião recém-lançada da obra de Ana Cristina Cesar, da qual é curador.
Muitos poemas de Dever passeiam por lembranças da infância/adolescência, e outros tantos fazem referência aos seus 70 anos. Mas chama atenção no conjunto o sentido de mudança, passagem do tempo e curso da vida — dever do qual não se pode escapar. Qual a melhor maneira de cumpri-lo?
Não existe a melhor maneira: existe a maneira possível, que varia de pessoa para pessoa na maneira de tratar essa matéria que conjuga brutalidade e delicadeza. Diria que, para mim, é como fazer uma trança eterna, que não se destrançará mais, e vai ficando cada vez mais apertada e comprida, enquanto o cabelo que se usa para fazê-la vai se encurtando.
Em que momento sua poesia se voltou ao memorialismo, ao período de infância e adolescência — parecendo preterir presente e futuro?
Minha poesia, desde o primeiro livro, Palavra, de 1963, sempre se ocupou ou foi ocupada pela memória. A primeira parte desse livro chama-se “Infância”, que entrelaça o “começo” não só do autor, mas de sua poesia. Não concordo que pareço “preterir presente e futuro”; desde o livro inicial, seguido por todos os outros, o presente e o possível futuro aparecem explicitamente.
O que o senhor busca nesse puxar “pela memória que não tem fim”?
O que busco no puxa-puxa da memória é consolidar o meu percurso — o que poderá dar algum sentido à minha vida, à minha vocação ao longo dos anos. Eu não sou o meu passado: sou o que faço com ele, já dizia Sartre. É uma espécie de prestação de contas para mim mesmo e para quem se interessar, que ainda não acabou de ser feita, é bom frisar.
Como se deu a transição do poeta frágil, “mais ânsia do que ensaio./ Mais vômito do que voz”, ao maduro – ainda que trema –, que compõe “(...) para além do fôlego/ da folha, para fora do papel”?
Minha fragilidade e minha força são iguais, obviamente, a de todo mundo. De acordo com o dia em que se vive, com o momento, com a época. A transição é permanente: é como estar numa gangorra ou numa montanha-russa, às vezes no alto, outras tantas, ao rés do chão, ou no meio. Pensando bem, essas localizações variáveis são necessárias e todas elas servem como estímulo, para ir em frente.
Mas sua relação com a poesia é diferente de quando escreveu, por exemplo, Palavra?
Minha relação com a poesia publicada nasce com Palavra; ela é diferente, pois cresceu, se desenvolveu, na mesma medida que quem escreveu o livro citado. Palavra e corpo, palavra e espírito, palavra e experiência vivem no mesmo ambiente, são indissociáveis. A transição, portanto, é simples e trabalhosa ao mesmo tempo: é biológica, enfim.
Sabe-se que o senhor possui uma rotina para a escrita, “(...) mesmo se não há/ convite ou visita instigante da inspiração/ escrita é treino, ginástica, rascunhografia”. Sua criação poética já enfrentou uma fase de cair na rotina?
Creio que não. Rezo para que não.
Em uma entrevista de 2009, o senhor afirmou que “Não tenho mais tempo a perder. Tenho muitas coisas para estudar, o que é diferente de ler”. Como se dá este estudo e quais são suas leituras atualmente?
Leio ensaio e poesia, principalmente. Tenho pouco tempo para ficção, infelizmente. Não vivo, literariamente, sem ler teoria que me pede um outro tipo de atenção daquela quando leio poesia. A grosso modo, a primeira é com o lápis na mão, a segunda, sem o lápis. Não costumo falar sobre minhas leituras atuais porque acabo me esquecendo de uma e de outra, o que sempre me causa constrangimentos.
A regra do rigor formal e engajamento político são características que a crítica diz ter ficado para trás em sua obra, como a poesia práxis. Em que momento encontrou seu “modo de dizer”?
A crítica que afirma isso me leu mal. A poesia práxis, sim, ficou para trás e não só para mim, até mesmo para seu idealizador, o poeta Mario Chamie. Foi um momento necessário, um momento de militância poética, digamos assim. Mas o engajamento político de maneira nenhuma. Vou dar apenas dois exemplos: no meu livro À mão livre, de 1979, há dois poemas que provam o que eu disse: “Corpo de delito”, que usa como matriz o hino nacional para transformá-lo ou transtorná-lo; em “A flor da pele”, objeto da dissertação de mestrado de Mariana Quadros Pinheiro na UFRJ, em 2009, o verbete “Pele” do dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira é subvertido a fim de mostrar o cotidiano da tortura como política do estado ditatorial daquela época e ainda vigente à revelia do estado democrático de hoje. Quanto ao rigor formal, ele subsiste na minha escrita. Afinal, quem aprendeu a escrever com Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto e Ferreira Gullar, para só citar alguns, não pode e não quer abrir mão desse requisito. O meu “modo de dizer” foi sendo encontrado na medida em que comecei a escrever, como quem vai aprendendo a falar. É uma coisa orgânica. A meu ver é a melhor forma de se aperfeiçoar: ir melhorando o desempenho sempre em movimento, como quando a gente faz ginástica, digamos assim.
E como procura trabalhar a relação entre tradição literária e sua ruptura, entre acaso e cálculo, história e elementos da realidade imediata?
Acho que o trabalho da relação da tradição literária com a ruptura, do acaso com o cálculo, da história e elementos da realidade imediata se faz naturalmente desde que o autor mantenha suas janelas abertas pelo vento de sua contemporaneidade.
Em uma entrevista de 1987, Carlos Drummond de Andrade dizia que a poesia de então era ruim porque “os tempos são ruins”, referindo-se a uma “deterioração dos conceitos e do sentimento estético” e à massificação dos meios de comunicação. Como são os tempos de hoje, o vento da contemporaneidade, para a poesia?
A única vez que discordei de Carlos Drummond foi por causa dessa entrevista. Cheguei até a escrever uma carta para ele, que acabei não mandando. Afinal, ele atravessava um momento muito duro da vida dele com a doença de sua filha, Maria Julieta. A minha previsão do tempo para a poesia agora tem esta meteorologia: ar rarefeito, céu nublado, com entradas de sol, com possibilidade de chuvas esparsas, temperatura em elevação. Mas esse clima é o meu nesse instante, pessoal e intransferível.
Neste mês, a Companhia das Letras publica o volume Poética, que reúne a obra completa de Ana Cristina Cesar, da qual o senhor é curador. A partir deste conjunto, como lê as relações entre a poeta e a pessoa, entre a escrita marcada pelo gesto biográfico e a que é uma das grandes representantes da poesia marginal? A preparação do volume o levou a alguma revisão da leitura da poesia de Ana C.?
Cuido da poesia de Ana Cristina Cesar desde que ela morreu. Seus arquivos literários vieram por vontade expressa dela aos pais para minha casa. Organizei e prefaciei, então, os seguintes livros: Inéditos e dispersos, 1985; Escritos da Inglaterra, 1988; Escritos no Rio, 1993; Correspondência incompleta, com Heloisa Buarque de Hollanda, 1999; Ana Cristina — novas seletas, 2oo4. As relações “entre a poeta e a pessoa”, se entendo bem a sua pergunta, estão como sempre, intimamente conjugadas; “a escrita marcada pelo gesto biográfico” é uma das características de sua geração, mas aí cabe uma observação: se ela é, sem dúvida, “uma das grandes representantes da poesia marginal”, essa representação ganha uma força ímpar, mais pelo que ela tem de diferente dos seus companheiros. Em outras palavras: enquanto, de uma maneira geral, a poesia de Charles, Chacal & Cia era feita por uma espécie de poemas-polaroides, de revelação instantânea, a dela, ao contrário, era de revelação exigente que pedia releituras. A preparação de Poética, 30 anos depois de sua morte, só veio acentuar, a meu ver, sua identidade e diferença. Mais: Ana Cristina Cesar é uma poeta cada vez mais viva.
Na adolescência, ao primeiro contato com os poemas de Drummond, eles lhe causaram a sensação de perigo, ao mesmo tempo em que diziam o que o senhor sentia por dentro. Aos 70 anos, imagina-se que o senhor tenha visto, vivido e lido muito — escrito, definitivamente. Essa experiência não fragiliza o estonteamento, a surpresa que tantos autores dizem ser fundamental à escrita?
Não vi, não vivi, não li o bastante, seguramente. O “estonteamento” não se fragiliza: pelo contrário, ele aumenta, assim como a surpresa, e o que escrevi não é nada definitivo, infelizmente. A questão não é essa, portanto. A questão é: como enfrentar, sendo cada vez mais frágil, a fortaleza da vida?
Na mesma entrevista, Drummond — então aos 84 anos de idade e com mais de 40 livros publicados — dizia que parara de escrever por não ter mais vontade, por já ter escrito muito, por não ter mais a obrigação profissional. O que levaria o senhor a não escrever mais? Acredita que um dia não terá mais o que dizer?
Parar de escrever pode ser morrer.
Mas se não for? Dias sem ruído.
O kastelo interior em ruínas acabadas.
A “tresnoitada luz”, de Borges
batendo em cima do “sol aparafusado”
de Van Gogh, no texto de Artaud.
Há algo que a poesia não baste para dizer?
Há tudo o que não foi dito ainda.