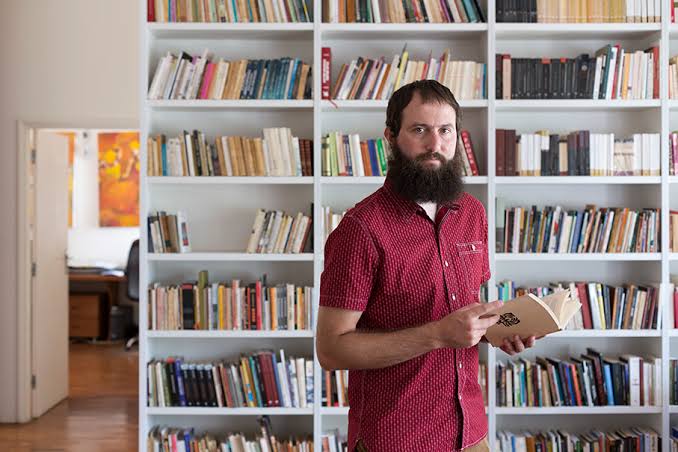
Para o escritor Julián Fuks, “ocupar e resistir” parecem as palavras de ordem fundamentais de nosso tempo. Enquanto “resistir” tem grau de abstração, “ocupar”, seria o gesto mais contundente, o gesto político mais eficaz. Ocupar praças, ruas, escolas e universidades. Daí, a ideia de que a literatura também pudesse ser ocupada e se tornar praça, se tornar rua.
Em seu livro mais recente, A ocupação (Companhia das Letras) (escrito sob a tutoria do escritor moçambicano Mia Couto pelo Projeto Rolex de Mestres e Discípulos), o tom político explícito de A resistência (Companhia das Letras) – livro com o qual foi premiado com o Jabuti e o Saramago – retorna. Mas dessa vez há o redirecionamento do seu olhar em busca de um outro.
Em conversa com o Pernambuco, o autor falou sobre o tom político e autoficcional que acompanha sua obra, sobre publicar livros em tempos politicamente assombrosos e sobre as polissemias que os seus dois últimos romances evocam.
Seus últimos romances – A resistência e A ocupação – são intitulados com palavras solitárias, que sugerem muitos sentidos. As duas narrativas se debruçam em modos distintos de pensar as ideias evocadas pelos substantivos: a resistência de seu irmão em seu convívio familiar ou a resistência da memória de seus pais e suas experiências com o exílio para o Brasil, no primeiro livro; o prédio ocupado em SP que você frequentou, questões como a gravidez de sua companheira (um ser ocupando o outro) e reflexões sobre pertencimento, no segundo. Pode comentar sobre essa polissemia?
Bom, a sua leitura é bem precisa. De fato, era isso que me interessava nessas palavras: a polissemia, a multiplicidade que elas possuem. No caso d’A resistência , me interessava especificamente a ambiguidade, o contraste de sentidos que surge, o fato de resistência poder referir a duas coisas distintas, quase opostas. Resistir como um ato de recusa, de não querer enxergar algo, de não querer encarar; em oposição, como ato de força ou tomada de posição – como uma atitude política em suma. Meu anseio era o de que a literatura pudesse ser a ponte entre uma resistência e outra. Em A ocupação, me interessava, de novo, a multiplicidade que esse termo pode alcançar. De fato, é uma palavra muito aberta, que se deixa saturar dos sentidos mais diversos. Fui vendo que eu ia falando sobre uma ocupação de moradores sem-teto no centro de São Paulo, mas também podia falar do corpo de uma mulher, um corpo que deseja ser ocupado por um bebê em uma gravidez, podia falar do corpo ocupado pela doença, no caso do pai do protagonista – esses são os núcleos fundamentais. E à medida que fui escrevendo, que essa palavra se multiplicava constantemente, que eu me via tentado a escrever inúmeras vezes esse termo, passar de diversas maneiras pelo ato de ocupar. Aquilo se enriquecia de sentido e dava coesão à proposta que eu vinha tentando desempenhar. Essa foi uma linha norteadora importante do livro, sendo o livro composto por três núcleos à primeira vista distintos. Para mim isso era fundamental. Algo mais sobre esses dois termos é que juntos eles compõem a palavra de ordem fundamental de nosso tempo: ocupar e resistir. Isso tem se feito um lema que atravessa continentes, fronteiras, países, e se replica de um lugar para outro. Ocupar e resistir parece, de fato, a palavra de ordem fundamental. Particularmente, enquanto “resistir” tem um grau de abstração, o ato de ocupar tem sido o gesto mais contundente, o gesto político mais eficaz, me parece. Ocupar praças, ruas, escolas e universidades. Daí a ideia de que a literatura também pudesse ser ocupada e ser tornar praça, se tornar rua.
Em suas obras, existe uma voz narrativa em tom pessoal desde Procura do romance, que fica mais evidente em A resistência, e agora, está também presente em A ocupação. Pensa haver um amadurecimento desse narrador no desenvolver dessas narrativas?
Na prática, é a constituição de um sujeito que me representa dentro das obras literárias, de um personagem autoficcional efetivamente, uma espécie de alter ego que surge em Procura do romance e que se prolonga, quase que para a minha surpresa nos livros seguintes. É difícil que eu mesmo diga que há um amadurecimento do narrador. Obviamente, há a continuidade de uma reflexão sobre as possibilidades do narrar, de como podemos, a partir do romance – e através do romance – se aproximar de algo da experiência efetiva, real, se aproximar de algo da experiência efetiva, de algo que tangencie o real, sem que se converta em um realismo convencional, algo que sempre escapei. Inclusive, a autoficção é uma das maneiras que eu julgo mais eficaz de realizar esse anseio em literatura hoje e é a saída que eu tenho encontrado. É claro que a autoficção não é um fenômeno fechado, e nem interessaria se assim fosse, se houvesse regras estabelecidas a serem simplesmente cumpridas. As regras estão em aberto e cada um desses livros são também tentativas de encontrar maneiras de elaboração de uma autoficção que se torne o mais profunda possível, o mais contundente possível, mas que fuja do seu defeito mais comum e tão alardeado, que seria um narcisismo da literatura que não consegue se afastar do próprio autor, de uma narrativa sempre próxima da vida do escrito, e era algo que eu queria em algum sentido superar nesse livro. É isso, não cabe a mim julgar se houve um amadurecimento. Sem dúvida, há um envelhecimento do próprio Sebastián, que está relacionado ao envelhecimento do seu autor. De fato, as circunstâncias da vida dele se transformam bastante, e assim, o conflito, a problemática dos livros se transforma e a própria forma responde a essa alteração.
Diferentemente de seus livros anteriores, seus dois romances mais recentes têm a presença de tom político. A resistência foi lançado em 2015, próximo ao período golpe. Agora, A ocupação é lançado também sob a sombra de um período politicamente assombroso. Como pensa a questão de publicar livros em tempos de turbulências políticas tão acirradas?
Eu sinto, de fato, que esse é um tempo que a gente tem vivido que nos exige uma tomada de posição mais clara, mais aparente. Parece que somos convocados cotidianamente a dizer algo, a se posicionar diante de uma série de absurdos e despautérios, do desastre que tem se convertido a política brasileira e em vários sentidos a política internacional, também. Seria artificioso, creio eu, esquecer disso tudo e fazer um tipo de literatura que se livrasse do presente, que continuasse escrevendo como se escrevia em outro tempo, desligado das questões do contemporâneo. Sinto que, nesse momento, é importante dar uma resposta em diversos níveis e a literatura pode ser um desses. A literatura é discurso privilegiado porque podemos escolher bem as palavras, dar um tratamento cuidadoso às ideias, e isso é algo que em um debate público tem faltado bastante. É claro que é impossível dizer que não é um momento de desalento grande que nos abate, nos afeta e nos condói. Sinto que nesse contexto, quase em oposição, é preciso de um pouco mais de energia, um pouco mais de sanha. Por isso, publicar livros se faz fundamental, escrever e publicar nessas circunstâncias, nessas turbulências, como você menciona. Encarando o desastre que nos assombra e o ataque à cultura e à literatura que tem sido feito por esse governo, a resposta não está em acabar com a literatura e partir para uma batalha política, mas em associar essas duas coisas. A batalha literária e batalha política se aproximam e parece que se tornam indiscerníveis em um momento como este.
Para escrever A ocupação, você participou do Programa Rolex de Mestres e Discípulos e contou com a tutoria do escritor moçambicano Mia Couto. Nesse romance, você se distancia um pouco do autobiográfico e redireciona o olhar “ao outro”, busca por outras vozes. Notei, também, que no decorrer do livro há uma de troca de cartas entre Sebastián – seu alter ego, narrador do romance – e o Mia Couto. Pode comentar sobre essa relação de influência do escritor em A ocupação?
Nessa pergunta, você faz mais uma associação essencial para descrever o que é o livro ou o que o livro almeja ser. Quando me pus a escrever esse romance, vários anos atrás, antes mesmo do processo todo na ocupação, ele tinha como título Os olhos dos outros. A ideia era de me aproximar dos outros. Era pensar uma autoficção que estivesse centrada não só em um ‘eu’, mas estivesse como cerne a questão da alteridade e um desejo de aproximação ao outro e às questões do outro. Nesse meio tempo, antes mesmo de me chamarem para a residência artística na ocupação, recebi um convite para participar do programa cultural da Rolex, sendo uma espécie de “protégé” do Mia Couto, que agiria como mentor nesse processo. E ainda que nossas literaturas sejam muito distintas, ele é um autor que eu sempre respeitei e admirei, em partes por essa capacidade de tocar o âmago do outro, de encontrar a voz do outro, de se aproximar efetivamente de um retrato da alteridade, de um diálogo com alteridade. Sinto que essa é uma das forças enormes da obra dele, essa voz poética que ele não teme em encontrar também em um outro personagem. O fato de ele não ter nenhuma intenção de narrar a si mesmo, de se expor diretamente nos seus romances, tudo isso me fazia pensar que ele seria um interlocutor importante para que eu fizesse essa aproximação. Eu não queria me afastar da minha própria voz, do meu alter ego, desse lugar em que tem se dado a ficção para mim. Mas queria que essa forma de ficção alcançasse um outro espaço. E o Mia foi, sem dúvida, importante nesse processo, me incentivando a não me ater tanto assim ao factual, a buscar uma linguagem que se aproximasse mais do ficcional, a estreitar mais os deslocamentos que sempre existiram, porque a minha ficção é quase toda calcada no real, mas se valendo de deslocamentos, de desvios e distorções, que são o que tornam o livro algo literário, não um um documento sobre o tempo. Acho que isso foi muito importante para mim, esse diálogo com ele, impelindo nessa direção sem me dar, obviamente, qualquer tipo de instrução. Ele tem outro método. E o método dele é o diálogo e o da amizade, também. E isso, para mim, foi talvez o mais enriquecedor desse processo todo.