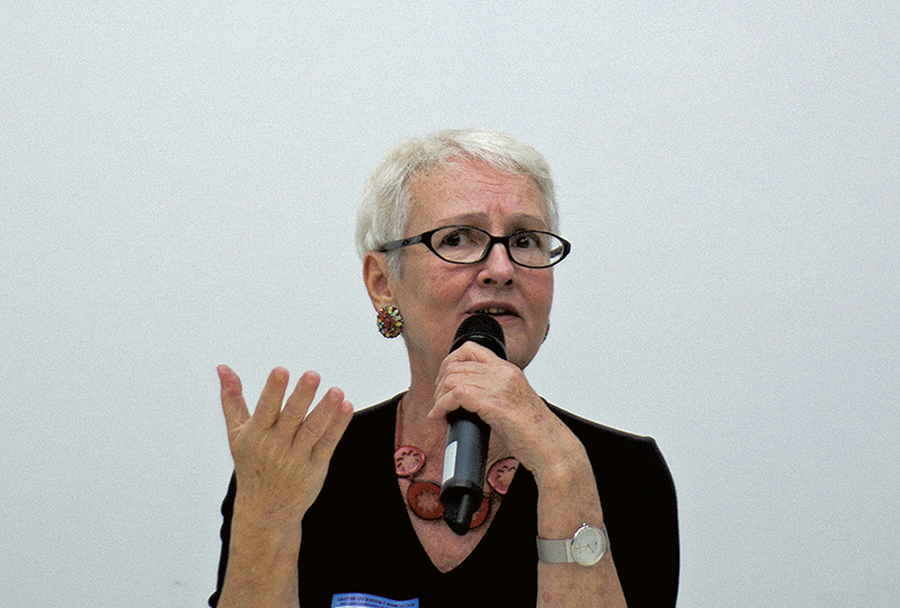
Virgínia Fontes é historiadora e doutora em Filosofia pela Universidade Paris X – Nanterre (1992). Ela atua na Pós-graduação em História da Universidade Federal Fluminense, onde integra o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Marx e Marxismo (NIEP–MARX), na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV–Fiocruz), e é docente da Escola Nacional Florestan Fernandes do MST. Coordenadora do grupo de trabalho História e Marxismo da Associação Nacional de História, é autora dos livros Reflexões im-pertinentes (Mauad), de 2005, e O Brasil e o capital-imperialismo: Teoria e história (EPSJV/Editora da UFRJ), de 2010, além de assinar inúmeros artigos em periódicos nacionais e internacionais.
Ao longo de sua trajetória como pesquisadora e militante, Virgínia vem nos alertando para a urgência de bloquearmos a capacidade de recomposição do capitalismo, revolucionando a existência e dando um basta a essa forma de economia e a esse modo de ser. O conjunto de sua obra busca desvendar, de maneira rigorosa e bastante original, a historicidade e os modos de funcionamento do “capital-imperialismo”, a partir de uma perspectiva voltada para a compreensão e superação da sociedade de classes erigida pelo capital.
Relembrando a experiência da Comuna de Paris, ocorrida há exatos 150 anos, conversamos a seguir sobre as contradições que surgem da socialização em escala global dos processos produtivos e da crescente apropriação privada desses resultados, dinâmica que, ao invés de abrir espaço para novas e maiores insurgências anticapitalistas, tem nos empurrado para uma verdadeira catástrofe social, expropriando direitos de trabalhadores/as em todo o mundo e extraindo mais-valor de maneiras assustadoramente brutais.
Virgínia, em homenagem aos 150 anos da Comuna de Paris, eu gostaria de começar nossa conversa te perguntando sobre o lugar da Comuna na história das lutas e pensamentos marxistas.
Do ponto de vista das lutas, a Comuna de Paris tem um lugar absolutamente central. Foi a primeira experiência de enfrentamento ao capital e ao Estado capitalista realizada pela massa da população liderada pelo proletariado. Se a experiência pudesse ter seguido seu curso, algo completamente novo se abriria na história mundial. Mas a Comuna foi esmagada de maneira absurdamente cruel, com a chacina da população resultando em mais de 30 mil mortos, a maioria a sangue frio. Sobre o ocorrido, Marx fez um de seus mais vibrantes relatos analíticos: A guerra civil na França (1871). Ele, que já era conhecido no ambiente das lutas proletárias europeias e mesmo mundiais, tornou-se conhecido para além das fronteiras de classe exatamente por essa análise, que desmascarava o que ocorrera na França. Vale sempre lembrar que a imprensa comandada pelas classes dominantes todo o tempo satanizou a Comuna, mentiu e ocultou sobre o assassinato em grande escala executado pelas tropas do exército francês, lideradas por Adolphe Thiers e acobertadas pelas tropas alemães que então ocupavam a França. Mesmo agora, em 2021, houve polêmica tentando impedir as comemorações na cidade de Paris pelos 150 anos. A Comuna de Paris enfeixa um leque riquíssimo de experiências históricas e de aprendizados para os trabalhadores do mundo. Por isso, lideranças e estudiosos comunistas analisaram cuidadosamente o que ali se passou. Por um lado, os comunardos denunciaram as sucessivas traições das classes dominantes e de seus epígonos; por outro, experimentaram uma enorme capacidade criativa de tomada do controle da própria existência econômica, social, política, ideológica e cultural, enfrentando o Estado capitalista e instaurando uma nova organização da vida pública, através do controle popular.
Em 1916, quase cinquenta anos após a experiência da Comuna, Lênin redigiu o opúsculo Imperialismo, fase superior do capitalismo, argumentando que a escala da expansão de capitais havia transformado a dinâmica do capitalismo, introduzindo novos traços e nova complexidade à luta de classes. Na sua leitura, quais são as principais contribuições das teses leninianas para uma compreensão histórica da expansão capitalista?
Em plena Primeira Guerra Mundial, Lênin escreveu dois textos primorosos: Imperialismo, fase superior do capitalismo, redigido em 1916, e O Estado e a Revolução, de 1917. Nesse último, ele realizou uma releitura do texto de Marx sobre a Comuna de Paris, extraindo seus principais ensinamentos e procurando avançar no contexto da possibilidade de uma Revolução Russa, que viria a ocorrer alguns meses mais tarde. A análise de Lênin sobre o imperialismo é primorosa em vários aspectos. O primeiro deles é o fato de demonstrar que o marxismo é uma base ontológica e teórica impregnada de historicidade e de contradições, e não uma solução dada a priori para a existência social. Dessa forma, seu texto nos mostra como a expansão do capitalismo exige análises à luz da base teórica, mas não como mera repetição dos textos clássicos. Em segundo lugar, Lênin não estava sozinho em suas investigações. Ele participava de um grupo que lia e discutia o tema, o que foi essencial para mostrar que é coletivamente que se pode produzir textos fundamentais, mesmo se redigidos singularmente. Em terceiro lugar, ele se debruçou sobre o tema para identificar de que forma a própria expansão das relações sociais capitalistas trazia modificações em sua dinâmica. Finalmente, e talvez este seja o eixo da tua questão, Lênin realizou a tarefa de concentrar num pequeno texto uma síntese das principais transformações que o imperialismo trazia: 1) concentração do capital e da produção, gerando monopólios que elevavam a escala da concorrência, mas não a eliminavam; 2) fusão entre capital bancário e industrial, resultando na criação do capital financeiro e de uma oligarquia financeira; 3) exportação de capitais passando a primar sobre exportação de produtos; 4) formação de uniões internacionais monopolistas; 5) conclusão da divisão territorial do globo entre as maiores potências capitalistas, sinalizando assim para novas tensões e guerras de partilha.
No seu livro O Brasil e o capital-imperialismo, você argumenta que as análises de Lênin tiveram ampla validade até o fim da Segunda Guerra Mundial. O que mudou no processo imperialista nessas três décadas que separam a escrita do texto por Lênin do término da guerra?
O que tentei fazer naquele livro foi identificar como nossos autores clássicos enfrentavam o desafio de analisar o seu tempo presente, e como precisaríamos aprender a pensar com eles, ao invés de aplicar fórmulas prontas. O livro do Lênin sobre o imperialismo foi escrito antes da Revolução Russa. Portanto, ele não tinha como dimensionar o impacto daquela formidável experiência histórica. Além disso, Lênin morreu antes da ascensão do nazifascismo e da eclosão da Segunda Guerra. Por isso, pareceu-me fundamental investigar o contexto posterior para uma releitura do processo imperialista. O término da Primeira Guerra revelou-se de enorme crise social no mundo capitalista, em paralelo à continuidade da expansão do imperialismo, sobretudo através das exportações de capital, da monopolização e das disputas sobre a re-partilha do mundo entre as potências dominantes. Então, o que mudou após a Segunda Guerra Mundial? Em primeiro lugar, a existência da bomba atômica, que tornava caduca a tendência às guerras interimperialistas, sob o risco de total destruição. Em segundo lugar, a sobrevivência da União Soviética, que deixava aberta a possibilidade de novas revoluções no mundo capitalista. Por isso, uma das primeiras medidas após a Segunda Guerra foi o isolamento soviético, e, na sequência, o isolamento da China pós-revolucionária. Através de um consorciamento contraditório e tenso entre países capitalistas, sob o predomínio dos Estados Unidos, a tendência à centralização e concentração de capitais se aprofundaria, inclusive através da doação de recursos para os derrotados na grande guerra, como forma de impedir o avanço comunista. O anticomunismo preventivo e altamente corrosivo articularia burguesias e governos de diversos países, numa nova malha de dominação sobre uma enorme parcela do mundo, a qual chamei de “capital-imperialismo”.
Como demonstrou João Márcio Mendes Pereira no livro O Banco Mundial como ator político, intelectual e financeiro: 1944–2008 (Civilização Brasileira), a partir dos anos 1960 o mundo assistiu a uma extrema simplificação das contradições capitalistas, sobretudo com o “assalto à pobreza” desenvolvido pelo Banco Mundial durante a direção de Robert McNamara, de 1968 a 1981. Como esse conjunto de diretrizes influenciou nos rumos do desenvolvimento capitalista desde então, em especial nos países da periferia do sistema, caso do Brasil?
O livro de João Márcio Mendes Pereira é excelente e recomendo vivamente a leitura. Ele mostra como o conjunto de instituições que compõem o Banco Mundial assumiu papel central de formulação de políticas a serem aplicadas nos mais diversos casos nacionais, e não apenas em políticas econômicas. O “assalto à pobreza”, desenvolvido durante o período em que McNamara esteve à frente do Banco Mundial, foi uma maneira de deslocar a questão das causas da produção crescente de desigualdades no mundo para os seus efeitos. Adotado em grande escala em muitos países do mundo, o “assalto à pobreza” gerou uma verdadeira “pobretologia”, favorecendo o aumento de um ativismo empresarial de cunho mercantil e filantrópico, que incidiu também nos países centrais. No caso brasileiro, a expansão desse procedimento ocorreu a partir da década de 1990, dando sucessivos saltos de escala e crescendo vertiginosamente no século XXI. As diretrizes sugeridas pelo Banco Mundial se transformaram em políticas governamentais, através da implementação de programas de transferência condicionada de renda, em geral muito pequenos, que passaram a se dirigir para a mensuração do número de pobres e de seu escalonamento (pobres, miseráveis etc.), negando a realidade e escondendo a verdadeira raiz dos problemas. Além do Banco Mundial e dos governos nacionais, essa prática política foi defendida, subsidiada, reforçada e nutrida pela atividade empresarial, contribuindo assim para o fim de políticas universais; para o fim, portanto, de direitos constitucionais.
O conceito marxiano de “acumulação primitiva” — presente no capítulo 24 do primeiro volume de O capital, e retomado por você em diferentes ocasiões — costuma ser alvo de uma série de incompreensões, sobretudo por parte daqueles que acreditam se tratar de um momento originário, pré-capitalista. Em linhas gerais, qual é o elemento central da análise de Marx sobre o tema das “expropriações”?
Marx é um autor genial, e o que mais profundamente analisou as relações sociais sob o capitalismo, abordando uma enorme quantidade de nuances mesmo quando parece apenas tratar criticamente da economia, como em O capital. No capítulo 24, ele demonstra que não houve nada parecido com uma “acumulação primitiva”, tese defendida pelos economistas liberais para justificar por que alguns enriqueceram — segundo o argumento liberal, estes haviam sido parcimoniosos, tal qual as formigas da fábula que acumulam —, enquanto a grande maioria da população era composta por pobres que haviam dissipado seus recursos — ou seja: as cigarras. Tal acumulação é descartada por Marx logo no princípio do capítulo. Resumidamente, podemos dizer que “a assim chamada acumulação primitiva” é uma profunda crítica à idealização dos processos históricos de constituição do capitalismo, analisando, por sua vez, como ocorreu originariamente essa construção, com a riqueza capitalista pingando sangue e horror por todos os poros. Ao mesmo tempo, Marx assinala que quanto mais o capitalismo avança, mais as “expropriações” se expandem e atingem novos segmentos da população. Trata-se, portanto, de um processo que está na origem e na construção do capitalismo, mas que lhe é constitutivo e que se expande na mesma medida em que o capitalismo se aprofunda no mundo.
Nós estamos vivendo em um mundo que está sendo velozmente arrastado para a catástrofe. Ao mesmo tempo, como você demonstrou inúmeras vezes, o fato de a lógica capitalista nos lançar em crises sucessivas, cada vez mais profundas, não significa que o capitalismo está entrando em processo de recuo. O conjunto de lutas históricas contra o capital, como no caso da Comuna de Paris, ainda é capaz de nos oferecer ferramentas de enfrentamento a essa extrema brutalização social que nós estamos experimentando?
Ao longo das décadas, a expansão do capital-imperialismo correspondeu a uma intensificação brutal de expropriações do povo do campo, gerando enormes massas de trabalhadores que precisam vender sua força de trabalho. Essa dinâmica favoreceu um segundo movimento, que eu chamo de “expropriações secundárias”, que incidiu diretamente sobre o conjunto de direitos associados ao contrato de trabalho — direitos que foram sendo reduzidos, de maneiras mais ou menos brutais, até a expropriação do próprio contrato. Esse processo ocorreu através da demissão massiva de trabalhadores, seguida da generalização de contratações terceirizadas e do aumento do emprego de trabalhadores através de bolsas ou processos similares, que se expandiam ilegalmente e eram na sequência legalizados. Dessa forma, parcelas crescentes de trabalhadores exercem atividades laborais de maneira subordinada a capitalistas, mas sem qualquer relação empregatícia formal. A concentração e centralização da riqueza permitiu ainda o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o controle desses trabalhadores desprovidos de contratos e direitos — o caso da Uber, por exemplo, em que uma empresa que associa empresas de tecnologia e sistemas financeiros (cartões de crédito), e subordina mais de 6 milhões de motoristas no mundo. Cada motorista, entretanto, é controlado singularmente em sua atividade e monitorado em permanência. Estamos assistindo à expansão de modalidades desse tipo em plena pandemia: gigantescas demissões que empurram os trabalhadores para formas de atividade remota, com cada vez menos direitos e menores remunerações.
As condições são especialmente dramáticas no ambiente brasileiro, onde a atuação governamental na pandemia foi no sentido de estimular as contaminações, do que resultaram milhares de mortes que ainda prosseguem. Essa atuação genocida corresponde a um projeto político de cunho protofascista, coligando cargos políticos a formas milicianas. Nesse enorme pântano de crescimento internacional do desemprego, de fragilização dos direitos e de aumento da violência social e da repressão política, um elemento se tornou uma evidência insofismável: o trabalho continua a ser o centro fundamental da produção capitalista. Empresários e governantes se uniram contra seus povos, para exigir que os trabalhadores seguissem se expondo a contaminações, produzindo as riquezas que engordam seus bolsos. Diante desse quadro de brutal expropriação, experiências históricas como a Comuna de Paris continuam a nos lembrar da flor que pode brotar das contradições entre a socialização dos processos produtivos, agora em cadeias globais de valor, e a apropriação privada dos seus resultados. A Comuna e diversas outras experiências históricas continuam a nos lembrar das enormes possibilidades de uma outra civilização em que a vida não esteja subordinada ao capital, de uma outra forma de viver e de ser, coletiva, associada e livre.