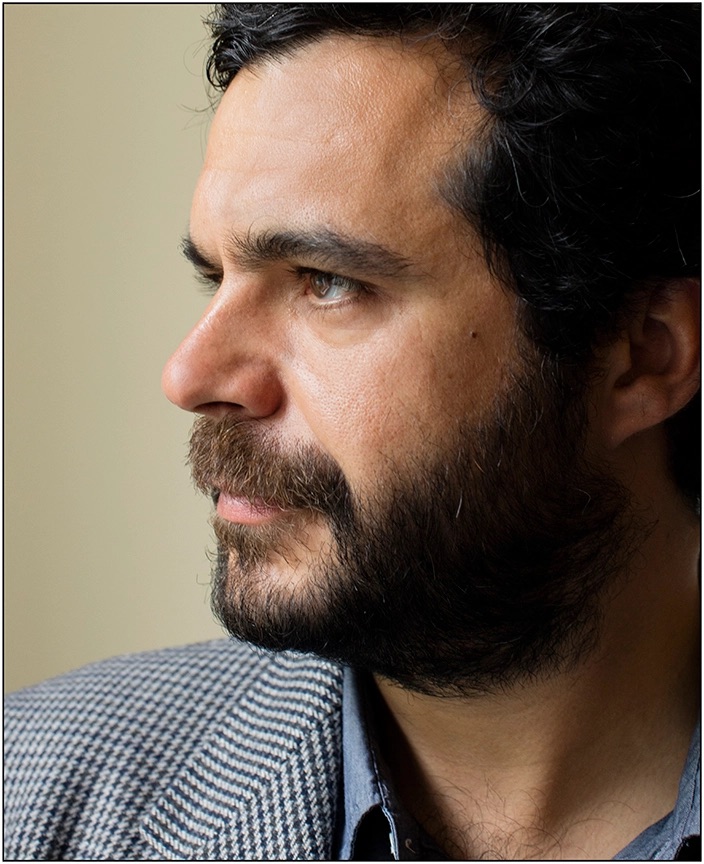
“Parece que os mapas e as bússolas do passado não funcionam no presente, e que as categorias políticas antigas lutam para captar uma realidade que parece tanto trágica em seu conteúdo quanto, muitas vezes, farsesca.” O trecho abre o prefácio da edição brasileira de O grande recuo, do sociólogo italiano Paolo Gerbaudo. Este presente ao qual ele se refere é o da covid-19, das mudanças climáticas e da invasão da Ucrânia, junto com todas as consequências econômicas globais que são daí prováveis.
Gerbaudo mira seu periscópio ao presente político que vem se constituindo globalmente, para, caminhando na “margem entre teoria e estratégia política”, pensar na construção de uma realidade futura menos trágica e farsesca. Com foco sobre a Europa e os EUA, o argumento central de O grande recuo é que o neoliberalismo é hoje um paradigma político que está para morrer pelos próprios anseios dos povos, que agora não só querem como precisam de proteção do Estado. O que ocorre com o neoliberalismo é um desfalecer, daí a ideia de "recuo" do título, que indica o porvir como espaço de contestação, que, para os anseios de Gerbaudo, estaria melhor nas mãos das esquerdas, com um estatismo pós-neoliberal — algo próximo dos modelos de social-democracia que imperavam no mundo depois da Segunda Guerra —, termo que incorporaria as aspirações políticas de hoje, sintetizadas pelos signos “soberania”, “proteção” e “controle”.
Na nossa entrevista, Gerbaudo responde a algumas questões que podem surgir na leitura do seu O grande recuo, relacionadas ao globalismo, à mudança climática e à existência de uma soberania real num mundo dominado por superpotências; e fala ainda sobre os sentidos que podem ser encontrados no novo horizonte político global, incluindo aí o Brasil.
Logo no início do seu livro, você aponta como o “mundo neoliberal” teria morrido, e algo novo estaria se aproximando; algo que, espera-se, esteja mais próximo da "social-democracia", nas suas palavras. Poderia falar um pouco sobre como e o porquê de podermos esperar essa mudança?
Vivemos por muitas décadas em um mundo no qual havia certas expectativas enraizadas sobre o que seria a política e em torno de quais assuntos os conflitos políticos se dariam. Todas as opções políticas eram restringidas pelo princípio da superioridade do “livre mercado” como organizador de toda atividade econômica. Isso implicava a aceitação do livre comércio como algo sempre intrinsecamente bom e da visão de que o Estado deveria interferir o mínimo possível sobre a economia. Porém, estamos agora em um mundo que descrevo como pós-neoliberal ou neo-estatista, porque muitas dessas expectativas foram frustradas.
Agora a política, na direita e esquerda, guinou radicalmente; agora muitas das questões centrais que todas as forças políticas têm de lidar são: que tipos de intervenção estatal são necessárias para lidar com as iminentes avalanches de crises climáticas, econômicas e com as crescentes tensões internacionais?
A partir dessa perspectiva, você defende que o mundo pós-neoliberal em que vivemos exige intervenções estatais mais audaciosas, especialmente na economia. Você também diria que países menos desenvolvidos, fora dos EUA e da UE, deveriam seguir o mesmo fluxo? Como esses países se sairiam neste mundo; ou como conseguiriam florescer, se todas as nações se voltassem para dentro de si mesmas?
O livro é escrito do ponto de vista de um europeu, mais especificamente de um italiano, e o principal material empírico é extraído da Europa e dos EUA; ainda assim, há muitos pontos que são perfeitamente aplicáveis, talvez até aplicáveis com mais urgência para a América Latina e para o Brasil em particular. A nova “onda rosa” de governos de esquerda na América Latina terá de lidar com questões sobre o Estado e sobre que tipo de intervencionismo estatal pode ser alcançado dadas as circunstâncias. Na América Latina, o Estado é consideravelmente menor que nos EUA e na Europa, e os níveis de imposto são bem inferiores; isto faz com que seja bastante difícil prover serviços públicos decentes e lidar com a desigualdade. E mais: países da América Latina historicamente têm tido de lidar com uma dependência econômica e são forçados a produzir bens primários (como mineral e soja), enquanto importam manufatura e tecnologia. Isto leva à depreciação do valor econômico da região e à perpetuação da subordinação econômica aos EUA e à Europa.
O único caminho verossímil para uma prosperidade a longo prazo na região é por medidas de redistribuição de renda e políticas industriais capazes de lentamente reverter estas tendências. Não significa se fechar para dentro de si, numa autarquia, e dar as costas para o mundo; no lugar, significa se relacionar com o mundo a partir de uma posição de relativa autonomia, almejando relações de igualdade com os demais países.
A globalização criou a ilusão de que no mundo haveria apenas um mercado global; mas “globalização” acabou por se tornar um código para um sistema em que as nações mais fracas são subordinadas aos interesses das mais fortes. Agora um sistema econômico e democrático mais equilibrado precisa ser forjado, com cada nação reivindicando algum grau de autonomia na maneira de se relacionar com a economia planetária.
Você aponta que os socialistas deveriam ter entre suas principais pautas aquelas relacionadas às mudanças climáticas. A despeito da vontade política do povo, você crê que há verdadeira disposição das populações para mudança, tais como pagar mais impostos, ou parar de comer carne, ou fazer qualquer coisa além de dizer “eu me importo”?
A mudança climática foi vista por muito tempo como um problema moral, em lugar de material, e portanto uma questão que seria de preocupação apenas para os eleitores privilegiados de classe média, que não teriam que se preocupar com questões materiais mais imediatas. Porém, por causa da seriedade da situação, as mudanças climáticas estão se tornando mais e mais um problema imediato e definitivamente material. Quando cidades sufocam no verão devido a temperaturas extremas, quando elas são cercadas por chamas, ou são privadas de água, seus habitantes percebem que já estamos além do ponto em que “efeitos das mudanças climáticas serão sentidas concretamente”.
A mudança climática já está aqui e é uma das principais prioridades do cidadão comum, como mostram as pesquisas de opinião. Não é mais uma questão de salvar o habitat de animais — como o habitat dos ursos polares, animal que mais tem sido associado com a emergência das mudanças climáticas. Agora é uma questão de proteger o habitat dos humanos, pois — à parte o medo de extinção talvez exagerado que é levantado por alguns grupos ativistas — é evidente que, se medidas políticas drásticas não forem tomadas, sociedades estão fadadas a encarar uma perigosa perturbação do meio ambiente, com consequências nefastas para as necessidades básicas humanas — comida, água e ambiente estável.
Neste contexto, a proteção ambiental precisa ser reenquadrada na discussão política, articulando-se essencialmente com a proteção do ambiente humano; é onde vivemos, e a negligência com o ambiente leva a grandes perigos para o nosso bem-estar, para a nossa própria sobrevivência.
Uma de suas principais ideias fala sobre a modernização e a transformação tecnológica, que deveriam ser domadas, utilizadas a serviço do povo e não vistas, necessariamente, como processos intrinsecamente bons; por outro lado, um dos seus alvos é a automação. Mas você não diria que a automação pode levar a produtos mais baratos, e que parte do lucro pode ser taxado e coletado para criar uma rede social de proteção para os que forem possivelmente prejudicados no processo?
Nos anos recentes, na esquerda, houve bastante esperança de que a tecnologia fosse acelerar as contradições sociais; é a volta de uma ideia que já era nutrida por gente como Marx e Lenin, que viam o desenvolvimento das forças de produção como uma necessidade para a queda do capitalismo. Porém, depois de décadas de “revolução digital”, nós percebemos que muitos problemas sociais não têm nenhuma solução técnica — como argumenta Evgeny Morozov —, porque a única solução real é política e organizacional, e o valor da tecnologia depende da estrutura política na qual está inserida.
Por exemplo, recentemente se mostrou que veículos autônomos não vão resolver os problemas de transporte que temos, porque um dos principais problemas do sistema de transporte é precisamente o quanto dependemos dos carros, que não são eficientes se comparados aos transportes públicos. O mesmo se aplica à automação de forma mais geral. A automação pode certamente levar a ganhos produtivos que podem ser divididos por toda sociedade e melhorar a condição dos trabalhadores.
Mais frequentemente, porém, empreendedores querem usar a automação, e cada vez mais as inteligências artificiais, como mecanismos de chantagem para ameaçar funcionários e forçá-los a aceitar salários baixos. No fim, não é de jeito nenhum garantido que a automação levará a um futuro auspicioso: pode igualmente levar ao extremo oposto, a um futuro extremamente precário. Além disso, como Aaron Benanav tem mostrado em seu trabalho, houve — contra a ideia de que vivemos em constante mudança tecnológica — pouquíssima inovação tecnológica nos anos recentes, e os ganhos em produtividade são bem lentos.
Isto acontece em parte devido ao quanto a economia digital é agora dominada por grandes monopólios corporativos — os célebres GAFAM: Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft —, que têm pouco interesse em renovação sistêmica, já que lucram com o sistema atual. Deveríamos, afinal, seguir para além da visão de que a economia e a tecnologia são “autônomas” e reivindicar o fato de que todas as decisões sobre economia e tecnologia são intrinsecamente políticas, por carregarem consequências significativas para a divisão de poder e riqueza em sociedade.
Uma das coisas que você reconhece no seu livro é o fato de que um país não pode ser de fato independente: terá sempre de se aliar a uma das grandes potências, como China ou EUA. Assim sendo, políticas internas têm alguma importância num nível macro, em relação a mudanças climáticas e covid, por exemplo?
Enquanto afirmo que soberania e autonomia política não foram eliminadas pela globalização, apenas transformadas, é evidente que atualmente no mundo existe um problema de escala, que significa que os países que podem realmente ter autonomia absoluta, ou quase absoluta, são aqueles como China e EUA. Em um mundo de bombas atômicas, de semicondutores, de sistemas complexos de software e comunicação, há um problema fundamental de escala para que se consiga adquirir o poder necessário para uma soberania de verdade. A consequência disso é que muitos países têm de negociar sua soberania — o país se torna “sócio júnior” ou protégé de uma superpotência, que lhe garante proteção militar e lhe dá cobertura sob seu bunker atômico. Para alguns países que não têm escala para ser superpotências globais, a solução pode ser a formação de blocos continentais; mas, como mostrou a trajetória complicada da União Europeia, esse caminho tem dado de cara com a teimosa realidade dos Estados-nação, que contém em si instituições e identidades próprias.
Frente a esta situação, deveríamos nos consolar com o fato de que mesmo que, incapazes de exercitar uma soberania completa, países pequenos ou nações mais fracas ainda podem reivindicar formas importantes de poder, contanto que sua população, classe política e burocracia estatal não sejam facilmente divididos por pressões externas. Isto foi demonstrado diversas vezes pela trajetória de diferentes países em desenvolvimento, como Japão e Coreia do Sul, que conseguiram, mesmo sendo dependentes da força militar dos EUA. Em última instância, a soberania deveria ser sempre entendida como um poder que tem de ser continuamente reivindicado, em lugar de adquirido para toda a eternidade; e isto se aplica tanto à relação de países com outros países e seus desejos legítimos de ter algum grau de autonomia, quanto à relação de cidadãos com a classe política que frequentemente tem despido a população de toda soberania — a qual, sabemos desde os tempos de Rousseau, pertence ao povo.