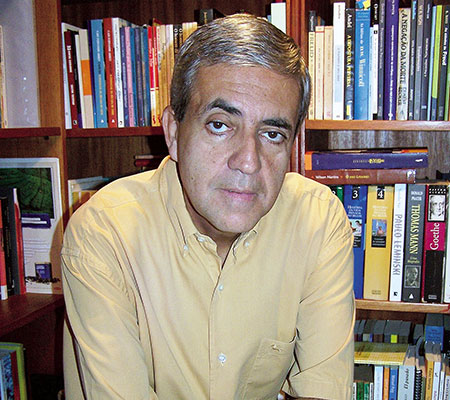
Não se sabe muito bem como definir os textos de José Castello. Crítica literária, dizem uns, apesar das visíveis diferenças em relação às resenhas que se lê na imprensa; crônica literária, arriscam outros. Definições à parte, esse escritor e "leitor profissional" que vive hoje entre Curitiba (PR) e o Rio de Janeiro (RJ), onde nasceu, mais do que nos instigar a ler ou não um livro em especial a partir de sua avaliação crítica, acende no leitor a paixão pela literatura.
É este o espírito dos textos de Sábados inquietos (Leya), uma seleção feita pelo próprio autor a partir da coluna que assina no caderno Prosa, de O Globo, desde 2007, e de As feridas de um leitor (Bertrand), que reúne artigos sobre literatura publicados na imprensa e conferências. Nos dois livros, transitamos pelas leituras de José Castello de autores nacionais e estrangeiros, contemporâneos e clássicos, de prosa, poesia e filosofia em textos empolgantes, por vezes angustiantes e sempre interessantes pelas ideias que Castello compartilha, de maneira tão honesta, com o leitor. São relatos de suas viagens através dos livros.
Nesta entrevista, Castello fala sobre suas leituras "caóticas", crítica literária e contesta a ideia de se considerar a literatura um divertimento, afirmando ser ela possivelmente o "último reduto da singularidade, da pluralidade e da paixão".
Em seu blog, A literatura na poltrona, o senhor inicia vários textos com o relato de certo mal estar, de algo que não corria bem e que o levou a ler. Qual o papel da literatura em sua vida?
A literatura, para mim, é mais que uma profissão, ou um ofício. É um instrumento, muito precioso, de acesso e desvendamento do real. Odeio a ideia, muito em moda, de que a literatura é um “divertimento”, de que “ler é uma grande diversão”. Antes de divertir, a leitura é uma aventura — e com tudo o que uma aventura inclui: riscos, inquietações, perigos. Em um mundo no qual as religiões se tornam cada vez mais dogmáticas e severas; em um mundo no qual a ciência se torna cada vez mais fria e abstrata; no qual a filosofia se fecha cada vez mais em sistemas e em conceitos — nesse mundo, a literatura se torna, talvez, o último reduto da singularidade, da pluralidade e da paixão. Ela devolve o homem à vida. É pelo menos assim que eu a vejo.
Apesar de não definir seu trabalho como crítica literária, não me recordo de uma coluna em que pese “erros e acertos”. O senhor parece tratar todos os livros sobre os quais escreve como algo apaixonante. Considera a tarefa de pesar erros e acertos improdutiva?
Há muito tempo deixei de ver o crítico como um juiz que dá veredictos e aponta sentenças —boas ou más. Eu sei, há muita gente que ainda trabalha assim, mas este é um caminho que não me interessa. Posso odiar um livro, ter belos argumentos para isso, mas meu leitor pode amá-lo. Quem está com a razão? Eu —só porque sou “crítico literário”? Não penso assim. Portanto, não me interessa dizer se um livro é ruim ou bom. Não me cabe julgá-lo. Tudo o que faço, na leitura de qualquer livro, é apontar, descrever, narrar o impacto que sua leitura provocou em mim. Mesmo os livros mais precários podem provocar sobressaltos. Há sempre algo que lateja e desestabiliza, mesmo no mais medíocre dos livros. É preciso saber ler isso. É o que tento fazer. Como já disse outras vezes, considero a leitura uma viagem — como uma viagem à Índia ou à Lua. Ler é viajar através de um livro. Depois, escrevo uma carta a meu leitor narrando minhas experiências (sempre pessoais) de viagem. Não falo em nome de teorias, de tendências, de grupos: falo sempre em meu próprio nome. Se erro, sou eu mesmo quem erro —mas isso cabe ao leitor julgar, e não a mim. Minhas críticas —se é que são críticas —são cartas de viagem que despacho semanalmente para meus leitores.
Seus textos se relacionam não só com literatura, mas também com acontecimentos atuais, cinema, artes plásticas, filosofia, música. A leitura de literatura em especial produz um efeito diferente de outras formas de arte e o alimenta de modo diferente da filosofia?
A literatura não é um saber especializado. Infelizmente, sua entrada na universidade criou essa deformação: a de que a literatura é “matéria de especialistas”, algo que só “doutores” estão autorizados a manipular e decifrar. Mas não! A literatura está no mundo, conecta-se com o mundo, espalha-se pelo mundo. Ler e escrever ficção e poesia é uma experiência viva — é algo que se relaciona diretamente com a vida e nela interfere diretamente também. Precisamos derrubar essas muralhas que separam a literatura do mundo. A literatura é tão potente quanto a ciência, a religião, a filosofia. Só que não é (nem pode ser) ciência, religião ou filosofia. É um saber à parte — e um saber regido pelo primado do singular. Cada leitor é “dono” de seu livro e de sua leitura. Cada escritor é senhor absoluto de sua escrita. A literatura, hoje, é um dos mais importantes redutos da liberdade interior.
O senhor frequentemente associa a obra sobre a qual está escrevendo à vida e a pensamentos de seus autores. Onde está a fronteira entre obra e autor?
É uma fronteira tênue, vacilante. Claro que você pode se apaixonar pela obra de um grande autor sem nada conhecer a respeito de sua vida. Mas acredito que o acesso à vida do escritor é um elemento que só expande e potencializa a leitura. Hoje está na moda dizer que a vida dos escritores não importa; até que ela deve ser esquecida. Não concordo, em absoluto, com essa posição. Creio que ela é um efeito da visão “especializada” da literatura, que se disseminou no Brasil a partir da segunda metade do século 20, com a criação das faculdades de letras. Considero-a uma visão burocrática da literatura. Grandes autores — pense em Pessoa, Clarice, Borges, Noll — “dão a vida” para escrever. Para eles, a fronteira entre autor e obra simplesmente não existe. A obra é uma espécie de expansão do sujeito. Um alargamento de suas fronteiras, de suas possibilidades, de sua visão de mundo. De sua existência.
O senhor coloca a si próprio como personagem, apresenta impressões, relaciona o livro analisado com sua própria vida, recorda de outras leituras e autores — e daí surgem novas ideias. A resposta mais frequente aos seus textos — seja do blog, seja da coluna no Prosaou dos perfis de escritores no Valor Econômico— são leitores emocionados, o que raramente acontece na leitura de uma resenha ou crítica. Como chegou a este modelo?
Não sei responder. O que posso dizer? Que sou assim, que esse é meu estilo (bom ou ruim), que isso sou eu (gostem ou não). Desde menino sou assim. Nas aulas de português, lendo Bandeira ou Vinicius nas antologias escolares, as lágrimas escorriam de meu rosto e eu morria de vergonha. A literatura sempre me afetou pessoalmente. E falo tanto da leitura quanto da escrita. Um livro só me interessa se provoca algum impacto, alguma turbulência em meu interior. Não basta um escritor “escrever bem”: ele tem de lutar para dizer aquilo que ninguém disse, para dizer aquilo que é só seu — por menor que isso seja. A emoção sempre esteve no centro de minha relação com a literatura. Meus poetas prediletos — Manoel de Barros, Orides Fontela, Adélia Prado, Hilda Hilst, Paulo Henriques Britto — são poetas que me tiram do chão. Meus prosadores favoritos — João Gilberto Noll, Raduan Nassar, Cristovão Tezza, Raimundo Carrero, Rubens Figueiredo — são aqueles cuja escrita me desloca e me intriga. Todo leitor sai ferido de uma leitura. Todo escritor sai ferido de uma escrita. Se não sai, não leu ou escreveu para valer. É como eu entendo as coisas.
Sua coluna semanal no Prosa existe desde 2007. Como evitar que se torne uma atividade rotineira? Ao organizar Sábados inquietos, percebeu muitas mudanças no estilo e nas ideias dos seus textos de 2007 para os mais recentes?
Claro que estou sempre mudando, como todo mundo. Mas, francamente, nunca senti o risco de minha coluna se burocratizar. Como já disse, sou muito afetado pelos livros que leio. Ler é uma experiência pessoal, que faço com o corpo inteiro, e não apenas “intelectualmente”. E é a partir desse afetar, desse empurrão, que escrevo minhas colunas. Cada livro me empurra para um lado diferente. Cada livro faz de mim (como de qualquer leitor) uma pessoa diferente. A crítica canadense Claire Varin diz que só é possível ler Clarice Lispector “sendo” Clarice Lispector. Para mim, isso não se aplica apenas à leitura de Clarice, mas de qualquer escritor. Ou você “é” o escritor que lê, ou não está conseguindo ler. E, quando você encara a leitura desse modo, ela nunca se torna uma experiência morna.
A crítica literária deve ser não como uma “admiração longínqua e intelectual (...), mas, ao contrário, como um mergulho em seu interior”? O modelo do crítico “ideal” estaria entre o “acadêmico” e o “impressionista”, que não nega os impactos que a literatura causa no espírito?
Sim, talvez aí, nesse meio. Algo por aí. Mas não gosto muito da ideia de um “crítico ideal”, assim como não acredito no “leitor ideal” e nem mesmo no “escritor ideal”. Cada um lê, escreve, critica com o que tem. Com o que é. A experiência com a escrita é absolutamente singular. É uma experiência secreta: nem você mesmo consegue dizer para onde está indo. É algo que se faz às cegas, movido pela paixão — ou não se faz. Se você não tem paixão, vá jogar tênis, tomar um chope, namorar, que será muito melhor do que se aproximar da literatura. Não estou ironizando, acho isso mesmo.
O senhor parece estar tomado sempre pelos mesmo temas: o próprio ato da escrita, a importância e a função da literatura, a relação entre ficção e realidade. Encontra alguma explicação para isso?
Todos temos nossas obsessões. De Clarice, por exemplo, muitos dizem que esteve sempre a escrever o mesmo livro! Mesmo alguém tão dividido, como Pessoa, com seus heterônimos, conserva, no fundo, uma mesma voz, ainda que seja uma voz em estilhaços. Escrever é entrar em contato com nossa voz interior. E, uma vez feito esse contato, bom ou ruim, uma vez encontrado esse caminho, não é possível mais se afastar dele. A literatura, insisto, é o reino do singular. Ninguém escapa de sua singularidade. Isso que escrevo e que repito tanto, isso em torno de que dou tantas voltas, isso sou eu.
“Os escritores de hoje estão, cada vez mais, empenhados em competir com o mundo real. (...) Lutam para dar conta dele, como se a realidade fosse domesticável”, escreveu o senhor há cerca de um ano atrás em seu blog. Esta ainda é sua impressão? Qual a posição que o escritor deve assumir frente à realidade?
A ciência pretende atravessar a realidade, de ponta a ponta, para dizer o que ela é. A religião pretende iluminá-la do alto, na esperança de vê-la “inteira”, para dizer como ela “deve ser”. A literatura não faz nem uma coisa nem outra. Ela é uma espécie de dança em torno do real. De vez em quando, muito rapidamente, nós o acariciamos aqui e ali. Nós o tocamos. Mas o real sempre nos escapa. Tudo o que nos resta, como humanos, é essa dança. Vivemos, a maior parte do tempo, na cegueira quase absoluta. De vez em quando, surgem uns clarões, uns relâmpagos, algumas brevíssimas visões. Eis o que a literatura é. A vida também.
Suas leituras aparentam ser bem variadas: de clássicos a contemporâneos, brasileiros e estrangeiros, poesia, prosa, filosofia... Como é sua rotina de leitor? O que é um bom leitor?
Não tenho regras para os outros. Cada um é o leitor que consegue. “Bom leitor” não passa de uma idealização, e idealizações não me interessam. Aprendi isso, em grande parte, com a literatura — lendo desde os clássicos, como você observou, aos contemporâneos. Leio caoticamente. Não me considero um “leitor profissional”, embora viva de minha crítica literária, de minhas palestras e oficinas sobre literatura, etc. O que quero dizer é: cada um lê como pode. Comigo também é assim. Em parte, estou preso às demandas do Globo e também de outros jornais com que colaboro. Mas preciso dizer que me dão sempre uma imensa liberdade. Manya Millen, a editora do Prosa, nunca me impôs a escolha de um livro. Sempre me dá a liberdade de recusar, de dizer “não me interessa” — e eu, é claro, faço isso, eu a uso. Leio rabiscando os livros que leio, à caneta e não a lápis, com anotações, setas, resumos, comentários. Meus livros, nesse sentido, são “imprestáveis” — se tornam impossíveis de ler. Não tenho nenhuma relação sagrada com os livros, estou muito longe da figura do colecionador. Tenho uma relação viva com eles: eu os rabisco, uso como blocos de anotações, “entro neles”. Vejo-os como lugares que, durante algum tempo, devo habitar. E chego inteiro, ou pelo menos tento chegar assim.
O senhor preza a capacidade da literatura de desestabilizar o leitor e formula novas perguntas a partir das que a leitura do livro lhe coloca. Qual a pergunta que o persegue atualmente? E que livros desestabilizaram-no recentemente?
A pergunta que sempre me perseguiu, desde menino, e que ainda hoje mais me persegue, é a mais antiga de todas: quem sou eu? Creio que estamos, de alguma forma, nos fazendo essa pergunta o tempo todo. Visto essa camisa ou aquela? Vou primeiro ao mercado ou à livraria? Quero ler um livro ou ir à praia? A vida inteira, todo o tempo, estamos nos perguntando a respeito de nosso desejo. E é justamente com essa pergunta, a respeito do desejo, que a literatura faz conexão. Não que ela a responda: ela a expande. Escritores como Gonçalo M. Tavares, Valter Hugo Mãe, Enrique Vila-Matas, João Gilberto Noll, Manoel de Barros, Sérgio Sant’Anna estão todo o tempo fazendo isso: expandindo o mundo com sua escrita. Vejo a literatura como uma espécie de alimento. O desejo é uma fome interminável, que nunca é saciada. Não é que a literatura a sacie: mas ela a enfrenta. A literatura é o melhor instrumento que conheço para nos ajudar na fome de existir. Ela é, como diz o Noll muito bem, uma “máquina de ser”.
O senhor possui uma grande experiência como jornalista na área de literatura, tendo entrevistado, analisado e perfilado importantes escritores e críticos. O que toda essa experiência significa para o senhor?
É uma experiência muito rica, que me alimentou e alimenta muito como pessoa. Sempre que tenta tocar a alma do outro, você se engrandece um pouco, porque abandona um pouco sua própria alma. Falo em alma não no sentido religioso (pois sou ateu), mas no sentido de “mundo interior”. O contato entre duas almas é sempre uma experiência que engrandece. Para mim, a grande vantagem do jornalismo é que ele me lança direto na realidade. Ele me lança no coração da realidade. Posso gostar, não gostar, me sentir bem, me sentir mal, mas estou ali, bem diante do outro. E chegar ao outro sempre nos transforma um pouco. Nos faz perder um pouco da arrogância. Nos indica nosso próprio e pequeno tamanho. Somos todos muito frágeis, a vida é muito precária. Aprecio muito a solidão — mas sem o outro também não saberia viver.
Buscando entrevistas feitas pelo senhor, notei que sempre as inicia com a pergunta “Por que você escreve?”. Agora, gostaria de devolvê-la.
Não sei responder a essa pergunta. Talvez seja uma pergunta sem resposta. A melhor resposta que conheço para ela foi dada por Fernando Sabino: “Escrevo para saber por que eu escrevo”. Poderia repeti-la. A literatura não é o reino das respostas, mas o reino das perguntas. Talvez aqui exista um elo secreto entre literatura e jornalismo! Ambos vivem, antes de tudo, de perguntar. Em consequência, a pergunta “Por que você escreve?” não passa de uma provocação, já que é certamente uma pergunta sem resposta. Nunca sabemos ao certo por que fazemos as coisas, sabemos apenas que somos empurrados a fazer, que amamos fazer e que então fazemos. Certo: escolhemos fazer, mas exatamente por que escolhemos? Quem sabe responder sinceramente? O mundo contemporâneo é fascinado por fórmulas, por apostilas, por formulários, por gráficos, por explicações. Tudo o que a literatura despreza. Tudo o que ela coloca em grande risco. Tudo o que ela, reino do singular, se encarrega de desmascarar.
O senhor retrata frequentemente a literatura como contraponto necessário ao mundo contemporâneo. Considera-se um otimista em relação à literatura e pessimista frente ao mundo?
Otimista quanto à literatura, sim. Posso dizer, sem nenhum exagero, que a literatura me salvou. Se olho para meu passado, para minha história de vida, não consigo pensar nela sem incluir a literatura. Sem nenhum drama: nem sei o que teria sido de mim sem ela. E, tenho certeza, não sou o único que pode dizer isso. A maior parte dos escritores que conheço, de uma forma ou de outra, foram “salvos” —do vazio, da loucura, da angústia, da ausência de sentido —por seus escritos. Quanto ao mundo, não sou nem pessimista, nem otimista. Acho que o mundo é como é: cheio de problemas, de contradições, de experiências dolorosas, de erros brutais. Mas ele é assim, é o mundo que existe e que nos cabe viver. Ele é humano. Viver é aprender a amar apesar de tudo. Claro, me horrorizo com os fanatismos, os radicalismos, a violência, a brutalidade. O cinismo me provoca náuseas. A ganância. A arrogância. Há muitas coisas no mundo que não aprecio nem um pouco. Existem algumas figuras —pense no pastor Feliciano, esse homem completamente fora do lugar —que realmente me levam a pensar, às vezes, que o mundo não tem solução. Mas a verdade é que solução não existe: o mundo será sempre feito de problemas e viver é enfrentá-los. É o que tento fazer. A vida é uma luta, e uma luta que deve ser vivida com paixão.