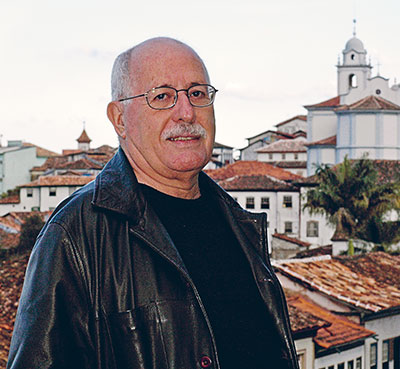
Vencedor da edição mais recente do Prêmio Machado de Assis, concedido pela Academia Brasileira de Letras, pelo conjunto da obra, Silviano Santiago acaba de lançar Aos sábados pela manhã(Editora Rocco, R$ 36,50). A obra reúne sua produção recente para a imprensa: são pequenos ensaios que trazem o olhar afiado do crítico atravessado pela maestria da escrita do ficcionista, analisando tanto a produção literária contemporânea quanto os clássicos modernistas. Nessa entrevista para o Pernambuco, o autor falou sobre sua visão em relação à crise atual vivida pelos cadernos de cultura, das questões valorativas do mercado editorial e de como ergueu seu sui generis método de análise.
Você acaba de reunir em livros uma série de artigos publicados em jornal (no caso O Estado de São Paulo) num momento em que o jornalismo cultural sofre uma grande crise, com o fim de suplementos e de diminuição da espaço para o debate literário. Estaríamos vivendo uma crise inteiramente nova em relação ao jornalismo cultural ou é mais uma crise, dentro das muitas vividas pelo formato? Como você observa hoje o jornalismo cultural?
Não usaria a palavra crise nem evolução e muito menos involução. Uso transformação. Talvez seja possível nomear os elementos responsáveis pela transformação, ou motivadores dela. Se bem lembro o antigo jornalismo literário, direi que ele sofreu dois importantes impactos quando duas palavras foram introduzidas nele. Dois conceitos. Refiro-me a “comportamento” e “tendência”. Comportamento data do aparecimento e domínio da cultura pop norte-americana no após-guerra. O pop descarta muito da cultura erudita europeia e se apoia nas conquistas sociopolíticas das micro-revoluções levadas a cabo pela massa universitária e pela massa jovem. Do lado do saber, as manifestações contra a guerra do Vietnã na Universidade de Berkeley e demais universidades americanas se somam aos acontecimentos de maio de 1968 no Quartier Latin. Do lado pequeno-burguês, o modo de vida entronizado por Elvis the Pelvis e o rock & roll. A noção de “tendência” é mais recente e tem a ver com a preocupação pela moda (fashion) como definidora do que seja o quente na atualidade. O direcionamento do jornalismo cultural pela tendência, pelos fashionistas, talvez date dos anos 1990, quando surgem as celebridades e seus seguidores. Comportamento e tendência criam núcleos bem sólidos dentro do campo geral das artes. Desde a ditadura militar o corpo do artista em risco de vida no palco do show ou do teatro é mais convincente que o corpo escrito do romancista ou do poeta na página de papel em branco. As artes coletivas e do espetáculo, as artes da imagem ganham e dominam o espaço jornal. Hoje, comportamento e tendência dão as mãos para indicarem que o atual e o futuro da arte pertencem à música, ao teatro, ao cinema e à televisão. São os meios artísticos e de comunicação de massa privilegiados pelo jornalismo cultural. O suplemento literário perde para o caderno dois (que nome tenha). Ultimamente, a literatura anda correndo atrás. A poesia se torna falada e os poetas sobem ao palco e leem poemas na telinha. Vinícius é poeta, Caetano e Chico o serão? Maria Betânia lê os poemas de Fernando Pessoa na última Feira Literária de Paraty. O romancista tem de ser midiático e, se não aparecer em talk show, ele e seu livro não existem. Mais recentemente, os escritores descobriram que o sucesso nacional não é suficiente (ou seja, o suplemento literário dos jornais brasileiros é insuficiente como cobertura das letras). Querem aparecer no New York Times, no Le Monde ou em El pais. Escrevia-se antes com vistas à adaptação cinematográfica ou teatral. Escreve-se hoje para ser traduzido. Que o diga a Feira (ou a Festa) de Frankfurt, tábua de salvação do livro.
O que lhe inquieta a ponto de escrever para um periódico de grande circulação? Qual o desafio desse formato?
Sempre escrevi para a imprensa diária e semanal. Sempre julguei importante dedicar parte do meu tempo, tanto na sala de aula quanto no jornal, ao trabalho dos companheiros de profissão. Nunca me furtei a exercer a crítica literária ou cultural. Também sempre atendi aos pedidos de entrevista. A convite de Zuenir Ventura, mantive coluna mensal no suplemento “Ideias”. Nem sempre reuni esse material em livro. A reunião em livro de trabalho jornalístico − talvez seja esta a novidade de Aos sábados, pela manhã. Peço-lhe, portanto, licença para endireitar sua pergunta: Por que decidi reunir em livro as colunas publicadas em jornal paulista? A razão é simples: pela primeira vez pude decidir sobre o que escrever (no passado, minha colaboração era produto de encomenda). Procurei, então, concentrar minha atenção nos “livros” (esta era a única regra e restrição imposta pelo jornal) que eu julgava que tinham uma nova e importante informação para o debate literário, artístico e cultural no Brasil do novo milênio. Minha coluna não é literária, no sentido estreito do termo. Tem a ambição de recobrir também parte da discussão sobre as artes do espetáculo. Foi por isso que pedi ao amigo Frederico Coelho que “ordenasse” as colunas. Não queria que fossem organizadas e entregues ao leitor pela ordem cronológica de publicação (seria precária e falsa). Queria que fossem contidas em núcleos. Trata-se, pois, de livro simples e de textos curtos, mas bem ambicioso na sua abrangência. Autores e livros, nacionais e estrangeiros, ficcionistas, poetas e críticos, artistas, historiadores da arte e filósofos, lá estão representados.
Há um ponto que enxergo em comum entre o material dos seus textos para o jornal, e o dos seus livros: o texto que oferece prazer ao leitor na leitura, o processo de transformar o exercício teórico em uma narrativa sedutora. Em que medida o ficcionista Silviano Santiago trafega pelo crítico Silviano Santiago?
Fico feliz por ter salientado o elemento comum que une minha escrita criativa à escrita crítica. Talvez isso provenha dos anos 1950. Tive a sorte de ter tido três grandes mestres na universidade (Rodrigues Lapa, José Carlos Lisboa e Damien Saunal), sem ter de passar pelo aprendizado sôfrego de novas teorias metodológicas de leitura. Não sou contra as teorias. Sou contra o aprendizado sôfrego e, evidentemente, claudicante, que embaraça e, às vezes, petrifica a expressão simples e feliz das (novas) ideias. Naquela década, em aula sobrava o exercício da “explication de texte”, feito com competência pelos três mestres. A explicação traz o respeito ao texto original e o desejo de expressar o apreendido na leitura de forma tão elegante e artística quanto a prosa ou a poesia lida. Repito: não vejo inconveniente nos tropeções que a teoria literária dá na sociologia, na psicanálise e na filosofia. No entanto, se convidado a esses tropeções na tenra idade, o jovem estudante e futuro crítico acaba se convencendo de que a análise e a apreciação do trabalho de arte se fazem sem ritmo subjetivo e com a perda do equilíbrio na construção do argumento.
Nos últimos anos, o gênero ensaio voltou a ser revalorizado, após passar um tempo visto pela academia como um gênero superficial, que não aprofundava as questões. No entanto, o ensaio foi sempre uma preferência do crítico Silviano Santiago. Por que você acha que está havendo um resgate da importância do ensaio? Seria, talvez, um pouco pelo desgaste de outras formas narrativas?
Quem sabe se não posso emendar esta resposta à anterior. O ensaio chega num momento de cansaço das grandes teorias de análise e de interpretação da obra de arte. O cansaço advém menos da importância da teoria e mais da necessidade de renovar a escrita crítica dita objetiva por demais domesticada pela razão em virtude de ter de obedecer a padrões formais e autoritários de reflexão. O ensaio – qualquer que seja a etimologia que se busque – tem a ver com a tentativa, com a experiência e com a audácia de trilhar caminhos desconhecidos. Perdem-se a objetividade e a precisão. Ganha-se o à vontade dos novos tempos em que a indignação é peça-chave. Há, no entanto, um perigo no ensaio jornalístico (chamemos assim a crônica cultural que hoje se encontra nos segundos cadernos): a intromissão excessiva de mera descrição do cotidiano do ensaísta. Ao querer ser lido por público mais amplo, o ensaísta tem-se apoiado menos no ensaismo clássico, que remonta a Montaigne, e mais no formato subjetivo e divertido da crônica tal como a escrevem Fernando Sabino ou Luiz Fernando Veríssimo. A força do entretenimento tem pouco a ver com a principal força do ensaio, a ironia, ainda que leve e descompromissada.
Um dos ensaios do seu livro tem como título “o novo cosmopolitismo literário”, ao falar de Bolaño. Ao ler esse título, a expressão “novo”, me levou a algumas questões, em se tratando da América Latina: no nosso caso, já teríamos superado o legado do Boom dos anos 1960 e no caso específico do Brasil, os debates do modernismo, em direção a um “novo” na literatura? Ou ainda estaríamos patinando em volta desses momentos históricos?
O adjetivo “novo” se refere menos a nova escola literária, refere-se mais ao substantivo que se lhe segue, “cosmopolitismo”. Sem dúvida, a literatura latino-americana (incluindo a brasileira) se alimenta menos da crise socioeconômica global e mais da emergência no cenário cultural planetário das respectivas e principais economias nacionais. Não é por casualidade que a Feira de Frankfurt se transformará em espaço mágico para os brasileiros. Romancistas e poetas preocupam-se menos com problemas relacionados à “formação identitária” do cidadão ou do Estado-nação. Preocupam-se mais com o modo de “inserção” dos produtos da cultura nacional, ou do subcontinente, no mundo globalizado. Não há mais por que descobrir o Brasil em plena Place Clichy. Você se lembra, não, do prefácio de Paulo Prado para a Poesia Pau-Brasil, de Oswald de Andrade? Não há mais por que descobrir a Colômbia, o Peru ou o México no escritório da agente Carmen Balcells em Barcelona. Este é o “velho” cosmopolitismo literário. No novo milênio, viajantes e cosmopolitas, como Roberto Bolaño, não recriam o Macondo natal, mas o fragmentam entre Europa, Estados Unidos e México. Dispersam-no em aventuras rocambolescas e detetivescas. No romance, 2666, analisado no livro, universitários de Paris, Madri, Turim e Londres saem em busca do Santo Graal que é a notável obra de Benno von Archimboldi, também estrangeiro, que os tinha enfeitiçado pela fascinante visão de México que apreende. Carismático e furtivo, Archimboldi que é, entre outros possíveis, mutação do romancista alemão B. Traven (1882-1969), de misteriosa e fascinante biografia mexicana e autor de O tesouro da Sierra Madre, filmado por John Huston em 1948. São esses os caminhos do “novo cosmopolitismo literário”.
Termino a entrevista refazendo a pergunta que é título de um dos seus ensaios, de “Para que escrever literatura”, eu lhe pergunto: “Para que escrever sobre literatura?”
É bom que o ventríloquo fale através da própria boca e também com a boca do boneco, a que ele dá voz. Com a sua voz, o ventríloquo constrói sua obra. Pela boca do boneco ele discorre sobre o que o “comoveu” e o “deleitou”, sobre o que lhe “foi ensinado” pelos outros – para retomar os três princípios da poética medieval. Não se escreve literatura sem escrever sobre literatura (ainda que só na folha de papel da imaginação crítica).