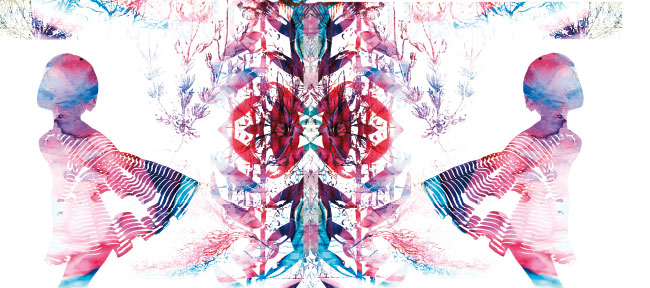
Foram dizer-meque a plantavam. Havia de nascer outra vez, igual a uma semente atirada àquele bocado muito guardado de terra. A morte das crianças é assim, disse a minha mãe. O meu pai, revoltado, achava que teria sido melhor haverem-na deitado à boca de deus. Quando começou a chover, as nossas pessoas arredadas para cada lado, ainda vi como ficou ali sozinho. Pensei que ele escavaria tudo de novo com as próprias mãos e andaria montanha acima até ao fosso medonho, carregando o corpo desligado da minha irmã.
Éramos gémeas. Crianças espelho. Tudo em meu redor se dividiu por metade com a morte.
Ao deitar-me, naquela noite, lentamente senti o formigueiro da terra na pele e o molhado alagando tudo. Comecei a ouvir o ruído em surdina dos passos das ovelhas. Assim o expliquei, assustada. Disseram-me que talvez a criança morta tivesse prosseguido no meu corpo. Prosseguia viva por qualquer forma. E eu acreditei candidamente que, de verdade, a plantaram para que germinasse de novo. Poderia ser que brotasse dali uma rara árvore para o nosso canto abandonado nos fiordes. Poderia ser que desse flor. Que desse fruto. A minha mãe, combalida e sempre enferma, tocou-me na mão e disse: tens duas almas para salvar ao céu. Assustei-me tanto quanto lhe tive ternura. A minha mãe não me perdoaria qualquer falha.
Achei que a minha irmã podia brotar numa árvore de músculos, com ramos de ossos a deitar flores de unhas. Milhares de unhas que talvez seguissem o pouco sol. Talvez crescessem como garras afiadas. Achei que a morte seria igual à imaginação, entre o encantado e o terrível, cheia de brilhos e susto, feita de ser ao acaso. Pensei que a morte era feita ao acaso. Deitava-me na cama, imaginava a terra no corpo, a água, os passos das ovelhas, nenhuma luz. Muito frio. Estava muito frio. Não me podia mexer. Os mortos não se encolhiam, não se aconchegavam melhor, ficavam tal como os tivessem deixado. E eu sabia que devia ter acautelado isso. Devia ter visto se levava um agasalho, se estava puxado até ao pescoço, se lhe puseram almofadas ou haveria aquilo de ser apenas um tecido nas tábuas duras.Depois, ganhava certeza de que a minha irmã fora deitada à terra como um resto qualquer.
As pessoas já chamavam àquele bocado de chão a criança plantada. Diziam assim. A criança plantada. Também parecia uma chacota porque o tempo passava e não germinava nada, não germinava ninguém. Era um plantio ridículo. Uma coisa para consolar a cabeça aflita da família. Não servia para tarefa alguma. E perguntavam-me: é verdade que os gémeos ficam de duas almas. Como se eu estivesse a sentir-me gorda ou pesada, como se tivesse mudança no corpo ou na luz dos olhos que evidenciasse a obrigação de fazer a minha irmã viver. Estás de fantasma dentro, afirmava o Einar.
Eu era sempre magra. Apenas um esboço de gente. Quase não existia. Não me via gorda de aquisição nenhuma e mal encontrava lugar para a alma que até então me competira. A minha irmã gostava de doces e eu odiava. Talvez as pessoas se esforçassem por me convencer a comer doces para consolar a alma dela. Talvez pudesse passar a gostar de snudurs, se a Sigridur estivesse verdadeiramente posta dentro de mim. Quando experimentei, igualmente odiei, e a ausência da minha irmã apenas aumentava. Eu dizia que o açúcar me vinha como sangue à língua.
Só por antecipação eu poderia sentir a terra e a água. Durante um tempo, percebi, a caixa em que a trancaram ia protegê-la, limpa, antes que se misturasse tudo, podre, a desaparecer. Ainda assim, deitava-me com a morte. Chegava a colocar as mãos ao peito como fizeram com a Sigridur, muito hirta, quieta, e imaginava coisas ao invés de adormecer. Imaginar era como morrer.
Ao fim de umas noites, senti um bicho a picar-me. Um bicho dentado que claramente devorava um lugar no meu corpo. Apavorada, levantei-me. Estava o lume brando, a casa esfriando. Não lhe mexi. Olhei apenas como quem esperava nascer o sol de uma chama qualquer. Podia ser que se fizesse o dia a partir de uma fogueira pequena que fosse mais amiga do sol ou soubesse subitamente voar.
Pensei que queria ver uma pequena fogueira a voar. Quando o meu pai se levantou, foi o que lhe confessei. Eu sabia que os bichos haveriam de devorar o corpo da Sigridur. Se ela tivesse de ser uma semente, se esperasse germinar, não o conseguiria enquanto os bichos lhe devorassem os aumentos.Ou poderia acontecer-lhe igual àquelas árvores pequenas do Japão. Árvores que queriam crescer mas que alguém mutilava para ficarem raquíticas, apenas graciosas, humilhadas na sua grandeza perdida. O meu pai, que era um nervoso sonhador, abraçou-me brevemente e sorriu. Um sorriso silencioso, o modo de revelar ser tão imprestável quanto eu para o exagero da morte. Comecei a sentir-me violentamente só. Os bichos, apressados e cheios de estratégias, mastigavam a Sigridur para que se mantivesse uma semente fechada, impedindo que crescesse até ver-se acima da terra, a chegar aos nossos olhos, fazendo algum sopro no vento, espiando ela própria o mar. Devoravam-na para que a pele se mantivesse infértil, apenas secando de podre como o tubarão no barracão grande. A criança plantada não podia voltar, pensava eu em terror. A terra estava infestada de seres matadores, invejosos, gulosos da felicidade dos outros. Comem-lhe a felicidade. Pensei que a minha irmã apenas morria mais e mais a cada instante. Era uma criança bonsai. Explicou-me o meu pai. Aquelas árvores, disse eu. Bonsais, respondeu ele. Fazem jardins raquíticos. Como se os japoneses preferissem que as coisas do mundo fossem diminutas. Coisas anãs. Ou, então, era para terem os homens a propriedade dos pássaros. Concordei. Haveriam de circular entre as árvores pequenas com a impressão dos pássaros a voar.
Gostava que pudesse aparar o meu corpo também. Ficar eternamente criança por vontade, nem que desse muito trabalho. Ser sempre assim, igual ao que fora a minha irmã. O único modo de continuarmos gémeas. Sabes, pai, se eu crescer e não crescer a Sigridur vamos ficar desconhecidas. Faz de mim um bonsai. Peço-te. Corta o meu corpo, impede-o de mudar. Bate-lhe, assusta-o, obriga-o a não ser uma coisa senão a imagem cristalizada da minha irmã. Vou passar a andar encolhida, dormir apertada, comer menos. Vou sonhar tudo o mesmo ou sonhar menos. Querer o mesmo a vida inteira ou querer menos. Querer o que queria ela. Se os bichos na terra não a deixam ser maior, se é verdade que a levam por inteiro, que fique ao menos eu, pelas duas, a ser igual, para não morrermos. No mínimo, devíamos ter enterrado muitas flores com ela. Que florissem. Porque não pode ver senão bichos e terra suja. Não colhemos flores, fomos muito egoístas. Havia tantas na charneca. Algumas cheiravam bem.
Nos meus sonhos imaginava jardins de crianças. As árvores baixas dos corpos, falando, brincando com os braços e os pássaros pousando entre as folhas. Os braços deitavam folhas e seguravam ninhos nas mãos e as crianças eram sempre pequenas, animadas de ingenuidade, gratas pela vida sem saberem outra coisa que não a vida. E sonhava que as pessoas japonesas vinham ao jardim contemplar, e deitavam água de regadores coloridos que lavavam os pés-raízes das crianças bonsai. E só de noite, quando bem escuro, alguém vinha com as facas para laminar as partes dos corpos que se alongavam. Laminavam cuidadosamente, todas as noites, para que não deformassem as crianças, para que avelhassem sem se notar. Incapazes de mostrar a idade. Apenas livres para usarem a idade na manutenção eufórica da infância. Sofreriam os cortes caladas. Conscientes da maravilha que aquela dor lhes trazia.
A ver a imensidão dos fiordes, as montanhas de pedra cortadas por rigor, o movimento nenhum, achei que o mundo mostrava a beleza mas só sabia produzir o horror. As nossas pessoas sobravam ali em duas dezenas de casas habitadas, contando com a igreja e o minúsculo quarto de dormir do insuportável Einar. Não havia mais miúdos. Era tudo velho. A gente, os sonhos, os medos e as montanhas.
Podia ser que eu estivesse ainda mais magra por ter ficado vazia dos poucos gramas que pesava a alma. A minha mãe chamava-me estúpida. Perguntei-lhe que sentido encontrava na vida. O que andaríamos ali a tentar descobrir. Mas ela nuncao saberia. Surpreendeu-se com a profundidade da questão. Foi um modo instintivo que tive de a magoar, para que não me ofendesse com a sua contínua e impensada rejeição. Magoávamo-nos, acreditava eu, sempre por causa da ternura. Como que a reclamá-la enquanto a perdíamos de vez.
Mais tarde, ouvia-a alertar o meu pai. Em alguns casos de morte entre gémeos o sobrevivo vai morrendo num certo suicídio. Desiste de cada gesto. Quer morrer. Dizia ela.
Quando percebi que estávamos sozinhos, descansei o meu pai. Não queria morrer. Estava entre matar e morrer, mas não queria uma coisa nem outra. Queria ficar quieta.
Repeti: a morte é um exagero. Leva demasiado. Deixa muito pouco.
Começaram a dizer as irmãs mortas. A mais morta e a menos morta. Obrigada a andar cheia de almas, eu era um fantasma. O Einar tinha razão. As nossas pessoas olhavam-me sem saber se viraria santa ou demónio. Os santos aparecem, os demónios assombram.
* Trecho do romance A desumanização (Cosac Naify)