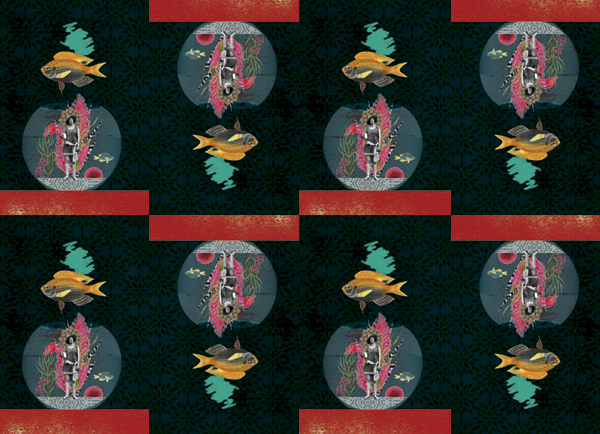
Quando Emily Dickinson morreu, tinha deixado 1800 poemas, dos quais apenas uns 10 haviam sido publicados. Todos os outros tinham como plateia talvez aquelas aranhas magricelas de gaveta, e seus originais só foram impressos 69 anos depois de sua morte.
Há quem diga que Emily não foi publicada porque não queria – era reclusa, tímida e, dizem até que sofria de epilepsia, o que não a encorajava a tentar uma maior exposição de seu trabalho e, consequentemente, da sua pessoa. O que nem todo mundo sabe é que, desses 1800 poemas encontrados depois de sua morte, cerca de 800 deles estavam organizados em 40 livros manuscritos, copiados, bem bonitinhos, ordenados e paginados, numa clara amostra de que havia, sim, um desejo de comunicação com o outro, com o mundo. Não somente o desejo da comunicação estava ali, mas a ideia de “obra”.
Silvya Plath, antes de enfiar a cabeça no forno, deixou um manuscrito de Ariel também copiado, paginado, na ordem que queria ver seu livro existir, que foi violado por Ted Hughes (vou me abster de analisar suas razões; eu não tenho nada que ver com isso). Mas independentemente disso, a consciência de um body of work de comunicação (ou seja, o desejo de ser lida) também estava ali, clara como o dia.
Não se pode comparar impunemente a trajetória dessas duas norte-americanas, uma vez que a primeira passou a vida no anonimato, enquanto Plath tinha consciência da sua persona pública. O que as une é o nosso fetiche em torno da obra póstuma da autora obscura, atormentada. Por que danados somos tão mórbidos? Por que somos incapazes de olhar para as autoras contemporâneas enquanto elas ainda respiram?
Se olharmos para a lista de prêmios Nobel, entenderemos um pouco do desinteresse do mercado editorial – e do público: dentre os 111 autores premiados, apenas 13 mulheres foram agraciadas. Na cena brasileira, também não muda muito: em 2014, a Flip convidou 47 escritores, dos quais apenas 9 eram mulheres – não chegam a ser 20% da programação. Na época, quando postei um esculacho no Facebook a respeito, fui obrigada a ouvir um “já foi pior”. E o mais triste é que, sim, já foi pior, mas a melhora é tão insignificante, que mal pode se chamar “melhora”: em 2012, em artigo publicado pelo poeta Ricardo Domeneck para o site da Deutsche Welle, ele aponta que, naquele ano, “foram apenas 7 mulheres entre 44 poetas e prosadores, se contarmos entre elas o cartunista Laerte Coutinho. Formam, assim, 15,9% dos escritores do evento. Sem Laerte, são 13,6%”. Parabéns, mas tá ó, uma bosta.
No caso pernambucano, fica ainda mais triste: nas duas edições do Prêmio Pernambuco de Literatura, nenhum dos nove premiados foram mulheres. A Mostra Sesc de Literatura Contemporânea de 2014 não contava com nenhuma mulher. Depois melhorou um pouquinho, com o festival A Letra e a Voz, trazendo 14 convidados, dos quais 5 eram mulheres, ou seja, 35%. Mas não podemos parar. Deixo aqui meu desejo de ver o índice subir para 40% e torço para que assim seja. Não apenas pelo ativismo, não apenas porque é assim que era para ser, mas pelo desejo de ver a vida (e não somente a literatura) sendo discutida por outras perspectivas, não somente a do homem. Veja lá, autoras não faltam – não, não faltam –, então, por que estarmos tão mal representadas no mercado editorial é apenas um reflexo de um mundo desigual, só que a literatura – a arte – tem o dever de questionar exatamente esses desequilíbrios.
Eu fico numa situação meio complicada de advogar pela causa, porque também sou escritora. Sempre tem quem diga (nunca na minha cara, infelizmente) que eu só reclamo dos 19% da Flippor não fazer parte deles. Ora, não consigo imaginar o que uma coisa tenha a ver com a outra, mas tem quem veja. Quando reclamo da participação das autoras no cenário nacional, não estou lutando pelo meu direito de estar lá: estou lutando pelo meu direito de ler, ouvir e ver minhas autoras preferidas ou de poder conhecer novas autoras, vivas, sendo debatidas, citadas em listas, sendo consideradas pelos professores de escolas e universidades como parte da bibliografia. Enfim, sendo vistas.
Me recuso a aceitar que corremos o risco de fazer com outras autoras o que fizemos com nossas duas Hildas: a Hilst e a Machado. Cada uma no seu caso – Hilst publicada, mas pouco lida, sem nunca ter recebido, em vida o reconhecimento que merecia por uma obra larger than life. E Machado, cineasta e poeta secreta, cuja poesia começa devagarzinho a ganhar atenção graças aos esforços de Carlito Azevedo e Ricardo Domeneck.
Com esta frase, Hilda (a Hilst) tenta explicar, numa entrevista já quase no fim da vida, porque sua obra permanece na obscuridade : “Eles acham que é complicadíssima, que ninguém vai conseguir ler”.
Ela, com esses dizeres, sequer poderia imaginar que 40 anos depois haveria aquele projeto de “facilizar” os clássicos. O que diria essa taurina, se tivesse vivido o bastante para ver isso acontecer? O que diria Hilda, se soubesse que hoje haveria a possibilidade de eliminar os atravessadores, tivesse ela criado seu próprio blog? (Fico arrepiada só de imaginá-la sentadinha de manhã, com seu vinho do porto – de manhã, só tomava vinho do porto, uísque era para a noite –, escrevendo diretamente da Casa do Sol para mim, para o mundo).
Hoje, temos ao menos a sorte de poder usar a internet para publicar nossas coisas, não precisamos mais esperar por um atravessador. Só que essa mudança se revela apenas no modus operandi do autor. Porque, pro forma, os caminhos para o reconhecimento ainda são os mesmos de séculos atrás: ser publicado em papel, ser traduzido, ganhar prêmios, ser convidado para os festivais. Não adianta ser lido – Hilda Hilst era lida – tem que fazer parte do mise-en-scène. E, se tiver sorte, nascer homem.
Claro que não é privilegio feminino se manter na obscuridade e ser descoberto depois da morte. Acontece também com homens. O exemplo que no momento mais comove é o de Sandor Marai, que estourou os miolos aos 80 anos, depois de décadas lutando para ser lido – uma obra que certamente merecia o debate e o reconhecimento enquanto seu autor ainda estava entre nós. Nunca demos a Marai o que ele merecia, e ele se matou velhinho e com o coração partido. Eu não posso evitar e fazer a pergunta mais ingênua de todas: por que, meu Deus?
Que se fodam as gavetas, o fetiche da reclusão, eu quero ler as autoras vivas. E eu quero ser lida agora, enquanto ainda posso dizer o que tenho a dizer, enquanto ainda posso ser esculhambada, ou amada, até, quem sabe.
Se Emily tivesse vivido em 1999, sua gaveta provavelmente se chamaria “blog” e talvez, quem sabe, teríamos tido a chance de experimentar, afinal, um novo fetiche: o fetiche da autora viva.
Confira a segunda matéria de inéditos: Uma antiefeméride para Campos de Carvalho