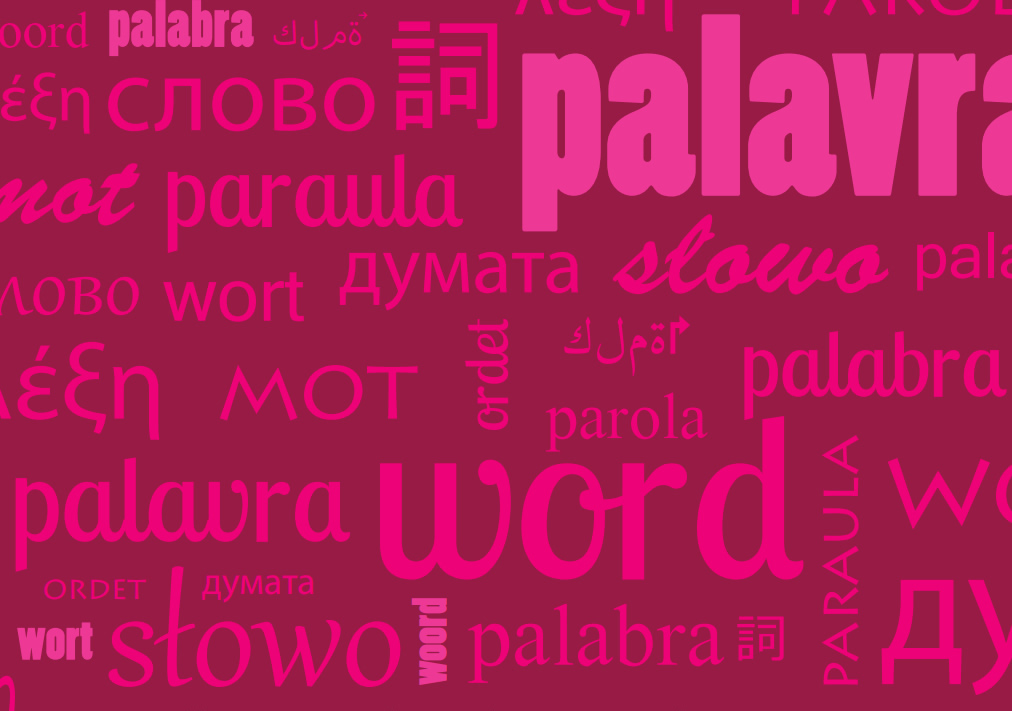
Não creio na existência de uma “sociedade global”, unidade sociológica homóloga às sociedades nacionais na qual o processo de integração das partes se faria de maneira coerente e ordenada. Ou seja, uma metassociedade englobando todas as outras. O espaço transnacional não é da mesma natureza dos espaços nacionais. A metáfora da sociedade global nos ilude nesse sentido (por exemplo, muitos afirmam a existência de um espaço público transnacional como se ele fosse homólogo ao espaço público nacional). Tampouco acredito que as sociedades sejam sistêmicas, e afirmar a presença de um world system parece-me problemático. Prefiro dizer que o processo de globalização define uma nova situação. Uma situação é uma totalidade no interior da qual as partes que a constituem são permeadas por um elemento comum. No caso da globalização, essa dimensão penetra e articula as diversas partes dessa totalidade. Colocar a problemática nesses termos nos permite evitar um falso problema – a oposição entre homogêneo e heterogêneo –, levando-nos a pensar simultaneamente o comum e o diverso.
Outro aspecto deve ser ainda ressaltado. Do ponto de vista conceitual, ao operar com a ideia de situação, consigo evitar um tipo de dicotomia comum no debate atual. Refiro-me aos pares de oposição: moderno/pós-moderno, tradição/modernidade, velho/novo, passado/presente. Normalmente, cada um desses termos é visto como uma unidade antitética, como se entre eles existisse uma incongruência insuperável. Creio ser uma perspectiva equivocada, cuja lógica excludente percebe a história de forma linear. A situação de globalização caracteriza-se pela emergência do novo e pela redefinição do “velho”; ambos encontram-se inseridos no mesmo contexto, no qual diversas temporalidades se entrecruzam. Não é, pois, necessário opor tradição a modernidade, local a global. Importa qualificar de que tipo de tradição estamos falando (a tradição da modernidade ou a dos inúmeros grupos indígenas?) e pensá-la em suas formas de articulação à modernidade-mundo. Da mesma maneira, o local e o nacional não devem ser considerados como dimensões em vias de desaparecimento; trata-se de entender como esses níveis são redefinidos. Na situação de globalização coexiste um conjunto diferenciado de unidades sociais: nações, regiões, tradições, civilizações. Nesse sentido, embora integrado num mercado global, interconectado por tecnologias de comunicação, o mundo nada tem de homogêneo.
Esse é o contexto no qual se deve problematizar o universal e a diversidade. Um primeiro aspecto merece ser sublinhado: uma mudança do humor dos tempos. Gostaria de marcar tal inflexão com um exemplo: a busca pela língua universal. Durante séculos, no mundo ocidental, essa aventura dominou a imaginação teórica de diversos autores, da Idade Média ao Iluminismo, da Revolução Francesa à construção dos idiomas artificiais. No início, a questão se resumia a conhecer qual era a língua falada no Paraíso. Seria o hebreu antigo? Como Deus havia conferido, entre tantos animais, apenas ao homem a capacidade da fala, não havia dúvida de que todas as línguas teriam se originado desse idioma primevo. Haveria uma transparência na comunicação entre os homens, inexistindo, entre eles, a incompreensão. Babel, que significa confusão em hebreu, rompe esse equilíbrio, e o estado paradisíaco de paz cede lugar à separação dos povos. A imagem da torre incompleta, em ruínas, quase tocando as nuvens, simboliza a discórdia daqueles que antes partilhavam a mesma linguagem e os mesmos objetivos. A confusão das línguas decorre da intervenção divina – alguns intérpretes a consideram uma punição (outros não), mas ela é um ato da vontade divina. O episódio significa uma queda, e a passagem do uno para o diverso é um retrocesso, uma decadência. Nos séculos 16 e 17, a ideia do mito adâmico se enfraquece, desconfia-se da existência desse idioma fonte de todos os outros; mas os filósofos estão convencidos da possibilidade de se inventar uma língua universal capaz de retratar a realidade tal como ela é, sem a distorção que as línguas vulgares infligiam ao pensamento.
São assim construídos diferentes sistemas de linguagem, cuja vocação seria a universalidade (Dalgarno, Wilkins, Lodwick, Leibniz). No século 18, a ideia de língua filosófica inspira-se nos mesmos ideais, alimentando o debate entre os filósofos e se expressando na obra máxima da época, L’encyclopédie (A enciclopédia). Essa corrente de pensamento irá se desdobrar no século 19 com a invenção das línguas artificiais: volapuque (1879), esperanto (1887) e muitas outras: spokil, spelin, mundolíngua, neutral. Todas almejam eliminar o “flagelo da diversidade”. O ocaso do plurilinguismo coincidiria com o reencontro e a concórdia entre os homens. Pode-se dizer que até meados do século 20 o interesse pela existência de uma interlíngua, artificialmente criada para comunicação internacional, manteve-se aceso por certa militância linguística.
O quadro linguístico muda radicalmente no século 21, quando o otimismo em torno do monolinguismo passa a ser visto com desconfiança. A situação de globalização acrescenta ainda um novo elemento: a hegemonia do inglês. Surge uma nova hierarquia no mercado de bens linguísticos, na qual uma língua subjuga todas as outras. Como pondera De Swaan, o sistema mundial das línguas é um todo no qual elas estão articuladas a um núcleo central, e o inglês é o centro desse espaço de poder. Nesse contexto, a busca da língua universal se desfaz e a suposta concórdia entre os homens cede lugar a um sentimento profundo de dominação. Por outro lado, inúmeros estudos se interessam pelas línguas minoritárias. Contrariamente aos ideais da unicidade, sublinha-se a existência dos idiomas “em risco”, “em perigo”, “em sério perigo”, “moribundos”, “ameaçados”. Por exemplo, o Atlas of the world’s languages in danger of disappearing (Atlas das línguas do mundo em perigo de desaparecer), elaborado pela Unesco, revela a agonia lenta das falas dos pequenos grupos dispersos na face da Terra. A perda de prestígio, a necessidade de adaptação à convivência com os idiomas mais fortes, a diminuição do número de falantes, as exigências da modernização, os deslocamentos migratórios, tudo conspira contra sua existência. A história bíblica condenava a profusão das línguas, que seria o testemunho da decadência original. Ao hipertrofiar o uno, a diversidade inevitavelmente conduziria à imperfeição. A mudança do contexto modifica os termos do debate, e tem-se a impressão que ele toma uma direção diametralmente oposta. Consideremos os argumentos apresentados por Sthepen Wurm em sua defesa das línguas minoritárias:
Toda língua reflete uma cosmovisão e uma cultura única e mostra como uma comunidade linguística resolveu seus problemas de relacionamento com o mundo, formulou seu pensamento, sua filosofia e sistema de conhecimento do universo que a rodeia. Cada idioma é o meio pelo qual se expressa o patrimônio imaterial de um povo, e que ainda segue exprimindo durante certo tempo, depois que o impacto de uma cultura diferente, intrusa e poderosa, geralmente metropolitana, tenha provocado a decadência e o declínio da cultura implícita em si mesma. Por isso, com a morte e a extinção de uma língua se perde para sempre a unidade insubstituível de nosso conhecimento, da cosmovisão e do pensamento humano.
Há uma inversão das expectativas. O diverso é inteiramente ressignificado, de maldição transmuta-se em riqueza, patrimônio. Cada idioma, em sua modalidade, é um universo irredutível aos outros, e sua morte seria uma perda inestimável para o conjunto das visões de mundo dos diferentes povos. Alguns autores fazem, inclusive, um paralelo, equivocado, entre a preservação das línguas e a biodiversidade biológica. Nos dois casos teríamos uma ameaça de extinção. As noções de confusão e incompreensão, intrínsecas à polêmica anterior, são então substituídas por outras, que agora prezam o diverso e o plural. O monolinguismo deixa de ser uma virtude para se tornar um pesadelo, e o mito de Babel é reinterpretado enquanto positividade. Suas deficiências anteriores caracterizam sua força e sua exemplaridade. Diversidade significa riqueza, abertura para mundos distintos.
Uma maneira de se reagir a essa mudança de humor é considerar suspeita toda discussão sobre os “particularismos”. Dentro dessa perspectiva eles são percebidos como uma ameaça ao universal, um desvio identitário. Outra possibilidade, sua antípoda, seria abraçar a ideia de “fim” do universal, tema explorado pela literatura pós-moderna. Lyotard, em seu clássico livro O pós-moderno, dizia que os grandes relatos tinham perdido toda credibilidade, sendo incapazes de legitimar as formas de interpretação do mundo. Particularmente, as propostas que tinham “a humanidade como herói da liberdade” ou a ciência como “formação moral e intelectual da nação” teriam entrado em colapso. Na sociedade pós-industrial restaria aos pequenos relatos o papel de ressignificar as formas de compreensão do mundo. As diferenças neles contidas tenderiam a se sobrepor às narrativas totalizadoras. Em parte, Lyotard tem razão. Alguns relatos certamente perdem força. Entretanto, alguns não significam todos. Pelo contrário, é possível reconhecer na situação de globalização, na qual as certezas pós-modernas são debilitadas, a emergência de relatos totalizadores e a reatualização de antigas narrativas que pareciam ultrapassadas. Por exemplo, as religiões universais. Devido à sua vocação transnacional, elas podem atuar de maneira mais abrangente, desvencilhando-se do constrangimento das forças locais e nacionais. Ao se definirem como algo para “além das fronteiras”, elas exploram sua dimensão universalista, projetando-se para fora dos limites reconhecidos. Se o estado-nação encontra dificuldades em se afirmar num espaço mundializado, elas tiram proveito de suas potencialidades. Tais religiões agregam pessoas em escala ampliada e criam laços sociais enquanto linguagem, ideologia, concepção de mundo. Dispersos, mas extensivos a grandes áreas territoriais, os universos religiosos exprimem uma memória coletiva e coordenam as ações dos fiéis. Dispondo agora de meios de comunicação mais eficazes (canais de televisão, DVDs, correio eletrônico, internet) eles tecem os fios de uma “solidariedade orgânica” de alcance mundial.
A historicidade das diferenças exige também que elas sejam qualificadas. Um primeiro aspecto diz respeito à sua não equivalência. Dito de outra maneira, elas são diferentes entre si. Existem agrupamentos indígenas, civilizações, países, nações, classes sociais etc. Os grupos indígenas nada têm de semelhantes, eles vivem situações díspares em função de suas histórias particulares. Por exemplo, no Brasil, tradicionalmente os antropólogos os classificam segundo as formas de contato com a sociedade nacional. Ao lado dos grupos isolados, refratários e distantes do modo de vida moderno, existem aqueles cuja relação é intermitente, interagem ocasionalmente com os brancos. Outra categoria refere-se aos que possuem um contato permanente com a sociedade envolvente, embora não tenham uma participação maior na vida nacional. Por fim, os integrados fazem parte do sistema econômico, utilizam tecnologia moderna, mas mantêm vivas muitas de suas tradições e identificam-se com uma etnia particular. Por isso, como a população indígena é reduzida, a luta pela defesa da terra é crucial. A autonomia cultural e social somente poderia ser preservada em enclaves geográficos específicos. O quadro é bastante distinto em outros países da América Latina, principalmente naqueles nos quais os segmentos populacionais indígenas são majoritários. A noção de contato, cara à etnografia brasileira, nesses casos, não faz nenhum sentido. Ela se aplica a uma situação específica na qual os grupos minoritários (regidos por um estatuto constitucional específico, diferente dos outros cidadãos brasileiros) encontram-se tolhidos da sociedade nacional. Na Bolívia, no Paraguai e no Peru, os setores indígenas encontram-se subalternamente integrados à nação, os conflitos étnicos e de classe são internos à própria sociedade. É o caso do idioma guarani: falado por grande parte da população paraguaia, ele vive uma situação de diglossia em relação ao espanhol. Ou do quéchua e do aimará na Bolívia, idiomas de parte considerável dos habitantes. Por isso, as reivindicações políticas são de outra natureza, sendo importante ter maior participação na vida pública. A diversidade das nações é também patente, dos países que conheceram a Revolução Industrial no século 19 aos que se emanciparam do jugo colonial em meados do século 20. Cada nação possui uma história própria, seus conflitos, seus mitos. A diversidade manifesta-se, também, na esfera do mercado. Os produtos são orientados para camadas de consumidores, penetram determinados nichos, promovem estilos de vida idiossincráticos. Longe de ser homogêneo como pensavam os teóricos da comunicação de massa, o mercado é atravessado pela segmentação dos gostos.
Trecho do livro Universalismo e diversidade: contradições da modernidade-mundo, lançamento da Boitempo Editorial este mês. O sociólogo Renato Ortiz propõe nele um debate sobre a modernidade e as novas fronteiras que ela traz consigo. A obra também tem capítulos sobre diversidade e relativismo cultural.